CAOS NOS TELEPÚLPITOS DA PLUTOCRACIA
Um (hiper)texto da série #CinephiliaCompulsiva
por Eduardo Carli de Moraes
Eu diria que há filmes-bumerangue: você pode até lançá-los com força pra longe, mas eles voam de volta e impõem sua presença. Muitos filmes já foram feitos sobre o tema da mídia-de-massas e da indústria cultural nos EUA – no Olimpo deste cinéfilo estão A Montanha dos Sete Abutres e Crepúsculo dos Deuses (de Billy Wilder), Todos os Homens do Presidente (Alan J. Pakula), O Jogador (de Robert Altman), Barton Fink (dos irmãos Coen), O Show de Truman (de Peter Weir), Cidade dos Sonhos (de David Lynch), Nightcrawler (de Dan Gilroy), dentre outros – porém talvez não haja nenhum mais impactante, mais furibundo, mais arrebatador que Network (1976), um magnum opus na filmografia do Sidney Lumet.
Sua relevância bumerânguica impõe-se no presente apesar dos 40 anos já transcorridos desde seu lançamento. Como lê-se na capa do BluRay que ajuda a re-consagrá-lo junto à nova geração, Network – cognome no Brasil: Rede de Intrigas – ainda é um filme louco e endiabrado (still mad as hell).

Este filme, além de formidável obra de arte, é uma intervenção no debate público, uma provocação sociológica, uma sátira mordaz da Sociedade do Espetáculo (teorizada por Debords e McLuhans). Lumet revela, na prática, o potencial da chamada “sétima arte” para transcender a oposição entre entrenimento vs grande arte, já que cria um filme que vai muito além de ser um mero objeto estético, sendo também uma espécie de dispositivo de reflexão sobre a sociedade, fornecendo uma espécie de análise civilizacional de conjuntura.
O que Adorno e Horkheimer fizeram através de livros como A Dialética do Esclarecimento, que contêm duras críticas à Indústria Cultural capitalista, Sidney Lumet realiza no âmbito cinematográfico, criando um filme quintessencial como objeto de estudos multidisciplinar: os historiadores e os sociólogos, os filósofos e os antropólogos, os que estudam comunicação social e ciências da informação, tem muito alimento-pro-pensamento (food for thought) na saga de Howard Beale, protagonista de Network.

Beale foi interpretado por Peter Finch, vencedor do Oscar de melhor ator por este papel. Curiosidade: o ator não viveu para pôr mãos em sua estatueta dourada: “o prêmio para Peter foi póstumo já que o ator morreu vítima de um ataque cardíaco, um mês antes da festa de entrega do Oscar.” (Wiki) Para muitos cinéfilos, o auge da carreira artística de Peter Finch foi mesmo sua memorável encarnação de Howard Beale, apresentador de telejornal, já calejado neste métier e beirando a aposentadoria, que vê seu Ibope despencar feito um elevador em queda-livre.
Beatle, deprimido, pensa no suicídio, e nestes fundos-de-poço desperta um eureka!: “vou me suicidar na frente das câmeras, ao vivo!” Matar-se em algum quartinho trancado, na obscuridade e no anonimato, não lhe anima: a morte sem fama não lhe motiva, ele quer algum suicídio espetaculoso, algo de bombástico, que dê o que falar.
O plano pode parecer mirabolante e inverossímil – onde já se viu um âncora de TV dar um tiro no cérebro em pleno jornal nacional? – mas aconteceu de fato, em 1974, dois anos antes de Network vir à luz: na Florida (EUA), a jornalista Christine Chubbuck, aos 29 anos de idade, do Canal 40, deu um tiro na sua própria nuca, ao vivo na telinha. Foi o primeiro suicídio-televisado na história da TV nos EUA e o caso voltou recentemente à tona por dois filmes que lhe foram devotados (um ficção, outro documentário):

Uma imagem perturbadora foi ao ar, ao vivo, nas TVs de Sarasota, Flórida (EUA), na manhã de 15 de julho de 1974. “Para dar continuidade à política do Canal 40 de trazer a vocês as últimas notícias sobre sangue e miolos, vocês verão outro primor: uma tentativa de suicídio”. A jornalista de 29 anos Christine Chubbuck pronunciou essas palavras ao vivo durante seu programa dominical, para então disparar um tiro atrás da orelha. Ela morreu horas depois em um hospital local. O primeiro suicídio ao vivo da TV americana gerou comoção nacional. Quarenta anos depois, a história trágica de Chubbuck volta à tela com o filme Christine, protagonizado pela atriz inglesa Rebecca Hall, e do documentário Kate Plays Christine, ambos inspirados no perfil psicológico da jornalista. – BBC BRASIL – 29/01/2016 (Saiba mais: Indepedent – La Prensa)
A radicalidade do ato de Christine Chubbuck é explícita: ela chegou até mesmo a satirizar seu suicídio ao declará-lo como “algo ao gosto do patrão”, já que o dono da cadeia de TV adorava pôr no ar “sangue e entranhas”. Essa radicalidade é algo que também marca o caráter de Howard Beale no filme de Lumet: uma espécie de crise nervosa (nervous breakdown) conduz Beale a uma série de rupturas com o comportamento costumeiro de um jornalista.
 A máscara de neutralidade escorrega de sua face. Os bons-modos de engravatado ordeiro entram em tilt. Sua raiva, seu desespero, sua angústia, extravasam de seus limites e ele perde a polidez: começa a ser, na TV, um praticante da catarse, pública e televisionada.
A máscara de neutralidade escorrega de sua face. Os bons-modos de engravatado ordeiro entram em tilt. Sua raiva, seu desespero, sua angústia, extravasam de seus limites e ele perde a polidez: começa a ser, na TV, um praticante da catarse, pública e televisionada.
E bem sabemos – por exemplo desde o movimento punk e até a explosão grunge capitaneada por Kurt Cobain – que a catharsis nos mass media pode ser pop. Pode ser uma bomba no Ibope. O convite à catarse é amplamente respondido pelo público de Beale: na cidade começam a pulular os berros de cidadãos que, instigados por Beale na TV, gritam janelas afora, para o bairro inteiro ouvir, o bordão: “I’M MAD AS HElL AND I’M NOT GONNA TAKE IT ANYMORE!”
Beale, muito antes de Fight Club, já foi uma espécie de Tyler Durden, cometendo na TV algumas punkices (apesar da idade avançada…). Eu não me surpreenderia se descobrisse que a canção do Hüsker Dü, “Turn On The News” (Zen Arcade, 1984), teve alguma influência da rage que manifesta Beale em Network – o pathos é bem parecido…
“I hear it every day on the radio:
Somebody shoots a guy he don’t even know,
Airplanes falling out of the sky,
A baby is born and another one dies,
Highways fill with refugees,
Doctors finding out about disease,
With all this uptight pushing and shoving,
That keeps us away from who we’re loving…
So turn on, turn on, turn on… the news!”
HÜSKER DÜ
 A diretora de programação da UBS, em Network, vivida por Faye Dunaway (que também venceu o Oscar por este papel), logo percebe o potencial daqueles surtos catárticos que fizeram a audiência subir tão significativamente. Os setores mais conservadores logo se mobilizam para demitir Beale, calá-lo como quem amordaça um louco perigoso, mas ela não: ela defende que na TV haja mais contra-cultura, mais conteúdos anti-establishment, e inaugura inclusive o programa A Hora de Mao Tsé-Tung, onde pretende documentar as atividades de guerrilhas armadas e coletivos revolucionários (nos moldes do Weather Underground) nos EUA.
A diretora de programação da UBS, em Network, vivida por Faye Dunaway (que também venceu o Oscar por este papel), logo percebe o potencial daqueles surtos catárticos que fizeram a audiência subir tão significativamente. Os setores mais conservadores logo se mobilizam para demitir Beale, calá-lo como quem amordaça um louco perigoso, mas ela não: ela defende que na TV haja mais contra-cultura, mais conteúdos anti-establishment, e inaugura inclusive o programa A Hora de Mao Tsé-Tung, onde pretende documentar as atividades de guerrilhas armadas e coletivos revolucionários (nos moldes do Weather Underground) nos EUA.
Em uma era de tensões sociais exacerbadas no país, que vivia em 1975 o vigésimo e derradeiro ano da Guerra do Vietnã (1955-1975), está representada em Network a emergência de movimentos sociais fortes, que a mídia corporativa não pode ignorar e omitir, com destaque para o poderio dos negros afrodescendentes que organizaram partidos (como o Black Panther Party – Panteras Negras) e que guiam-se pelas cartilhas de líderes como Malcolm X ou Martin Luther King. Só uma mídia renovada podia dar conta de narrar a contento tempos históricos tão conturbados.
Howard Beale é como um cão raivoso que escapa da coleira. Se ele se torna um hit da TV, com audiências estratosféricas, é pois articula a raiva dos telespectadores (“articulate the anger”, aliás, é uma expressão recorrente no filme). O que predomina na fala de Beale, em termos afetivos, é um ódio que tem algo de clarividente. Uma revolta que em seu transe de fúria consegue enxergar mais claramente seus adversários, descrevendo-os aos brados como um profeta bíblico que prega na montanha, disparando imprecações. O brilhante roteiro de Paddy Chayefsky – vencedor do Oscar – insiste no caráter quase religioso ou místico da experiência de Beale diante das câmeras: ele é descrito como “mad as Moses”, ou “doido como Moisés”.
Não quero com isso desqualificar o discurso do personagem como os delírios de um lunático que não merece ser ouvido, muito pelo contrário: o verbo-em-chama que a língua-em-fogo de Beale lança pela goela afora é um verdadeiro tratado de sociologia. É também um testemunho histórico de uma momento de crise nos EUA:
Os países árabes e sua organização petrolífera OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) ameaçam com uma alta nos preços dos combustíveis fósseis conhecidos como “ouro negro”; o país ainda vive a ressaca do “caso Watergate”, que havia culminado com o processo de impeachment contra Nixon e sua posterior renúncia; a sanguinolência no Vietnã e no Camboja ainda era ferida recente (sem falta de soldados estropiados); tanto o Black Power quanto as primeiras manifestações do movimento Hip Hop demonstram o poderio da contracultura conectada ao Atlântico Negro (Cf. Paul Gilroy); e é neste contexto que Beale destilará sua retórica enfurecida – mas autêntica e catártica – em discursos que viraram clássicos da história do cinema:

Beale: I don’t have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It’s a depression. Everybody’s out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel’s worth; banks are going bust; shopkeepers keep a gun under the counter; punks are running wild in the street, and there’s nobody anywhere who seems to know what to do, and there’s no end to it.
We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. And we sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that’s the way it’s supposed to be!
We all know things are bad – worse than bad – they’re crazy.
It’s like everything everywhere is going crazy, so we don’t go out any more. We sit in the house, and slowly the world we’re living in is getting smaller, and all we say is, “Please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radials, and I won’t say anything. Just leave us alone.”
Well, I’m not going to leave you alone.
I want you to get mad!
I don’t want you to protest. I don’t want you to riot. I don’t want you to write to your Congressman, because I wouldn’t know what to tell you to write. I don’t know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street.
All I know is that first you’ve got to get mad.
You’ve gotta say, “I’m a human being, goddammit! My life has value!”
So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell:
“- I’m as mad as hell, and I’m not going to take this anymore!”
Ao invés do demagogo cheio de promessas de um futuro lindo e promissor, Beale explicita sua postura: a de alguém que não vai mentir, não vai dourar a pílula, não vai fingir que está tudo bem. Enumera os componentes da crise: depressão econômica e quebradeira de bancos; violência urbana e ondas de assaltos; punks selvagens pelas ruas; poluição atmosférica e comida contaminada; tragédias que viram estatísticas: 15 homicídios diários, em média, além de 63 outros crimes violentos, todos os dias… Como se isso fosse normal! Diante de tal cenário distópico, como deveria agir a mídia de massas? Deve apenas oferecer entretenimento kitsch e inofensivo, transformando-se numa máquina de matar o tempo, um tubo anti-tédio?
Beale não acredita na limitação da TV nem ao entertainment, nem ao jornalismo neutro e imparcial. Um pouco de seu pathos remete a mestres da comédia nos EUA, como Lenny Bruce (vivido no cinema por Dustin Hoffmann em filme de Bob Fosse em 1974) e George Carlin. Os discursos de Beale rasgam o véu do “politicamente correto” e ele fala na TV como se estivesse em comício. Mais que isso: ele torna-se um líder-de-massas, que conclama seus milhões de espectadores a agir (“mandem telegramas aos montes para a Casa Branca! Quero ver o presidente atolado até os joelhos em telegramas!”), inclusive chegando ao extremo – imperdoável, segundo os magnatas da indústria – de implorar: “desliguem essas TVs! Esses tubos estão estupidificando vocês!”

Nada mais excêntrico do que um apelo televisionado ao boicote-em-massa à televisão… Beale vai tomar um esporro daqueles do magnata da indústria, que em cena memorável dá uma preleção sobre o capitalismo neoliberal pós-moderno como alguém que entra em transe com as idéias de Friedrich Hayek (1899-1992) e Ludwig Von Mises (1881-1973). O filme de Lumet pode até parecer visionário ao prever a proeminência tremenda que ganharia o neoliberalismo nos anos 1980, com Margareth Tatcher e Ronald Reagan nas presidências do mundo anglo-saxão e tendo como ideólogos figuras como Milton Friedman e Ayn Rand. Mas o fato é que a doutrina neoliberal já estava fazendo tremendos estragos na América Latina, em especial no Brasil depois do golpe de Estado de 1964 e no Chile após o coup Pinochetista-Yankee de 11 de Setembro de 1973. O apóstolo da distopia neoliberal – concretizada! – é outra das atrações impagáveis de Network:
Network mostra-nos o punho autoritário dos poderes neoliberais, sua vociferante retórica em favor da liberdade dos capitais para circularem à vontade e para acumularem em poucas mãos (se assim decretar a Mão Invisível do Mercado), contraste com Beale, acanhado e um tanto aterrorizado, como uma espécie de formiga diante de um elefante desprovido de misericórdias por coisas pequenas e dispensáveis como… jornalistas. Beale, assim que voltar ao telepúlpito, será uma formiga em levante, um rebelado contra o Grande Irmão. O vociferante Beale, apesar de sua capacidade de “mobilizar” platéias, não deixa de ser, na hierarquia da instituição plutocrática-fascista em que trabalha, é visto como uma espécie de inseto, à la Gregor Samsa, que os poderes palacianos predarão sem pudor.
Se Beale começa o fim com um plano-de-suicídio, termina o filme sendo alvo de uma conspiração de assassinato: de todo modo, a profecia se cumpre. Beale, personagem fictício, junta-se à jornalista da vida real Christine Chubbuck – ambos são “mortes transmitidas ao vivo”. Ambas mortes protestam, com a bandeira de seu sangue derramado, contra os mass media que embrutecem e emburrecem o público com besteirol e edulcorações, que praticam o jornalismo sensacionalista trash do “espreme que sai sangue”. Beale é uma espécie de hacker do sistema, que diz na TV o que seria, em circunstâncias normais, totalmente censurado e proibido. Um âncora de TV que faça o papel que tem nos jornais o ombusdman, que dedique-se a uma auto-reflexão crítica sobre sua prática profissional, que compartilhe com o público uma análise do poder alienante da televisão, como faz Beale, está de fato condená-lo a ser silenciado com violência pelos poderes dominantes.
Após fustigar a platéia com estatísticas que mostram que apenas 3% dos norte-americanos lêem livros e apenas 15% lêem jornais, ele procura fazer seus telespectadores despertarem de uma espécie de narcose, induzida pelo “tubo”: “a única verdade que vocês sabem sai dessa caixa preta! Agora mesmo, há uma geração inteira que nunca soube nada que não saiu desse tubo! Esse tubo é o evangelho, a revelação derradeira! Esse tubo pode construir ou destruir presidentes, papas, primeiros-ministros! Esse tubo é a mais aterradora força em todo este mundo-sem-deus! E pobres de nós se esse poder cair nas mãos das pessoas erradas!”
A concentração do poderio mass-mediático nas mãos de poucas corporações – que marca não só a realidade dos EUA, mas é agudíssima também no Brasil, país apelidado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras de A Nação dos 30 Berlusconis – é outro alvo de Beale. Os mega-conglomerados que dominam a economia globalizada sob o domínio do capitalismo neoliberal – sistema finamente criticada por documentários como The Corporation – perdem a conexão com o ideal originário que anima a profissão do jornalismo, a busca pela verdade factual e sua honesta comunicação à opinião pública, tendo como télos a tomada bem-informada e lúcida de decisões pertinentes ao bem comum, ao público, ao coletivo.

O caráter distópico de Network pode até estar latente, não tão explícito quanto em Matrix, mas o retrato de uma humanidade “presa” às ilusões de uma Neo-Caverna platônica, desta vez televisiva, marca forte presença: a TV em Network já é um protótipo de Matrix. O cinema revisitaria o tema em obras como O Show de Truman – que já esmiucei em outro artigo do projeto Cinephilia Compulsiva – ou na animação Wall-E, que retrata o que sobrou da Humanidade, após a poluição da biosfera terrestre, a perambular, no interior de uma estação espacial, em poltronas móveis, onde obesos bebedores compulsivos de refrigerantes nada fazem na vida senão ficarem de olhos grudados na telinha imbecilizante onde tudo é marketing infinito...
Network é de uma contundência que não perdeu sua força pois denuncia as mentiras interesseiras que os patrões da mídia contam através daquilo que Beale chama de “a mais fantástica força de propaganda em todo este mundo-sem-deus!” Como um enfurecido des-mistificador, esbraveja: “a televisão não é a verdade! É um maldito parque-de-diversões! Televisão é um circo, um carnaval, um bando de acrobatas, cheia de contadores de lorotas, de dançarinos e malabaristas, de side-show freaks, domadores-de-leões e jogadores de futebol. Estamos no negócio de matar o tédio (the boredom-killing business). Caras, vocês nunca vão ganhar nenhuma verdade de nós! Nós vamos te dizer o que você quer ouvir. Nós mentimos como o diabo. Nós te dizemos que o detetive sempre pega o assassino. E ninguém nunca pega câncer na novela das 5. E não importa em que encrencas o herói tenha se metido, não se preocupe, ao fim de uma hora – cheque seu relógio! – ele vai vencer. Nós te contaremos qualquer merda que você quiser ouvir! Nós vendemos ilusões…”
É o cinema, magistralmente manejado por Sidney Lumet, servindo à revelação de verdades sobre o mundo social, muitas delas também trazidas à tona pela obra de grandes intelectuais do século XX, como Noam Chomsky e Pierre Bourdieu. O discurso de Beale pretende despertar os zumbis, para que parem de ser papagaios do que a TV diz, para que parem de vestir-se como manda a propaganda e de comprar nos mercados o que o Tubo mandou comprar. Clama por autonomia de pensamento, auto-determinação, capacidade crítica – e nada disso é do interesse das mega-corporações. Beale está em rota de colisão com o sistema. O tope não tolerará esse rebelde em transe que ousa proclamar verdades inconvenientes no tele-púlpito. É preciso calá-lo por quaisquer meios.
O Ibope de Beale começa a cair numa espiral descendente conforme ele cessa de ser uma excitante novidade e passa a agir como um soturno filósofo Adorniano, com um desespero Kierkegaardiano, que reflete sobre a desumanização acarretada pela mídia de massas e sobre os horrores da atomização dos indivíduos. “Desliguem a TV! Desliguem-na e deixem-na desligada!” – é o conselho que ele tem ao público após uma vida devotada ao métier. A ironia suprema do filme de Lumet é fazer com que esta mensagem contracultural e subversiva seja cooptada pelo sistema televisivo: a UBS irá utilizar Beale como um títere faz com sua marionete, criando as condições para um espetaculoso – e esplendidamente lucrativo – espetáculo sangrento derradeiro.
Howard Beale acaba por me lembrar de um dos mais notáveis personagens da ficção inglesa no século XX, Winston Smith, de 1984. George Orwell, em seu clássico da ficção-científica distópica, havia imaginado um mundo dominado por aparelhos – as teletelas (telescreens) – que podiam ter seu volume reduzido, mas “era impossível desligá-lo de vez”. A originalidade da teletela de Orwell é que ela não era apenas um tubo emissor de imagens e mensagens, mas também um dispositivo de vigilância e controle: uma mescla de TV com câmera de segurança. “Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência, ou que periodicidade, a Polícia do Pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Tinha-se que viver – e vivia-se por hábito transformado em instinto – na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado.” (ORWELL, 1984, cap. 1)

Tanto Howard Beale quanto Winston Smith terminam por adquirir um conhecimento íntimo do funcionamento do “Big Brother”, o Grande Irmão, em especial pois foram serviçais do sistema pela maior parte de suas vidas. Beale como telejornalista, Smith como “falsificador” profissional dos jornais do passado, ambos estiveram nas entranhas do monstrengo. A revolta de ambos é motivada pois eles estão bem-informados demais sobre o que ocorre nos bastidores, seja da corporação, seja do partido.
Em 1984, as teletelas são instrumentos utilizados pelo Partido para que conquiste as massas para seus interesses: o Grande Irmão deve ser celebrado como líder infalível e perfeito; já o inimigo público, perigoso terrorista e revolucionário sanguinário, Immanuel Goldstein, deve ser escorraçado sem fim. As teletelas orquestram o ódio das massas contra Goldstein, o traidor do Partido, o infame bandido, de modo que o público não cessa de ser condicionado a pensar em termos maniqueístas e a fazer a catarse de sua agressividade sempre contra o alvo apontado pelas telas. Soa familiar?
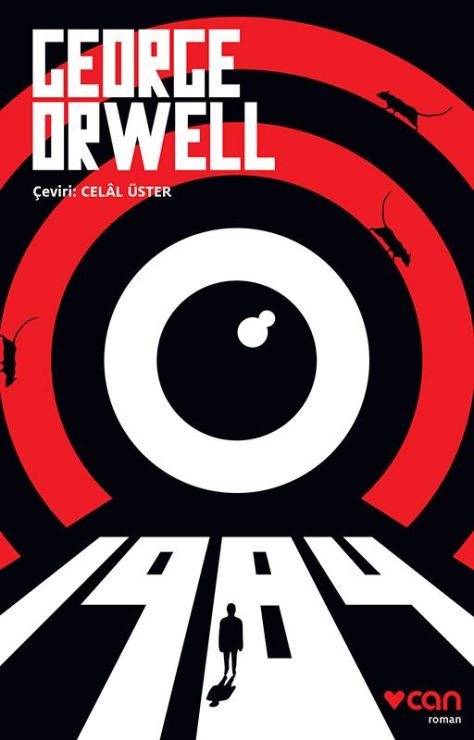
O Partido totalitário que rege a sociedade onde Smith vive e trabalha – e cujo protótipo Orwell fui buscar no III Reich Nazi e na fase stalinista da URSS – é uma imensa máquina de mentir, de iludir, de re-escrever o passado conforme as necessidades do presente. É também um Partido que se utiliza amplamente da mídia de massas, transformada também num polvo de mil tentáculos, que vigia com milhões de olhos, como um super-policial hi-tech no Neo-Panópticon do amanhã…
Winston Smith é alguém que, tal qual Beale em Network, irá descobrir-se incapaz de seguir jogando o jogo dos chefes como obediente cordeirinho: “Havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein mas, ao invés, contra o Grande Irmão, o Partido e a Polícia do Pensamento; e nesses momentos o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras.” (ORWELL, 1984, cap. 1)
Em 1984, um dos lemas do partido era: “Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado.” Winston sabe muito bem, pois trabalha no Ministério da Verdade (um nome, é claro, irônico!) e ali exerce o cargo de “retocador” de jornais publicados no passado. Winston sabe muito bem que o “partido tem o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou” e que pode mesmo contar mentiras deslavadas, como “o partido inventou o avião” ou “nunca estivemos em guerra com a Eurásia” (verdade promulgada um dia depois da trégua que interrompeu a guerra de 6 anos com a Eurásia…).
Assim como para Winston, para Beale o inimigo também é o “mundo de mentiras”. Network mostra uma espécie de tele-profeta rebelde que boicota seu próprio empregador, que declara guerra à corporação midiática onde fez carreira, como Spartacus contra Roma. O cerne de seu ataque contra a TV está na falsificação do real que ela impõe e pelos efeitos de alienação que causa – tema riquíssimo para estudos de psicologia social, por exemplo. A TV, segundo Beale, foi prostituída e corrompida a ponto de tornar-se apenas um circo e um freakshow, onde vale-tudo pelo Ibope. Inclusive e sobretudo o sangue, a violência, a estigmatização de minorias, a perseguição a adversários políticos… A TV, ao invés de oferecer formação e conhecimento, cria conformismo. Condiciona as massas seja ao papel passivo de consumidores zumbi de imagens publicitárias e novelas inautênticas, seja ao papel de títeres nas mãos daqueles que precisam de massas-de-manobra para conquistarem seus fins.
No mundo fictício fabricado pelo noticiário do Partido, em 1984, a verdade sobre a economia e sobre as condições de vida da população são escondidas, escamoteadas: publica-se na imprensa, por exemplo, que a produção trimestral de botinas foi de 145 milhões, quando na verdade havia sido de 62 milhões. Quadro diante do qual o irônico narrador Orwelliano comenta: “tudo o que se sabia é que, a cada trimestre, quantidades astronômicas de botinas eram produzidas no papel, ao passo que talvez metade da população da Oceania andava descalça.” (ORWELL, 1984, cap. 4)
Network é, igualmente, o relato da insurgência de um funcionário demenciado, contra um sistema compulsivamente mentiroso (como o são, no Brasil, desde a ditadura, as alianças entre mega-empresas como Abril e Globo com os partidos da elite autoritária e mandonista). Beale e Smith, ambos, saem dos trilhos da ortodoxia, ousam pensar por si próprios, não conseguem mais viver enjaulados no conformismo. Em ambos os casos, tanto em Orwell quanto em Lumet, a jornada do herói não tem nada de triunfante e gloriosa, mas está condenada de antemão a soçobrar diante de um inimigo poderoso demais. Nisso, Network e 1984 assemelham-se a Kafka.
Se as teletelas de Orwell eram o instrumento supremo de doutrinação e controle que mantinha o Sistema do Big Brother no domínio, em Network somos apresentados a uma situação quase tão distópica: massas de “vidiotas”, para usar a expressão de Márcia Tiburi, sem senso crítico desenvolvido, títeres dóceis para as ordens teleguiadas provindas do Tubo, são capazes de tudo, até mesmo dos piores fascismos, até mesmo do homicídio premeditado (a ser difundido em cadeia nacional…).
Se personagens como Howard Beale e Winston Smith comovem e tornam-se fortes presenças em nossas memórias, talvez seja porque Network e 1984 não são obras totalmente deprimentes e desalentadoras. Mostram indivíduos que se insurgem em prol da expressão de uma verdade sobre a sociedade onde vivem que todos os poderes hegemônicos desejam calar, esconder, omitir, recalcar. Procuram desvelar o que não deveria ficar oculto, trazer à luz o que a tirania deseja lançar às trevas dos porões. Põe à nu um sistema desumanizador, de controle piramidal, baseado no apartheid social, e onde TVs e teletelas servem somente à imbecilização, à domesticação, ao controle. Mostram – como a História já havia feito, ou alguém imagina Hitler sem o rádio? – que é bem possível, infelizmente, uma aliança entre mídia e fascismo. As lições permanecem relevantes ao extremo em nossos tempos onde golpes de Estado são orquestrados pela televisão, “panelaços” e linchamentos públicos respondem a chamamentos de telejornais corporativos, e multidões ensandecidas são capazes de serem as ovelhas amestradas da fúria fascista, orquestrada de cima dos telepúlpitos da plutocracia.


Eduardo Carli de Moraes
Goiânia, 29/03/2016
Um (hiper)texto da série #CinephiliaCompulsiva
Siga: A Casa de Vidro no Facebook ou Twitter






