por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro
“Se deveras existe um pecado contra a vida, talvez não seja tanto o de desesperar com ela, mas o de esperar por outra vida, furtando-se assim à implacável grandeza desta.”
ALBERT CAMUS em “Núpcias” [1]
CAPÍTULO 1: A Indesejada das Gentes
Confinados na implacável finitude da vida, nós, os mortais, temos acesso a poucas certezas inabaláveis, dignas do estatuto de verdades absolutas. A mais irrecusável das certezas, para cada um e todos, é a de que todos nós um dia vamos morrer – como diz o provérbio: morte certa, hora incerta.

Por ser aquilo que nos é comum, não importa em que latitude e longitude vivamos, nossa finitude nos une. No entanto, sermos finitos não é simplesmente algo aceito e acolhido como um fato bruto, mas sim algo que é “vestido” pela consciência humana com as mais variadas roupas, embalado nas vestes de crenças multiformes. O único bicho que sabe que vai morrer é também o animal simbólico, faminto por sentido. A vivência do perceber- se mortal é de extrema diversidade conforme as crenças (ou ausência destas) que a pessoa nutra (ou que tenha destroçado em si).
Além disso, é variável o grau de realização da morte [2], ou seja, o sujeito considera como real tal condição num gradiente que vai da negação de quem finge que a morte nunca virá, à obsessão mórbida de quem pensa-se como “cadáver adiado” (Fernando Pessoa) [3] a todo momento de todos os dias. As dinâmicas psíquicas do recalque / repressão desta consciência de nossa radical limitação espaço-temporal, socialmente consolidadas em ideologias destinadas ao negacionismo da finitude, são tema do clássico A Negação da Morte (The Denial of Death) de Ernest Becker [4].

O fato de sermos mortais, ao mesmo tempo que nos une na mesma condição que nos é comum, também nos separa radicalmente: assim como “ninguém vive por mim” (cantou lindamente Sérgio Sampaio) [5], também podemos dizer a qualquer um: ninguém vai morrer no teu lugar, a tua própria morte é algo que você vai ter que encarar, cedo ou tarde, querendo ou não. Cada um encara o processo de morrer num estado onde a solidão se manifesta de modo mais extremo do que em outras vivências humanas. Pode ser que o poeta chileno Nicanor Parra tenha razão ao propor que “a morte é um hábito coletivo” [6], mas cada sujeito a vivencia de maneira singular. E arrasta para o túmulo e seu eterno silêncio o segredo incomunicável do que se passou por dentro naqueles últimos momentos vitais antes do fatal ponto-final.

Pedra irremovível no caminho do desejo de imortalidade que muitas vezes os humanos nutrem, a morte existe sobretudo como horizonte. Está presente por sua iminência. O que nos condena à angústia como parte integrante da condição humana. Costuma-se dizer que somos os únicos animais no planeta Terra que sabem que vão morrer, mas talvez fosse mais preciso dizer que o sentimos mais que sabemos. A angústia é este afeto em nós que atesta a nossa finitude.
Na história da filosofia, a reflexão sobre o futuro estado de esqueleto de cada um de nós já foi alvo de muitas reflexões: a sabedoria Epicurista pretendia curar o medo da morte e dos deuses, causadores de intranquilidades da alma que impedem a sábia ataraxia, com uma argumentação que a Carta a Meneceu (Sobre a Felicidade) sintetiza assim: “Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações.” [7] Quase dois milênios depois, Michel de Montaigne, em um de seus mais célebres ensaios, exploraria a noção de que “filosofar é aprender a morrer” [8].
É preciso aprender que, querendo ou não, a morte é nosso quinhão e que dar sentido a uma vida que acaba é nossa perpétua tarefa. A sensação de absurdo que às vezes se espraia pela existência tem a ver com o fato de que a foice às vezes pode arrasar com um vivente em momento inoportuno, em hora precoce, quando ele ou ela ainda estava cheio de sonhos, planos e forças.
Por isso, raros são aqueles que enfrentam a vida sem medo algum: a possibilidade da morte, sobretudo injusta, súbita, dolorida, tira-nos o sossego. Talvez nunca tenha nascido e completado sua trajetória finita entre os vivos nenhum animal humano que possa dizer, do berço ao túmulo: “atravessei o tempo sem nunca temer a morte”. Para o poeta Manuel Bandeira, a morte é “a indesejada das gentes”, a “iniludível” (aquela que não se pode burlar ou enganar) [9]:

Consoada
Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
— Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.

Pintura de Arnold Boecklin
CAPÍTULO 2: A CLARIVIDÊNCIA, IMPRESCINDÍVEL VIRTUDE CAMUSIANA

Para Albert Camus (1913 – 1960), não há escapatória: “a angústia é o ambiente perpétuo do homem lúcido” – e a questão das questões, como o príncipe Hamlet sabia, consiste em escolher entre o sim à vida (ainda que angustiada) ou o não à ela (o caminho do suicídio) [10]. Quem vê claro, nesta vida, não escapa de sentir o fardo de afetos angustiantes. O que importa é que a angústia não nos paralise, que possa inclusive servir à nossa ação e ao nosso Combat – nome do jornal com o qual Camus colaborou, crucial na cobertura de eventos históricos como a Resistência à ocupação nazista da França, a Guerra de Independência da Argélia e o Maio de 1968.

Neste livro (Folio, 2013, 784 pgs), estão reunidos 165 artigos publicados por Camus no jornal Combat, onde ele atuou como editor chefe entre agosto de 1944 e junho de 1947. Saiba mais.
Publicado em 1947 pela Editora Gallimard, o romance “A Peste” expressa a atitude existencialista Camusiana diante dos flagelos que parecem querer soterrar a humanidade sob os escombros de um sentido arruinado. Diante da irrupção do absurdo coletivo que é a peste, esta máquina mortífera que ceifa vidas de animais humanos como se estes fossem moscas, o que propõe o artista-filósofo franco-argelino?
Para começo de conversa, o absurdo, para Camus, é um ponto de partida e não de chegada. Não se deve ficar estagnado diante do absurdo, como se ele fosse uma barreira intraponível que deveria nos fazer desistir de qualquer ação, abandonando-nos à passividade. A percepção do absurdo deve conduzir à revolta solidária dos humanos em luta contra os males de seu destino. Se, de fato, a revolta e a solidariedade são valores basilares do ethos camusiano, é preciso destacar ainda o posição de destaque que a virtude da clarividência ocupa no universo temático de Camus.

Isto que a língua francesa chama de clairvoyance tem um sentido próximo ao de lucidez. A lúcida clarividência está fortemente presente em A Peste, como se Camus quisesse ensinar que é preciso ver claro em meio ao horror se não queremos aumentá-lo ou colaborar com ele. Perder a lucidez, deixar ir pelo ralo a clarividência, em nada ajuda a frear a expansão das epidemias, nem auxilia a vencer as infestações do fascismo. O médico Bernard Rieux, narrador do romance, trabalha arduamente em meio à proliferação da doença, ainda que sinta seu cotidiano de combatente anti-peste como um trabalho de Sísifo, repleto de “intermináveis derrotas”.

É preciso compreender que Bernard Rieux é uma espécie de Sísifo em tempos de flagelo coletivo, numa época em que há a irrupção do absurdo em escala massiva. O rochedo que ele tenta arrastar montanha acima é a saúde de seus pacientes. Muitos de seus esforços médicos são em vão: a peste vence frequentemente e o paciente morre. Mas a batalha perdida não finda a guerra. Novos infectados não param de chegar aos hospitais, como novos rochedos a tentar empurrar montanha acima rumo à saúde sempre precária.
Rieux jamais desiste da luta, por mais que seja muitas vezes derrotado em seu intento de curar os adoentados ou de diminuir o sofrimento dos agonizantes. Rieux, apesar do tom afetivo que o domina ser o de um pessimismo de homem ateu, não cai nunca no derrotismo ou na resignação imóvel. Rieux é um trabalhador: não fica de braços cruzados diante dos males concretos que afligem os corpos de seus concidadãos. Não espera ou pede nenhum auxílio divino ou sobrenatural. Por isso, apesar de tantas derrotas diante da peste mortífera, o Doutor Rieux não se torna nunca um derrotado no sentido que dá a esta palavra o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, para quem “os únicos derrotados são os que baixam a cabeça, que se resignam com a derrota. A vida é uma luta permanente, com avanços e retrocessos”. [11]
Imaginem se Mujica, em algum momento de angústia extrema, durante o período de 12 anos em que esteve confinado nos cárceres da Ditadura Militar uruguaia, tivesse desistido da luta. Se tivesse gasto até a última fibra de sua coragem e resiliência de tupamaro, se tivesse utilizado a saída do suicídio para escapar dos horrores de estar entre os vivos em tais condições horríficas, aí sim teria sido um derrotado – e não o futuro presidente do Uruguai e um ícone das esquerdas latinoamericanas. Por isso, no poster do filme Uma Noite de 12 Anos, de Alvaro Brechner, que retrata as vivências de Mujica e outros dois prisioneiros, destaca-se a frase: “los únicos derrotados son los que bajan los brazos”. [12]

História semelhante se poderia contar sobre Nelson Mandela, Oscar Wilde, Antonio Gramsci ou Luiz Inácio Lula da Silva: na prisão, eles não abaixaram a cabeça, não se renderam à opressão deixando a resiliência cair estilhaçada ao solo, seguiram determinados em sua luta, clarividentes e revoltados em face de absurdos insultantes. Atravessando a noite que parece interminável. Nunca aderindo à preguiça dos passivos ou à inação dos resignados.

CAPÍTULO 3: A LITERATURA DAS ENCRUZILHADAS
Vários debates filosóficos atravessam o romance de Camus: A Peste é um romance repleto de difíceis encruzilhadas em que os personagens tentam escolher entra as alternativas que o destino lhes impõe. O jornalista Rambert, por exemplo, está separado da mulher que ama, preso na Oran empesteada, de onde as autoridades não permitem que ninguém entre ou saia. Tomando medidas para pagar por uma fuga, Rambert entra em negociações com contrabandistas, mas os acordos não avançam muito bem. Retido na cidade em quarentena, Rambert decide-se a trabalhar junto com o Dr. Rieux enquanto aguarda ocasião mais oportuna de escapar dali para se re-encontrar com sua amada.
Depois de muito refletir, quando enfim se apresenta a ocasião da fuga, Rambert prefere ficar ao invés de partir. Explica que “se partisse sentiria vergonha”. Ao que Rieux responde com firmeza que isto é uma “estupidez” e que “não há vergonha em preferir a felicidade”. Ou seja, em meio à desgraça toda, os personagens debatem sobre o hedonismo enquanto doutrina ética, a noção de que uma prazeirosa felicidade é o fim último (télos) da existência humana.
Rambert, nesta sua encruzilhada ética, sopesa as alternativas: fugir em direção à mulher de quem sente saudades é sua tentação mais forte, sua vontade quase irreprimível, pois é este o caminho que lhe aponta sua ânsia de felicidade, sua fome relacional, seu ímpeto de gozo afetivo, sexual, de estima carnal. Porém, o outro caminho que se desenha na encruzilhada é o de ficar na cidade para trabalhar, junto com os outros, em prol de uma melhoria da condição de todos. Rambert prefere ficar, argumentando, contra Rieux e seu hedonismo, que pode sim ser motivo de vergonha “querer ser feliz sozinho” (être heureux tout seul) [13].

Em contexto de flagelo coletivo, Rambert acaba por concluir que não tem direito à fuga na direção de sua felicidade individual. Terceira voz neste diálogo, Tarrou percebe bem que a natureza da escolha na qual Rambert se debate envolve um desejo de empatia para com os que sofrem durante a peste. Porém, esta empatia pode mergulhar o sujeito numa tal maré de compaixão que ameaça destruir completamente sua possibilidade de vivenciar afetos alegres e vivificantes. Para Tarrou, se Rambert “quisesse partilhar da infelicidade dos homens, não haveria jamais tempo para a felicidade. Era preciso escolher.”
Rambert, apesar do sofrimento da separação, que às vezes o conduz a gritar a plenos pulmões (op cit, item 13, p. 185) em montes desertos da cidade, acaba por decidir-se que não quer suportar a vergonha de fugir tentando ser feliz alhures, argumentando que “essa história nos concerne a todos”. Sua atitude tem pontos de contato com Sócrates tal como descrito no diálogo platônico Críton – o filósofo se recusa a fugir da prisão de Atenas onde está condenado a morrer pela cicuta, argumentando que ser vítima de uma injusta é preferível a ser injusto violando as leis da pólis.
O Dr. Rieux, de maneira similar ao jornalista Rambert, está separado de sua esposa, com quem se comunica por cartas e telegramas, mas nunca lhe ocorre a tentação de escapar: ele chega a trabalhar 20 horas por dias nos meses de auge da peste, como heróico médico que vê sua fadiga e exaustão crescerem até os extremos, sem nunca desistir de seus deveres ou “amarelar” diante do fardo de sua responsabilidade.

CAPÍTULO 4: CAMUS E NIETZSCHE: UM DIÁLOGO FECUNDO
Ganhador do Nobel de Literatura de 1957, Camus devotou muitos esforços a um diálogo fecundo e crítico com a obra de Nietzsche (1844-1900): “o filósofo alemão agiu como um álcool forte sobre Camus”, defende Michel Onfray [14].
No Brasil, um livro brilhante de Marcelo Alves, pesquisador graduado em Filosofia e Mestre em Teoria Literária pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), explora com maestria o tema: Camus: Entre o Sim e o Não a Nietzsche (um livro que nasce de sua tese de mestrado disponível na íntegra) [15].
Unidos na “fidelidade à terra”, como dizia Zaratustra, Nietzsche e Camus estão sintonizados no interesse que compartilham pelo amor fati, o amor ao destino. O ethos do espírito livre consiste em amar a vida exatamente como ela é, sem exclusão de tudo que existe nela de contraditório, problemático, horrendo e assustador. Camus fala assim das “núpcias” do homem com a natureza:

“Aprendo que não existe felicidade sobre-humana, nem eternidade fora da curva dos dias. Esses bens irrisórios e essenciais, essas verdades relativas são as únicas que me comovem. (…) Não encontro sentido na felicidade dos anjos. Só sei que este céu durará mais do que eu. E o que chamaria de eternidade, senão o que continuará após minha morte?
A imortalidade da alma, é verdade, preocupa a muitos bons espíritos. Mas isso porque eles recusam, antes de lhe esgotar a seiva, a única verdade que lhes é oferecida: o corpo. Pois o corpo não lhes coloca problemas ou, ao menos, eles conhecem a única solução que ele propõe: é uma verdade que deve apodrecer e que por isso se reveste de uma amargura e de uma nobreza que eles não ousam encarar de frente.” (CAMUS) [16]
Alves comenta:
“O corpo é a medida do homem lúcido diante da sua condição. Amar a natureza é reconhecê-la, antes de tudo, enquanto limite e possibilidade da vida humana. Amor trágico esse, na medida em que se ama o que por fim nos aniquila. Muitos homens, no entanto, preferem recusar essa sabedoria trágica e transformar o seu medo da morte na esperança de outra vida… Mas custa caro desprezar a verdade do corpo, ser infiel à terra, deixar-se iludir por uma esperança, isto custa o preço da própria vida, ‘porque se há um pecado contra a vida, talvez não seja tanto o de se desesperar com ela, mas o de esperar por uma outra vida e se esquivar da implacável grandeza desta’, como escreve Camus. (…) Fidelidade à terra é justamente o que Zaratustra não cessa de pedir encarecidamente a seus discípulos, alertando-os ao mesmo tempo sobre a ‘enfermidade’ característica dos ‘desprezadores do corpo’, dos ‘transmundanos’ e dos ‘pregadores da morte’.” (M. ALVES) [17]
Esta valorização do corpo, da vida encarnada, das verdades relativas, da sensorialidade palpável, nada tem a ver com uma idealização do corpo que apagasse tudo que há nele de problemático e trágico: Camus chama o corpo de “uma verdade que apodrece” e não cessa de refletir sobre a revolta humana diante da morte, ou seja, da finitude deste corpo matável e adoecível. Camus quer manter-se fiel à Terra e à virtude da lucidez, o que exige vivenciar nossa condição corpórea em tudo que ela comporta de delícia e de tragédia: é com o corpo que se pode entrar no êxtase das núpcias dionisíacas com a natureza, mas é com o corpo que se pode também sofrer os horrores da angústia e as indizíveis dores da agonia.

“Para Camus ser fiel à terra inclui ser fiel aos homens de carne e osso que conosco compartilham, aqui e agora, a experiência de viver. (…) A solidariedade assim praticada é uma chance ao possível, uma chance àquilo que só através dos homens em luta comum contra sua condição pode vir à existência: a liberdade, a justiça, a felicidade e o amor.” (ALVES, op cit., p. 90-91) [18]
Ao analisar “A Peste”, Marcelo Alves destaca que Camus está ali “trabalhando literariamente as críticas formuladas nas Cartas sobre o nazismo” (em especial a Carta a Um Amigo Alemão), de modo que “é preciso tomar o mal como o símbolo maior do romance: o mal que o nazismo produziu e o mal a que o homem está condenado a sofrer por sua própria condição. Trata-se do mal no sentido trágico, do mal que se expressa através do sofrimento físico e moral daquele que vive sob o peso inexorável da mortalidade. É nesse sentido que Camus pode afirmar que a peste é a mais concreta das forças.” (op cit, p. 97) [19]
Escrevendo sobre o tema, o autor português Hélder Ribeiro aponta outras similaridades e sintonias entre Camus e Nietzsche:
“A origem da ética de Albert Camus está na monstruosidade que consiste em sacrificar os corpos às ideias. Encontramos talvez aqui o segredo do laço que une as concepções de Camus e de Nietzsche. Se Nietzsche empreende uma genealogia da moral cristã, para compreender como esta veio a produzir a negação da própria vida, e isto no contexto da sociedade burguesa do século XIX, Camus empreende uma genealogia da moral política do século XX, para compreender como esta veio a produzir a negação hitlerista e estalinista da vida.
Como na Genealogia da Moral, Camus pensa que a cultura e a moral do Ocidente chegaram a um envenenamento inexorável da vida e trata-se de tirar a máscara. (…) Que deve Camus a Nietzsche? Mais do que afirmações, o clima do seu pensamento, e acima de tudo a recusa global da ficção platônico-cristã dos dois mundos. Não há Além que repare a decepção multiforme de cá-de-baixo e que nos conduza ao Uno. Quando Camus suspira pela unidade, não a refere à ideia platônica que supõe o ultrapassar das aparências. As aparências são a única verdade. O Uno deve descobrir-se na própria dispersão do sensível e a tentação mística só pode ser naturalista.
“Todo o meu reino é deste mundo”, escreve Camus. É a fórmula mais flagrante desta convicção. O corolário é a exaltação do corpo e das verdades que o corpo pode tocar. A verdade do corpo ultrapassa a verdade do espírito. Ora, o mais alto poder do corpo é a arte, que opera uma transmutação do sensível sem o recusar.
O niilismo de Nietzsche, procedendo de uma experiência extrema do desespero, quebrando todos os ídolos do progresso com o mesmo cuidado com que recusava a sombra de Deus, chega, no entanto, a um consentimento radioso, dionisíaco, ao Todo do ser real do mundo, na sua totalidade e em cada realidade particular. O consentimento que dorme na revolta de Camus e lhe dá um sentido, esse “amor fati” que no sim à vida inclui a própria morte, de modo que chega a chamá-la de “morte feliz”, provém em parte de Nietzsche…”. (RIBEIRO, H.) [20]
CAPÍTULO 5: RELEVÂNCIA DE CAMUS NA ATUALIDADE PANDÊMICA
Diante da pandemia de covid-2019 que assola o mundo em 2020, “A Peste” teve uma notável re-ascensão e tornou-se um dos livros mais procurados na Europa, como relata a reportagem da BBC Brasil [21]. Seu status de best-seller na conjuntura deste evento traumático do séc. 21 é prova inconteste não só da atualidade da literatura Camusiana, mas também do brilhantismo com que seu autor sobre tratar dos flagelos da doença somados aos horrores da política. Pois se sabe que a obra nasce sob a influência da Ocupação Nazifascista de Paris, onde Camus escrevia no jornal libertário Combat e participava da Resistência contra a extrema-direita alemã.
O paralelo com o Brasil de 2020 é extremamente possível: a “peste” da covid-19 já é uma lástima terrível por si só, mas a ela se soma o fato de estarmos sob o desgoverno neofascista da seita obscurantista do Bolsonarismo. O chefe da seita, durante toda a pandemia, foi criminosamente irresponsável, acarretando milhares de infecções e mortes ao negar a gravidade do problema, boicotar medidas de isolamento e dar preferência a CNPJs e não a CPFs – ou seja, preferindo agradar empresários, banqueiros e rentistas, aderindo ao “matar ou deixar morrer” no que diz respeito aos trabalhadores empobrecidos pela crise. Além disso, o ocupante do Palácio da Planalto notabilizou-se globalmente por ser o líder do negacionismo do coronavírus, desdenhando de uma doença que em Maio de 2020 já havia ceifado mais de 300.000 vidas, mas que segundo Seu Jair não passa de um “resfriadinho” que não deve preocupar ninguém que tenha “histórico de atleta” e que não deve fazer parar as rodas da economia.
No romance de Camus, o fenômeno do negacionismo da peste, típico do Bolsonarismo na atualidade, também dá as caras. Alves escreve: “A primeira dificuldade dos homens diante da peste é a de reconhecer a sua existência. Por todos os meios procuram negá-la. Muitas vezes simplesmente dando-lhes as costas, outras encarando-a como uma abstração. Primeiro, a administração pública hesita em tomar as providências para não alarmar a população…. Depois, mesmo diante dos sintomas, muitos recusam-se a admiti-la: ‘Mas certamente isso não é contagioso.’, diz um personagem. Por fim, mesmo após o reconhecimento oficial do flagelo e do isolamento importo à cidade, os habitantes ainda resistem a aceitar o fato…” (ALVES, M. p. 98) [22]
A seita necrofílica dos Bolsonaristas tornou-se mundialmente famigerada justamente por este tipo de funesta e macabra irresponsabilidade das ações negacionistas. Ao seguirem como ovelhas obedientes os ditames do Grande Líder, muitos cidadãos Bolsominions acabaram sabotando medidas de contenção, aglomerando-se para manifestações golpistas, fazendo coro à pregação de Jair de que algumas milhares de mortes eram preferíveis à diminuição dos lucros empresariais. Tudo isso tornou Bolsonaro uma figura internacionalmente repudiada como um dos piores presidentes do mundo em seu trato com a peste, tendo sido denunciado por genocídio e crimes contra a humanidade em tribunais penais internacionais.
Neste contexto, a leitura de Camus torna-se ainda mais relevante ao grifar sempre a importância crucial de transcendermos a angústia solitária e isolada, rumo à solidariedade na revolta:

“A vitória sobre a peste só acontece quando o homem reconhece que se trata de uma tragédia coletiva e, no lugar do isolamento individual, faz da sua cumplicidade trágica com os outros homens um só grito de revolta e lucidamente dá início à sua tarefa de Sísifo: ‘colocar tanta ordem quanto possa em uma condição que não a possui’. É verdade que nesse caso a vitória é sempre provisória, jamais definitiva, mas é a única vitória possível e desejável para aqueles que procuram nada negar nem excluir: nem a condição humana, nem a dor do homem. O médico Rieux, personagem e narrador do romance, encarnará o homem camusiano que vive entre o sim e o não: aquele que não se esquiva da condição humana, mas não se resigna às suas misérias; aquele que aceita o peso da existência, aceita rolar a sua pedra, que é o espelho opaco da sua virtude, mas se recusa a aumentar o mal, tanto através da ação quanto da omissão.” (ALVES, M., op cit, p. 101) [23]
O Dr. Bernard Rieux, encarnação da lucidez e da solidariedade, age em A Peste com um ethos de Zaratustriana fidelidade à terra e a seus viventes. Mesmo que na época em que o romance se passa a cidade argelina de Orã esteja empestada, mergulhada nos flagelos da doença e do sofrimento, Rieux permanece aferrado a este princípio: “O essencial era impedir o maior número possível de mortes e de separações definitivas. E o único meio para isto era combater a peste. Esta verdade não era admirável, era apenas consequente.” (CAMUS, A Peste, I, 1327) [24]
Na verdade, Bernard Rieux não é um Übbermensch super-heróico, mas um médico de carne-e-osso, sujeito à fadiga e ao desespero, mas que decide suportar o peso de sua lucidez e agir incansavelmente com base na sua ética da solidariedade, da empatia e da revolta contra a peste. Esta peste é tanto doença em si quanto, de maneira metafórica, a política fascista, aquilo que chamaríamos hoje, a partir de conceito proposto pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, de necropolítica [25].
CAPÍTULO 6: A AGONIA DE UMA CRIANÇA DIANTE DE UM MÉDICO E UM PADRE
No enredo, o médico Rieux também aparece como o antípoda do padre Paneloux. Onde o cristianismo prega oração e resignação, o médico ateu defende a ação coletiva solidária e obstinada contra o mal. Alves comenta: “Rieux combate ídolos, contesta abstrações, não a marteladas, mas através de sua obstinação em cuidar dos corpos… O médico é aquele que sabe dos limites da condição humana, mas não se submete a eles; sabe que não salvará tudo ou a todos, mas decide agir segundo as suas forças para salvar o que pode ser salvo: alguns corpos, por algum tempo.” (Alves, p. 106) [26]
No destino do Padre Paneloux, Camus nos fornece um memorável memento do que significa o desprezo pela Ciência em tempos de peste. Em meio à Orã transtornada pela epidemia, o padre Paneloux fazia sermões pregando que o flagelo era uma punição divina pelos pecados de alguns de seus concidadãos. Daí saltava para a idéia de que a vontade divina utilizava-se da peste como seu instrumento. E daí foi só um passo até que passasse à noção de que seria heresia ir contra a vontade de Deus: a atitude de um autêntico cristão consistiria na aceitação plena dos decretos do Céu.
No capítulo 3 da parte IV, uma cena-chave de A Peste se desenrola: uma criança gravemente enferma será cobaia para um teste de uma vacina (sérum), uma das esperanças de conter a epidemia. O sofrimento horrendo desta criança dá ensejo para que os personagens reflitam a fundo sobre a condição humana, os males do mundo e as injustiças de que nossa situação existencial está repleta. A tentativa de curar a criança não é bem sucedida e após uma longa agonia, extremamente sofrida, o menino morre. Ao redor do leito, Dr. Rieux, padre Paneloux, Tarrou realizam um debate crucial nesta situação excruciante.
O que está em questão, em última análise, é a dor infligida aos inocentes, em todo seu escândalo. A agonia de uma criança parece causar o desmoronamento da argumentação teológica exposta no primeiro sermão do Padre Paneloux (cap. 3, parte II), segundo o qual a infelicidade (malheur) seria sempre merecida, pois toda peste é punição contra pecadores, um purgativo enviado por Deus (p. 91). Caso aceitássemos o argumento do padre, Orã seria similar a Sodoma e Gomorra e “a peste teria origem divina e caráter punitivo” (p. 95). Daí decorre que o padre recomende a seus concidadãos que se ajoelhem, se arrependem e orem aos céus por misericórdia. Com fé, Deus os ouvirá e salvará. Seu discurso traz o dedo em riste, acusatório, lançando sobre os pecadores a culpa pelo flagelo vivido pela cidade. Assim, inventa-se um sentido como antídoto para o absurdo num procedimento que Slavoj Zizek chama de “the temptation of meaning” [27].
Esta cena d’A Peste em que a agonia da criança é sentida diferencialmente pelo médico e pelo padre está entre as obras-primas da dramaturgia Camusiana e aí também se jogam os lances decisivos para a apreciação plena do que pensa o autor sobre a fé. O sofrimento horrendo de uma criança que agoniza põe em crise o discurso do padre Paneloux, sua noção de que os afligidos pela peste eram pecadores: para manter tal ideologia, seria preciso dizer que a criança era culpada, ou mesmo que nasceu com a culpa provinda do princípio dos tempos, ou seja, do Pecado Original de Adão e Eva. É assim que a fé judaico-cristã pretende nos convencer que é merecido o sofrimento na infância?
O Dr. Rieux opõe-se a esta ideologia religiosa que culpabiliza para que possa manter a fé, ainda que num Deus abjeto e que se sirva da agonia infantil como um de seus perversos instrumentos de vingança contra os pecadores. O Dr. Rieux é muito mais ateu e a vivência da peste só aprofunda seu ateísmo. O suplício e a agonia de uma criança lhe parecem um escândalo injustificável, uma absurdidade que estilhaça a possibilidade de crer em Deus. Porta-voz do ateísmo Camusiano, o Dr. Rieux se recusa em amar uma criação onde crianças são torturadas, ou seja, recusa a própria noção de um Criador que pudesse ter aceito, como parte do mundo criado, a agonia injusta de pequenas pessoas que vieram ao mundo recentemente e que acabam por ser expulsas dele em meio a um absurdo sofrer.

Na história da filosofia contemporânea, o filósofo Marcel Conche inspirou-se em argumentos muito próximos aos Camusianos para formular suas provas da inexistência de Deus com que abre sua obra Orientação Filosófica. [28]
O ateísmo, em Camus, parece ser a decorrência necessária da lucidez daqueles que não escamoteiam o absurdo da existência e que, através da revolta, alçam-se do “eu sou” ao “nós somos”: superando o racionalismo idealista de René Descartes e seu cogito (“penso, logo existo”), Albert Camus propôs o cogito existencialista-ateu, digno de virar bandeira de todos nós que nos solidarizamos na revolta contra os males de que o mundo terrestre está repleto: “eu me revolto, logo somos”.
Ao adoecer, o padre Paneloux recusa-se terminantemente a chamar um médico – ainda que soubesse que o Doutor Rieux estaria a postos, prestativo, para atendê-lo, sem poupar esforços para salvá-lo. Para o padre Paneloux, há uma contradição insolúvel entre a fé e a ciência: para manter-se crente, ele precisa recusar a medicina. No extremo do delírio desta fé auto-destrutiva, prefere fechar as portas ao socorro que poderia lhe vir dos terráqueos, permanecendo aberto apenas ao socorro que lhe viria do divino. Agarra-se ao crucifixo, recusando hospitais e remédios.
A desastrosa escolha de Paneloux o conduz a uma agonia horrorosa, sem analgésicos nem morfina, em que ele decide imolar a saúde num altar imaginário onde pensava estar encontrando a salvação. Encontrou apenas a morte absurda dos que desdenham daquilo que o ser humano pôde inventar, neste mundo, em prol do auxílio mútuo e da solidariedade concreta.

No livro de George Minois sobre A História do Ateísmo, Camus aparece como um artista-pensador que jamais recomenda que percamos tempo de vida com a ânsia de ascensão a um Paraíso transcendente, prometido aos “eleitos”, aos que tenham sido dóceis e obedientes nesta vida. Camus convoca para que trabalhemos juntos neste mundo para torná-lo menos opressivo e mais amável, o que exige que possamos assumir nossas responsabilidades. Não aquela responsabilidade de “servir a um ser imortal”, mas sim a de livrar-se desta subserviência para assim “assumir todas as consequências de uma dolorosa independência”. (MINOIS: p. 671) [29]
Como diz Marcelo Alves, na obra A Peste está ilustrado que “o pessimismo de Camus, longe de ser resignado ou valorar negativamente a vida, pretende, através da revolta diante da peste, culminar num lúcido sim à vida.” (ALVES, M. Pg 98) [30] De modo que a lucidez é uma das virtudes que Camus celebra entre as supremas. Não a lucidez derrotista, resignada ou solitária, mas a lucidez clarividente, a capacidade de enxergar com clareza, inclusive e sobretudo os males concretos que nos afligem e aos quais só a solidariedade das revoltas pode fazer frente.

CAPÍTULO 7: A CONCRETUDE EM CARNE-E-OSSO DE NOSSA CONDIÇÃO
A tarefa de ver claro torna-se mais difícil diante dos flagelos da peste, da pandemia, da guerra, pois enxergá-los em toda sua horrífica realidade é perturbador para a psiquê humana, que vê-se em apuros para “digerir” tais experiências. Preferimos então recusar a concretude dos sofrimentos das pessoas de carne-e-osso para olhar o problema através do prisma de pálidas abstrações e estatísticas. Pode-se ler em livros de História que umas 30 pestes que o mundo conheceu fizeram cerca de 100 milhões de mortos, mas quem nunca viu nem conheceu sequer um desses vivos transformados em cadáveres pode se ver tentado a deixar-se esse número torna-se uma fumaça na imaginação, sem carne e sem sangue.
Por isso a literatura é tão crucial e imprescindível: ao ler uma obra como A Morte de Ivan Ilítch, de Tolstói, podemos ter acesso a uma morte concreta e individualiza, que nos comove pelo que tem tanto de idiossincrática quanto de expressiva da condição humana geral. A Peste de Camus também funciona maravilhosamente como um dispositivo literário de concretização, um livro destinado a nos ensinar como os seres humanos de carne-e-osso lidam com o flagelo pestífero. A certo ponto, o Doutor Rieux relembra da peste de Constantinopla, que em seu pico fazia 10.000 vítimas fatais por dia, e pede que imaginemos o público de 5 grandes cinemas sendo assassinado na saída do filme (pg. 42).
Dar concretude às estatísticas, fornecer carnalidade aos números, fazer-nos sentir visceralmente aquilo que se esconde por trás de relatórios burocráticos ou meditações abstratas, é uma das funções essenciais da literatura. Rieux está impedido por seu ofício de médico de “abstrair” em meio à peste pois é obrigado a lidar com a concretude de doentes e mortos, de tosses e catarros, de agonias e cadáveres. Sua lucidez é trágica! E a única salvação que concebe é a união solidária de pessoas que trabalham juntas contra o flagelo. Pois isolar-se, fechar-se na mônada e no monólogo, não é nenhuma solução contra o absurdo. Separação e isolamento nunca serão panacéias.

O ator William Hurt, que interpreta o médico Rieux na adaptação cinematográfica do romance de Camus realizada por L. Puenzo em 1992
Rieux recusa a resignação, a prece, a passividade. Tampouco deseja fazer pose de herói. Sua humildade lúcida está em saber que não salvará todo mundo, apenas alguns corpos por algum tempo. Este médico sabe que suas vitórias são sempre provisórias mas que esta não é uma razão para cessar de lutar. Trata-se sempre de adiar a morte para mais tarde, pois restabelecer a saúde de alguém jamais significa livrá-lo da incontornável finitude.
– Já que a ordem do mundo é regrada pela morte, talvez convenha a Deus que não se creia nele e que se lute com todas as forças contra a morte, sem levantar os olhos para o céu onde ele se esconde. (ALVES, op cit, p. 106) [31]
Este ateísmo Camusiano, que se manifesta em Rieux, tem a ver com uma crítica que o autor de O Homem Revoltado faz ao processo de sacrifício de pessoas concretas em nome de um ideal, um valor absoluto, uma abstração descarnada. Até mesmo Marx e Nietzsche são denunciados por Camus por terem instituído uma espécie nova de idealismo em que a sociedade sem classes do futuro comunismo ou os espíritos livres e Übermensch do porvir serviriam como ideais laicizados. Assim, substituem a noção religiosa de outra vida, acessível pela morte, por uma outra vida a ser construída e concretizada mais tarde – trocam o além pelo mais tarde. Chamo isto de uma oposição entre uma transcendência vertical (as pessoas que crêem numa ascensão ao céu, após a vida terrena) e a transcendência horizontal (as pessoas que crêem numa transfiguração desta vida terrena nos amanhãs cantantes de um futuro que está no horizonte).

Se o entendo bem, Camus propõe uma imersão na imanência em que possamos celebrar as núpcias com a vida e a natureza, nas quais devemos amorosamente nadar como peixes deleitando-se na imensidão do mar. É óbvio que este mar está repleto de tubarões, que há predação e peste, sofrimento e finitude, injustiça e opressão, mas também extremas belezas e deleites, uma grandeza implacável que devemos aceitar e abraçar com toda lucidez e clarividência que pudermos. Viver é mergulhar no absurdo mas não deixar-se afogar aí. Este banho de absurdo só pode ser redimido pela cumplicidade revoltado dos solidários, dos justos, dos que trabalham juntos em prol de uma realidade menos absurda. A medicina, para Rieux, é um trabalho de Sísifo ateu – e é preciso imaginá-lo feliz, empurrando pedregulhos montanha acima, no aprendizado perene com todos os esforços e tombos.
Em O Mito de Sísifo, Camus escreveu: “Se Deus existe, tudo depende dele e nada podemos contra sua vontade. Se ele não existe, tudo depende de nós.” [32] A fé em Deus desempodera o ser humano, coloca-nos na dependência de uma vontade alheia e de uma autoridade transcendente, condenando-nos à “minoridade” tutelada de uma criança que não ousa fazer uso pleno da força de sua razão [33]. Já o ateísmo nos liberta para as difíceis tarefas da responsabilidade, da solidariedade, das construções coletivas de sentido que façam frente aos absurdos que sempre ameaçam nos submergir.
Confinados na finitude de uma vida que fatalmente terminará, condenados à angústia que é o ambiente perene do ser humano lúcido, temos somente esta vida, este mundo, este espaço, este tempo, para celebrar nossas fenecíveis núpcias com o real. Quem não se revolta contra as injustiças e opressões que impedem estas núpcias, quem não se solidariza diante dos males que nos afligem em comum, este é um semi-vivo ou um zumbi, sempre necessitado de ser despertado pelas amargas mas salutares verdades que a arte e a filosofia podem conceder.
Sem além nem deus, espíritos livres Camusianos plenamente fiéis à terra, sejamos Sísifos felizes! Estejamos aqui-e-agora solidários, lúcidos, clarividentes e reunidos na revolta. Somando forças, alentos, beijos, amplexos, vozes e obras que permitem nossas núpcias com a vida, a natureza e os outros. Sem nunca esquecer que a angústia solitária precisa ser transcendida por uma revolta solidária que seja o emblema em ação de nossa “insurreição humana” – aquela que, como escreve Camus em O Homem Revoltado, “em suas formas elevadas e trágicas não é nem pode ser senão um longo protesto contra a morte, uma acusação veemente a esta condição regida pela pena de morte generalizada.” [34]
Por Eduardo Carli de Moraes
A Casa de Vidro [www.acasadevidro.com]
Goiânia, Maio de 2020
Link permanente para este artigo:
https://wp.me/pNVMz-6hz
REFERÊNCIAS E NOTAS BIBLIOGRÁFICAS, CINEMATOGRÁFICAS E FONOGRÁFICAS
[1] CAMUS, Albert. Núpcias / O Verão. Editora Círculo do Livro, 1985.
[2] THE FLAMING LIPS. Ao usar a expressão “grau de realização da mortalidade”, penso sobretudo nos versos de uma canção da banda estadunidense de rock alternativo The Flaming Lips, chamada “Do You Realize?” (também interpretada por Sharon Von Etten), presente no álbum Yoshimi Battles The Pink Robots, em que o ouvinte é interpelado pela questão: “você realmente percebe que todo mundo que você conhece um dia vai morrer?” The Fearless Freaks é um excelente documentário sobre a trajetória da banda.
You realize that life goes fast
It’s hard to make the good things last
You realize the sun doesn’t go down
It’s just an illusion caused by the world spinning round…”
NADA FICA de nada. Nada somos.
Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos
Da irrespirável treva que nos pese
Da humilde terra imposta,
Cadáveres adiados que procriam.
Leis feitas, estátuas feitas, odes findas —
Tudo tem cova sua. Se nós, carnes
A quem um íntimo sol dá sangue, temos
Poente, por que não elas?
Somos contos contando contos, nada.
— Ricardo Reis (heterônimo de Fernando Pessoa), in “Odes”.
[4] BECKER, Ernest. A Negação da Morte (The Denial Of Death). Vencedor do prêmio Pulitzer, o livro também inspira o documentário The Flight From Death (2005), que compartilhamos na íntegra a seguir:
[6] PARRA, Nicanor. O poeta chileno que viveu 103 anos (1914 – 2018), irmão da lendária cantora, compositora e folclorista Violeta Parra, escreveu muitas profundas reflexões sobre a morte.
[7] EPICURO. Carta Sobre a Felicidade (a Meneceu). Sobre o tema, acesse em A Razão Inadequada o artigo Epicuro e a Morte da Morte.
[8] MONTAIGNE, Michel. Ensaios. Capítulo XX. Em: Os Pensadores, Abril Cultural.
[9] BANDEIRA, Manuel. Libertinagem. Publicado originalmente em 1930.
[11] MUJICA, José. Em: Rede Brasil Atual.
[12] BRECHNER, Alvaro. La Noche de 12 Años (2018), filme uruguaio que retrata ações do militantes Tupamaros, que lutavam contra a ditadura militar, e suas vivências na cadeia.
[13] CAMUS, A. La Peste. Folio: 1999, Pg. 191.
[14] ONFRAY, Michel. A Ordem Libertária – A Vida Filosófica de Albert Camus. Flammarion, 595 págs. Citado a partir de artigo na Revista Cult.
[15] ALVES, Marcelo. Camus: Entre o Sim e o Não a Nietzsche. Florianópolis, 2001, Ed. Letras Contemporâneas.
[16] CAMUS. Essais, Paris: Gallirmard, 1993, 75 – 80.
[17] [18] [19] ALVES, M. op cit, idem nota 15.
[20] RIBEIRO, Hélder. Do Absurdo à Solidariedade: A Visão de Mundo de Albert Camus. Lisboa: Editorial Estampa, 1996. Pg. 89-90.
[21] BBC News Brasil. ‘A Peste’, de Albert Camus, vira best-seller em meio à pandemia de coronavírus.
[22] [23] ALVES, M. op cit, idem nota 15.
[24] CAMUS, A. La Peste. Op cit.
[25] MBEMBE, Achille. Necropolítica. Saiba mais em A Casa de Vidro.
[26] ALVES, M. op cit, idem nota 15.
[27] SLAVOJ ZIZEK fala em “the temptation of meaning” ao responder as questões de Astra Taylor, realizadora do filme documental Examined Life: “Meaning allows us to create fantasies which defend ourselves from the awful truth that we’re bags of meat who can never escape death. That is, the turn towards subjectivity is itself a defense mechanism against the fact that the universe doesn’t care. God, whether He be loving or vengeful, is a way of turning this utter indifference into a fantasy of mattering.”
Um combate contra o Absurdo | Albert Camus (documentário completo e legendado)






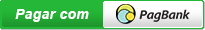













 O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semiloucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassi, nunca se dava isso. Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações…” (p. 779)
O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semiloucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassi, nunca se dava isso. Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações…” (p. 779)


























