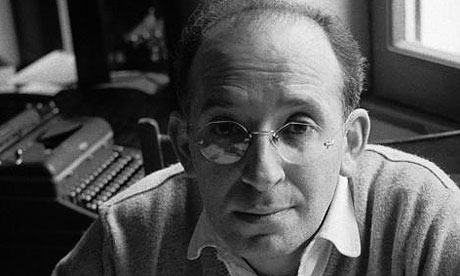A GUERRA DO COMEÇO DO MUNDO
A GUERRA DO COMEÇO DO MUNDO
Uma reportagem de Eliane Brum, com fotografia de Lilo Clareto. Originalmente publicada em 2001.
“Roraima e o mundo abriram a semana passada com a notícia de mais um suposto sangrento conflito entre muitos que já ocorreram no barril de pólvora chamado município de Uiramutã, localizado no coração da polemizada reserva indígena Raposa-Serra do Sol. A história recente mostra um cordão bastante extenso de atos de vandalismo e atividades terroristas. O menor sinal de quebra da ordem pública é suficiente para explodir como uma bomba bem ao estilo do conturbado Oriente Médio. As notícias que chegaram na manhã de domingo à capital roraimense, e por certo extrapolaram as divisas do Estado, cruzando as fronteiras, indo ter ressonância imediata em países do Primeiro Mundo, eram de que índios ligados ao Conselho Indígena de Roraima (CIR) teriam invadido as obras de construção do aquartelamento do 6o Pelotão Especial de Fronteira, tocando fogo nas dependências e trocando tiros com os militares baseados naquele local. (…) Mas todo o alvoroço registrado no intervalo de 21h30 a 22 horas de sábado não passou de alarme falso. O Exército não conseguiu estabelecer se era índio, branco ou marciano o único ser que chegou a ser visto apenas pelo sentinela. (Francisco Espiridião, jornal Tribuna, 2 a 8/9/2001)
O dedo acusa a Via Láctea. “Lá!”, berra o homem. À beira do Rio Branco, em Boa Vista, ele levanta-se intempestivo. Os filhos que brincavam ao redor da mesa se imobilizam. Os clientes do Meu Caso, bar de petiscos, suspendem as conversações. Esquadrinham o céu em alerta. “Os americanos espionando a Amazônia”, esclarece. Satisfeito com a perspicácia, volta a sentar-se. Missão cumprida. Perto dele ninguém será enganado por satélites vestidos de cordeiro.
Encravado no extremo norte do mapa, Roraima é assim, 324.152 pares de olhos em ação de vigília permanente. Os demais 172.675.848 brasileiros desconhecem, afinal ainda hoje confundem Roraima com Rondônia, Boa Vista com Porto Velho, mal suspeitam do que se passa nas sobrancelhas do país continental. Sabem mais hoje sobre o Afeganistão que sobre o ex-território, transformado em Estado pela Constituição de 1988. Ligados na CNN, os brasileiros não adivinham. Mas Roraima está em guerra.
Enclave de brancos cercados de índios por todos os lados, coleciona alguns dos títulos mais curiosos do Brasil sem que o Brasil perceba. É o Estado mais aborígine, com 57% do território ocupado por 30 mil índios. É o mais despovoado: cada um dos 324 mil habitantes, 200 mil deles na capital, tem, em tese, 1,5 quilômetro quadrado à disposição. Representa 0,2% na população do país, motivo pelo qual nem sequer é visitado pelos candidatos a inquilinos do Planalto. Os 184 mil eleitores são pouco menos que a zona eleitoral do bairro de Jabaquara, em São Paulo. No terceiro milênio ainda está em fase de colonização, eldorado de 1.000 novos migrantes por mês, metade deles recém-chegada do Maranhão de Roseana Sarney.
À noite, Roraima fecha. Por terra, ninguém sai, ninguém entra. O Estado tem duas estradas asfaltadas. A BR-401 liga a capital a Bonfim, na fronteira com a Guiana, mas quem quiser cruzar em direção ao país vizinho precisa chegar antes das 17 horas, o último horário da balsa. Em corte longitudinal, a BR-174 une Boa Vista a Manaus e a Pacaraima, vizinha da Venezuela. Ao norte da rodovia, a fronteira com Santa Elena de Uiarén fecha às 22 horas. Ao sul, permanece trancada, com cancela e tudo, das 18 às 6 horas: os 125 quilômetros na divisa com o Amazonas cruzam a reserva dos uaimiris-atroaris, que não querem nem ouvir falar de brancos circulando na madrugada.
Roraima é uma terra isolada, ligada ao resto do país apenas por uma transfusão de recursos — intensa e de mão única — de Brasília para o Estado. Mais perto de Miami que do Rio de Janeiro, a capital vive em crise de identidade. Quando um roraimense viaja, anuncia aos amigos: “Vou para o Brasil”. A primeira pergunta aos “estrangeiros” é: “Vieram do Brasil?” Por Brasil, entende-se tudo o que existe do Amazonas para baixo. Para cima está Roraima, cuja geografia nem mesmo se enquadra na canção de Chico Buarque, sobre não existir “pecado do lado de baixo do Equador”. Quase 100% do território de Roraima fica acima, no Hemisfério Norte. O senso comum nem sequer reconhece um paradigma geográfico: o Monte Caburaí é o ponto mais setentrional do país, mas ao sul de Roraima vive se repetindo a clássica “do Oiapoque ao Chuí”. A síntese mais famosa do brasileiro é Macunaíma, o herói dito sem caráter do modernista Mário de Andrade. Pois o mais brasileiro dos brasileiros é uma lenda dos índios macuxis, de Roraima. Nunca se dá o crédito.
Assim, isolado, maltratado até, e um tanto órfão, Roraima vive a guerra do começo do mundo. E ninguém se importa. O Brasil não dá importância a Roraima, mas Roraima importa-se muito. Boa parte dos habitantes acredita piamente que será tomado do Brasil a qualquer momento. Espremidos entre a Venezuela, a Guiana e o Amazonas, defendem a tese de que o império de George W. Bush está de olho no rico subsolo roraimense, com suas jazidas de ouro, diamantes e cassiterita. As organizações não-governamentais e os missionários religiosos usam a desculpa de proteger os índios, mas não passariam de testas-de-ferro do ávido Primeiro Mundo. Quando todas as terras indígenas forem demarcadas, os nativos vão declarar independência, de imediato o país será reconhecido pela ONU e o território miliardário anexado. Essa tese é defendida até em documentos entregues a Fernando Henrique. Graças a ela, o Estado é partido em trincheiras. Até mesmo geográficas: floresta à esquerda, lavrado à direita. Assim, no céu de Roraima, nem as estrelas cadentes escapam à suspeição.
Os brasileiros, mais preocupados com o noticiário do centro econômico e político nacional (leia-se o estreito circuito entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília) ou com os ataques sangrentos de Bush e Bin Laden, têm perdido o mais fascinante capítulo da história do país. Em pleno século XXI, Roraima protagoniza a última guerra entre brancos e índios. E várias pequenas batalhas entre índios e índios. É o Brasil de 500 anos atrás acontecendo agora. Em tempo real, para manter o jargão da moda. Sem a CNN nem Pero Vaz de Caminha, out of Brazil, out of the world.
Num dia comum no oeste de Roraima, um ianomâmi da aldeia Xaruna chamado Chicão espanca a mais bela de suas duas mulheres na mata. Abandona a adolescente desmaiada, a cabeça aberta como uma flor de sangue. Ao voltar sozinho para o xapono, a casa comunitária, o povo se espanta, se agita. Os índios perseguem a menina pela floresta, perscrutam os sons. Só encontram um rastro de sangue ainda morno. Desolados, concluem que fora devorada por uma das onças que patrulham o território.
Numa manhã comum no sul de Roraima, a maranhense Cleonice Conceição, de 36 anos, despenca do ônibus, traz no corpo a poeira dos caminhos. A fome azeda o estômago, o medo escala o esôfago. Pela mão arrasta os dois filhos, Silene, de 15, e Rosenildo, de 8, assustados como ela, resignados também. Carregam um colchão emprestado, meia dúzia de roupas, as escovas de dentes penduradas na caixa de papel. Cleonice não tem um centavo. Gastou tudo o que amealhou com a venda de um guarda-roupa e de uma mesa na viagem de Santarém, no Pará, a Rorainópolis, a porta de entrada de Roraima. Não tem para onde ir.
Numa tarde comum no leste de Roraima, Maurício Habert Filho, de 54 anos, supervisiona a labuta dos guianenses contratados para a safra de melancias, suor barato e abundante na região. O pensamento atravessa o oceano. O agricultor vaga pelas ruas de Paris, cujas luzes não conhece. De lá veio seu pai, Maurice Habert, ladrão e desertor da Primeira Guerra Mundial, fugitivo de prisões da Guiana Francesa. Depois de 26 dias numa balsa feita de folhas, bebendo água da chuva, aportou na costa da Guiana Inglesa com cinco parceiros salgados, cozidos em sol, em farrapos por dentro e por fora. O sexto tombara na travessia. Perfurou a selva e alcançou o Brasil em 1941. Tornou-se pioneiro no território de ninguém.
Maurício está decidido a limpar o nome do patriarca. Empenha-se em desmentir a teoria de que Maurice foi cúmplice de Papillon, herói da vida e do cinema. Pior ainda, quase engasga ao contar, que Maurice era homossexual. Tudo uma confusão com outro prisioneiro de mesmo nome, como tem provado em documentos que vão e voltam da França. O filho só pensa na honra do pai.
Numa noite comum no norte de Roraima, o sentinela do 6o Pelotão de Fronteira, quartel em construção no município de Uiramutã, sobressalta-se. Adivinha um vulto na escuridão, despacha um foguete sinalizador para o alto. Abaixo, a comunidade, em vigília permanente de olhos e intrigas, interpreta: “Os índios invadiram o quartel”. Imediatamente, armam-se de paus e pedras. Marcham em direção à aldeia, no outro lado do igarapé que divide brancos e índios em trincheiras de ódio. “Vamos botar fogo na maloca”, é o grito de guerra.
É um dia comum em Boa Vista, capital de Roraima. A bordo do ultraleve, Walter Vogel, de 56 anos, apalpa o horizonte com os olhos azuis do berço suíço de Berna. O pai plantava em 7 hectares no país seis vezes menor que Roraima. Para Walter faltava ar no cenário claustrofóbico. Se fez homem em busca de espaço e, com pouco mais de 20 anos, carregou a mulher pelos descaminhos da América do Sul à procura de uma pátria para o coração. Só a encontrou 19 anos atrás, ao parar no meio da ponte sobre o Rio Branco. Auscultou o peito, pronunciou: “Este é o meu lugar”. A 3 mil metros, desliga o motor e plana, torna-se um homem-pássaro no país que escolheu.
A oeste de Walter Suíço, a floresta proibida dos ianomâmis, 9,7 milhões de hectares estendidos como um tapete verde e úmido sobre Roraima e Amazonas, assemelha-se a um universo primordial. Rios de sucuris gigantes, cachoeiras cinematográficas, árvores eternas. Quase o dia da criação. Os índios, feitos dessa mesma matéria original, se mimetizam à selva, invisíveis ao primeiro olhar, aconchegados ao ventre de Omamë, o precursor de tudo segundo sua cosmologia. Revelam ao cibernético século XXI, agora tragicamente confrontado com as diferenças que julgava encobrir, um modo de viver semelhante ao dos primeiros ancestrais. Dos povos mais isolados do planeta, travam a guerra do começo do mundo enquanto o planeta globalizado ameaça manchar a Terra com um ponto final.
Chicão, essa espécie de tataravô mítico do imaginário ocidental, duvida do rastro da mulher que espancou. Não sente no sangue o cheiro da morte. Fareja, descobre. Sua índia foi raptada por um makabei. Não vacila. Precisa retomar a fêmea. Assim manda o costume. Começa mais uma batalha entre irmãos.
A região que se estende por Surucucu, Parafuri e Arathaú é a mais belicosa do território, dilacerada por brigas que ninguém sabe como começaram. Assemelham-se ao horror eterno entre judeus e árabes. Impossível localizar o assassinato original. Ou o primeiro rapto de mulher.
Os ianomâmis cremam seus mortos, guardam as cinzas por meses, marcam o dia em que serão banqueteadas com mingau de banana. A cabaça que guarda os despojos existe para lembrar o imperativo de vingá-los. Assim, para cada um que tomba numa disputa, outro cairá em seguida, numa interminável fogueira de ódio. Desde que 40 mil garimpeiros alcançaram o território em busca de ouro nos anos 80, a tradição guerreira tornou-se a segunda causa de morte. Os brancos carregaram as espingardas para o útero da selva, com elas compraram o silêncio e mais tarde a cumplicidade dos índios. Desequilibraram os conflitos.
“Quem criou vocês? De onde vieram? Qual é sua raiz?”, indaga Davi Kopenawa, o grande líder ianomâmi, um dos poucos a falar português. “Antes, morriam dois dos nossos. Vocês trouxeram as espingardas, inventaram as bombas, os aviões, a guerra pesada. Trouxeram as doenças. E agora morrem 200, milhares.” Davi peregrina pelo território numa campanha de desarmamento. Troca as armas dos índios por panelas de alumínio.
Nem panelas tem a maranhense Cleonice. “Só vim com a coragem e a fé em Deus”, diz, falando mais com os olhos de fogo perpétuo dos migrantes nordestinos que com a boca. Tem menos dentes que esperança. Rorainópolis, aonde ela chega, é uma das cidades que mais engordam no Brasil: saltou de 7.500 habitantes em 1996 para 17.500 no último censo. Os pés de êxodo de Cleonice preenchem as estatísticas, ela e o exército de refugiados eternos na própria pátria, em busca da terra prometida que sempre escapa como se o mapa inteiro fosse de areia movediça.
Cleonice procura os conhecidos de janela em janela, encontra abrigo numa casinha de porta vermelha de outro retirante. Instalam-se ela, suas crianças e suas trouxas, sonhando cada vez menos, cada vez mais escuro. Corre até a rodoviária, o centro de tudo num lugarejo que só se multiplica no desespero. Encontra Sindi da Silva, a moça de coração generoso e língua afiada, que vende bilhetes mais de ida que de volta e fitas piratas com músicas de marido traído e “outras para quem só está treinando para corno”. Sindi está alarmada, não se conforma, uma paca devorou a perna de uma conhecida no centro da cidade. “Tem cabimento criar uma paca em casa? Por que não cria galinha? Diz que tem amor pela paca, alimentada na mamadeira, que mundo”, apavora-se. Cleonice, aflita, dá o recado, “quando o meu homem chegar diga que estou na casa de porta vermelha”.
Sindi promete, acostumada que está, também ela vinda de outro canto. Por ali são todos forasteiros, todos teimosos. E todos fazendo de conta que aquele rincão poeirento, feioso e pobre, com tanto calor quanto moscas, é o éden bíblico que os pastores não se cansam de lhes prometer. Só para ao final descobrir que por paraíso esperam apenas um lugar de onde não sejam expulsos por mais uma fome, cansados de andar, com mais bolhas na alma que nos pés. Então enfeitam o que lhes coube no mundo com flores de plástico, almofadas de franjas, tapetes de pavões do Oriente, penduram provérbios pelas paredes, reúnem sua pequena fortuna mais de desejos que de concreto. “Cheguei com R$ 10, três panelas, duas delas furadas, e uma mulher grávida”, conta Braulino da Silva, de 51 anos. “Agora tenho casa e trabalho pro governo. A casa fica na frente do cemitério, mas não faz mal, é pra lá mesmo que eu vou um dia e assim já encurta o caminho.” No balcão de Sindi ele se prepara para fazer uma ligação, mandar um recado para a família baiana. “Que venham, melhor que aqui só no Céu.”
Bem mais perto do inferno fica Uiramutã. Brancos e índios estão decididos a resolver no pau, talvez nos tiros, quem é o dono daquele pedaço de Brasil. Trata-se de 1,7 milhão de hectares de cerrado, demarcados, mas nunca homologados, povoados por 12 mil macuxis, ingaricós, uapixanas, taurepangues e patamonas. Sobre essa terra desenham-se as plantações de arroz dos gaúchos, única cultura em que Roraima é auto-suficiente. Nela se escondem os diamantes que movem a cobiça tanto de garimpeiros avulsos, pobres e estropiados, como das grandes mineradoras. E, por fim, elevam-se as vozes dos políticos — e seus interesses — em nome do “desenvolvimento do Estado”. Na última guerra entre brancos e índios, 500 anos após o Descobrimento, os dois lados só comungam de uma ameaça: se o governo federal não se apressar, “vai ser um banho de sangue”.
O tuxaua de Uiramutã, Orlando da Silva, de 58 anos, confere a posição do inimigo pela janela. “Estou cercado”, constata. Da aldeia avista o quartel em construção, a cidade a sua porta. Um e outro, acredita, instalados com o objetivo de ficar no caminho da reconquista da terra. “Não tenho sossego. Se isso acontecer, voltaremos a ser escravos.” Ele sabe o que diz. Aos 8 anos foi vendido pelo pai a um comprador de diamantes por cinco sacas de sal, uma enxada e um machado, um forno e uma espingarda. Só aos 17 conseguiu romper o jugo e voltar. “Encontrei índios encachaçados, mulheres abusadas, forró o dia todo. Nenhuma roça, só meu povo trabalhando para o branco em troca de nada”, lembra. “A isso chamam de boa convivência entre índios e brancos.”
Outra guerra preocupa Maurício Habert. Ele vive numa cidade batizada de Normandia em homenagem ao desembarque das tropas aliadas. Tem na carne a prova dos fios que se entrelaçam para construir destinos só previstos em cenas do realismo fantástico. A saga da família de Maurice Habert, pai de Maurício, é a própria gênese de Roraima, terra de aventureiros proibidos de conjugar o tempo pretérito, em busca furiosa do futuro. Um ladrão de Paris, fugitivo dos calabouços da Guiana Francesa, garimpeiro, marreteiro e produtor de tomates no Brasil funda uma cidade de nome Normandia a leste do fim do mundo. Por ironia ou por culpa, ninguém sabe dizer, já que Maurice fechou a boca sobre o passado e poucas explicações dava para o presente, batizou-a em homenagem ao fim da Segunda Guerra quando tinha fugido já da primeira. Fez três filhos numa mestiça, Maurício Filho, Marta Maria e Joel. Maurício e Joel plantam melancias, Marta foi varada a balas pelo marido.
Maurice morreu de câncer no pulmão aos 68 anos graças a duas carteiras diárias de Continental. Não viveu o suficiente para saber dos nove netos e oito bisnetos. Muito menos para constatar que a cidade semeada por ele viraria o berço do forró de Roraima. Pipoquinha de Normandia é a banda mais famosa, tem seu neto, Joel Perley, no teclado. Outros dois, Joeldson e Maicon, arrastam os pés de Roraima no grupo da Lambe Sal.
A Pipoquinha tornou-se a banda da hora nos eventos oficiais. Sua música transforma a Praça das Águas, em Boa Vista, no palco de uma grande fornicação dançante porque ao norte do Equador há pecados, sim, muitos e de antemão absolvidos. Enquanto as crianças brincam, o povo se esfrega, esquece das dores. Alguns, como o poeta Eliakin Rufino, de 45 anos, acham uma pobreza o tal do forró. Mera importação do que de mais indigente há na fortuna musical do Nordeste. Ele é o filósofo de Roraima, o pensador de um ponto de interrogação, a identidade roraimense. Sim, porque nem sobre isso há unanimidade.
O que seriam eles afinal? Os 11 mil migrantes que ultrapassaram a divisa somente no ano passado? O senador Romero Jucá, o mais conhecido político no cenário nacional, pernambucano da gema? Ou sua mulher, Teresa Jucá, prefeita de Boa Vista e tão pernambucana quanto? Ou outro pernambucano legendário, ex-governador, ex-prefeito, eterno candidato, o brigadeiro Ottomar Pinto? Talvez o governador Neudo Campos, nascido e criado em Roraima. Os índios, provavelmente, por isso é que os ditos roraimenses se referem aos da terra como “macuxis”. Mas estes são apenas uma das nove etnias do Estado, complicando tudo mais uma vez.
Eliakin, buliçosa mistura de brancos, negros e índios, compôs três definições para capturar a amplitude dos da terra. “Roraimense é quem nasce, roraimada quem não nasceu mas ama, roraimoso só suga o Estado”, explica. “Boa Vista é a cidade mais brasileira do país. Contém o Brasil inteiro. O sul é europeizado, o Nordeste é africano, o Sudeste é americanizado e nós é que somos brasileiros!” Decidido a derrubar a ideologia da desinteligência nativa, tornou-se o comandante da cruzada contra o forró.
Também na arte Roraima vive em guerra. De um lado da paliçada, Eliakin canta: “Já em Roraima encontrei muito garimpeiro/Todo mundo fissurado por dinheiro/Matando índio e pondo as índias no puteiro/Tudo por causa de um pedaço de metal/Amazônia Legal, não há nada igual/Amazônia Legal, destruição é geral”. Do outro lado da muralha, a Pipoquinha responde em versos: “Não sou preconceituoso, mas certas coisas não aceito/Se o índio é igual a gente, por que ele tem mais direito?/Roubar gado, tocar fogo em ponte/Pro índio é uma diversão/Rouba tudo do fazendeiro e ainda quer demarcação/Área contínua, não/O índio tá querendo é ser nosso patrão”.
A música escolhe a posição no tabuleiro da Raposa-Serra do Sol, disputado por peões, bispos e cavalos em Uiramutã. Os brancos culpam os padres que um dia vieram batizar, casar e enterrar os filhos de fazendeiros e, não se sabe por qual sussurro de Deus ou do diabo, mudaram de trincheira. “A ala esquerdista da Igreja Católica gerou o ódio nas comunidades”, discursa a prefeita, Florany Mota, de 29 anos. “Os índios têm centros de treinamento de guerrilha, fazem reuniões secretas na aldeia do Maturuca. É lá que mora o padre Jorge, é ele quem comanda tudo”, garante o marido, Sebastião Silva, o Babazinho.
Espécie de Padre Antônio Vieira de Roraima, odiado um como foi o outro pelas elites em formação, o padre italiano Giorgio Dal Ben é vendido como a mente maligna que manipula os fios de marionetes de pele escura. Comandante de um exército de índios, xeque de um harém de mulheres, dono de uma fortuna em ouro e diamantes garimpada pelos fiéis, repete-se de um canto a outro do território. Basta aparecer um índio de olho azul para imediatamente tornar-se o “filho do padre Jorge”. “O cão chupando manga”, segundo a imprensa local. Tornou-se uma lenda.
Diante de tal envergadura, o pouco mais de 1,60 metro do padre de 57 anos é uma decepção. Os partidários dão paradeiros diferentes para confundir quem o procura. Encontrá-lo exige uma via-sacra. Há muito se recusa a aparecer em fotografias, convive com ameaças de morte, move-se como se enfrentasse uma Guerra Fria a 40 graus. Desconfia de tudo, de todos. Tem voz de ferro quente. “Quando cheguei a Roraima encontrei ao mesmo tempo a minissaia e uma sociedade quase feudal. Os índios viviam um quadro de morte”, descreve. “Esbarramos em um problema que se arrastou por cinco séculos e estourou nas nossas mãos. Mudar essa situação foi uma decisão pela vida. Não me interessa o que falam. A história toda é um delírio.”
Estrangeiro como o padre, Walter Suíço, o rei de Roraima, voa de ultraleve sobre seu quinhão de império. Ao avistar a terra que o marido havia elegido como eldorado pessoal, dona Heidy achou que era o limite. Pegou um avião de volta para a Suíça com os três filhos, encerrou o casamento e a paciência. Walter casou com uma maranhense, naturalizou-se brasileiro e entregou-se à conquista do novo mundo. Com tanto afinco que hoje existe um escritório em Zurique só para capturar investimentos para Roraima. Perto de US$ 20 milhões já foram semeados na região de lavrado. “Sou brasileiro por escolha, daqui ninguém me tira”, diz. Para provar, em terra tão desconfiada , ergueu ele mesmo um monumento pelos 500 anos. Nem assim o perdoam. “Quantos será que esse suíço matou para se esconder no fim do mundo?”, cochicham. Walter logo demonstra que se transformou num genuíno made in Roraima. Um paradoxo ambulante, portanto. “Os estrangeiros querem tomar conta da Amazônia”, alerta.
Os interesses internacionais sobre o que de mais verde e amarelo há no mapa revolvem os brios e a imaginação dos militares plantados em Roraima. Eles marcham pelos salões da sociedade local com toda a pompa. E uma circunstância que desde o fim da ditadura já perderam ao sul do Brasil. A principal ameaça estrangeira, na concepção de mundo de alguns oficiais, atende pelo nome de Conselho Indígena de Roraima (CIR). Sim, são os índios ligados ao presidente do CIR, o macuxi Jacir de Souza, e ao padre Jorge que conspiram contra o Brasil. “O CIR é uma ONG e como ONG está numa posição contrária aos interesses nacionais, na medida em que é contra a instalação do pelotão em Uiramutã”, brada o general Claudimar Magalhães Nunes, de 53 anos, espigado como uma espada. “Um Estado com 50% de áreas indígenas é um verdadeiro absurdo, emperra o desenvolvimento.”
Nas fileiras nativas alinhadas ao Exército, o ex-vereador, diácono da Igreja Batista Popular e também índio, Jonas Marcolino, de 33 anos, profetiza. Tem as mãos postas na Bíblia: “O povo de Deus não é só joelho no chão. É guerreiro e nunca perde batalha. Não vamos perder nosso direito à energia elétrica, à televisão e à educação por causa do padre Jorge e do CIR. Essa é uma guerra entre o povo de Deus e o povo do diabo”.
Deus é muito popular em Roraima. O problema é que lá, como no resto do mundo, não se sabe bem de que lado está. O crente Francisco Gildo dos Santos, de 35 anos, tem certeza de que ele acompanha cada um de seus passos tristes, muitas vezes descalços até de esperança. Cada um deles tão difícil, tão moroso de consumar. Para alcançar a mulher, Cleonice, e os dois filhos trabalhou cinco dias como pedreiro em Santarém. Com os R$ 50 recebidos chegou a Manaus. Mais nove dias de labuta numa fruteira para completar a passagem. Ao todo 14 dias sonhando com uma casa sua na mais nova terra de leite e mel. “Uma casa, rapaz, de qualquer maneira, uma casa de madeira bem fechada, um quarto para cada filho, um computador, uma geladeira para beber água fria e um vídeo para ver filmes de pregação”, ergue os alicerces de sua utopia enquanto assenta o tijolo de mais um edifício de doutor.
Desembarca na rodoviária de Rorainópolis sem um centavo, a mesma quantia que possuía a mulher. “Cadê a minha Cleonice?”, pergunta à moça do guichê. “Procura a casa de porta vermelha e bate. Corre homem, já é madrugada.” Francisco caminha com a trouxa no ombro, pedindo ajuda à lua para não passar batido pela cor de seu destino. “Quem é?”, pergunta Cleonice, o coração pulando feito um cabrito. “É eu”, responde Francisco, a alma escapando pelas falhas dos dentes. Assim começa mais uma saga em Roraima.
E outra termina. Armados de paus, os ianomâmis se confrontam. Ao lado do xaruna se posta a aldeia de Komomassipe. Polassai e Roxeana defendem o makabei. Chicão vence a disputa ritual. Toma sua índia de volta. A paz retorna ao território. Nunca por muito tempo. Objetos de amor e guerra, as mulheres movem os homens por seu destino. Oficialmente, são condenadas à passividade. Na prática, comandam mais do que confessam os fios invisíveis de suas vidas. Os roubos são consentidos, muitas vezes combinados. Como em outras culturas, as fêmeas vencidas pela força tramam seus ardis no território que dominam melhor, o da sutileza, seguidamente o do embuste. Defendem-se. Na teia de seus enredos tombam os machos. É assim, provam os ianomâmis, desde o começo do mundo.
Mais um dia comum em Roraima. No oeste os ianomâmis açulam as fogueiras eternas, nus como eram os homens no princípio dos tempos. Os dentes afiados trituram manduruvás assados na brasa. No leste, Maurício Habert mal se contém. Espera mais uma carta com selo da França provando que o pai nunca foi parceiro de Papillon na Ilha do Diabo, menos ainda homossexual. O fundador de Normandia pode até ter sido ladrão, mas muito macho. No sul, de braço dado com Cleonice, Francisco desfila por Rorainópolis. Veste uma camiseta estampada com a imagem da prefeita, expediente aconselhado por outros migrantes para conseguir uma casa. Na rádio de poste da cidade, conhecida por A Voz, o locutor Zé Passos avisa em tom solene: “Homem está precisado de uma mulher de 40 anos para cá, filho só pequeno, para compromisso”. No norte, os macuxis seqüestram um par de botinas e uma boina dos militares para mostrar quem manda naquela quina de Brasil. Diante do ataque estrangeiro, o valente general ameaça tomar os troféus de guerra “na marra”.
Não há dias comuns em Roraima.
* * * * *
ELIANE BRUM.
Olho da Rua: Uma Repórter Em Busca da Literatura da Vida Real.
Pg. 40.
COMPARTILHAR NO FACEBOOK e NO TUMBLR







 Seria razão para comemoração se a escravidão tivesse ficado para a História, confinada ao passado, mero item de museu, a ser eventualmente revivida e relembrada em obras de historiadores ou em
Seria razão para comemoração se a escravidão tivesse ficado para a História, confinada ao passado, mero item de museu, a ser eventualmente revivida e relembrada em obras de historiadores ou em 
 Como antídoto contra argumentos tão vis, em defesa do escravagismo, quanto estes que Aristóteles sustenta em sua Política, é crucial ler a obra e conhecer a vida desta figura histórica tão significativa que foi Frederick Douglass (1818-1895). Para um retrato autêntico da experiência-de-vida concreta de escravos e senhores, de escravizados e escravizadores, o discurso frequentemente abstrato, generalista e descarnado dos filósofos faz bem em deixar-se informar e iluminar por obras que carregam e comunicam a vida em carne-e-osso: caso de Os Danados Da Terra (The Wretched of The Earth), de Franz Fanon, Os
Como antídoto contra argumentos tão vis, em defesa do escravagismo, quanto estes que Aristóteles sustenta em sua Política, é crucial ler a obra e conhecer a vida desta figura histórica tão significativa que foi Frederick Douglass (1818-1895). Para um retrato autêntico da experiência-de-vida concreta de escravos e senhores, de escravizados e escravizadores, o discurso frequentemente abstrato, generalista e descarnado dos filósofos faz bem em deixar-se informar e iluminar por obras que carregam e comunicam a vida em carne-e-osso: caso de Os Danados Da Terra (The Wretched of The Earth), de Franz Fanon, Os 















 Até a ONU limpou a barra de São Pedro e afirmou que ele não tinha culpa no cartório.
Até a ONU limpou a barra de São Pedro e afirmou que ele não tinha culpa no cartório. Nas eleições, a maioria dos eleitores de SP manifestaram-se pró-Aécio, pró-Alckmin, pró-Propriedade, Polícia e Possessividade, ídolos aos quais devotam-se as elites econômicas-e-políticas deste autêntico “Tucanistão” que é São Paulo. Sinto que há uma epidemia de coxinite aguda nos paulistas; que, em massa, eles deixam-se embevecer e embrutecer por um antipetismo fanático, que é instilado nas mentes conformistas por sumidades políticas tucanas e vexaminosos panfletos da direita empresarial, travestidos de órgãos de imprensa… refiro-me, é claro, a publicações como a Veja, da Editora Abril. Ela, que foi tão vil às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais que, faltando à verdade que seria seu dever honrar, preferiu vomitar calúnias e difamações contra Dilma e Lula, ao invés de escancarar que os autênticos mentirosos de campanha eleitoral eram Alckmin e Aécio – que negaram-se a admitir que havia um Problema da Água já com seus tentáculos sobre os territórios outrora controlados pelos lordes da República-do-Café-Com-Leite.
Nas eleições, a maioria dos eleitores de SP manifestaram-se pró-Aécio, pró-Alckmin, pró-Propriedade, Polícia e Possessividade, ídolos aos quais devotam-se as elites econômicas-e-políticas deste autêntico “Tucanistão” que é São Paulo. Sinto que há uma epidemia de coxinite aguda nos paulistas; que, em massa, eles deixam-se embevecer e embrutecer por um antipetismo fanático, que é instilado nas mentes conformistas por sumidades políticas tucanas e vexaminosos panfletos da direita empresarial, travestidos de órgãos de imprensa… refiro-me, é claro, a publicações como a Veja, da Editora Abril. Ela, que foi tão vil às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais que, faltando à verdade que seria seu dever honrar, preferiu vomitar calúnias e difamações contra Dilma e Lula, ao invés de escancarar que os autênticos mentirosos de campanha eleitoral eram Alckmin e Aécio – que negaram-se a admitir que havia um Problema da Água já com seus tentáculos sobre os territórios outrora controlados pelos lordes da República-do-Café-Com-Leite.
 Ultimamente, pipocaram na internet alguns memes bastante perspicazes no trato com a calamidade em curso na Paulicéia Desvairada, que vivencia uma seca e uma crise hídrica de proporções épicas. Gosto em especial do slogan sarcástico “Em terra de tucano… quem toma banho é rei!” e da campanha “São Pedro é inocente!” A dinastia tucana que em breve completará 24 anos no comando do governo do estado de São Paulo trouxe a maior megalópole da América Latina à esta catástrofe seguindo à risca os ditames do capitalismo neoliberal: a Sabesp, tucanada e semi-privatizada, atingiu durante os governos Alckmin índices estratosféricos de lucro, para alegria de um punhado de felizardos na Bolsa de Valores, que puderam ficar milionários enquanto um serviço público essencial era sucateado e negligenciado. Este conluio entre a elite política do Tucanistão e os mega-empresários cheios-da-nota em Wall Street, com apoio da velha mídia burguesa que sempre esconde debaixo de tapetes gigantes os mega-escândalos de corrupção envolvendo o PSDB, trouxe-nos à beira da eclosão de turbulências sociais extremas.
Ultimamente, pipocaram na internet alguns memes bastante perspicazes no trato com a calamidade em curso na Paulicéia Desvairada, que vivencia uma seca e uma crise hídrica de proporções épicas. Gosto em especial do slogan sarcástico “Em terra de tucano… quem toma banho é rei!” e da campanha “São Pedro é inocente!” A dinastia tucana que em breve completará 24 anos no comando do governo do estado de São Paulo trouxe a maior megalópole da América Latina à esta catástrofe seguindo à risca os ditames do capitalismo neoliberal: a Sabesp, tucanada e semi-privatizada, atingiu durante os governos Alckmin índices estratosféricos de lucro, para alegria de um punhado de felizardos na Bolsa de Valores, que puderam ficar milionários enquanto um serviço público essencial era sucateado e negligenciado. Este conluio entre a elite política do Tucanistão e os mega-empresários cheios-da-nota em Wall Street, com apoio da velha mídia burguesa que sempre esconde debaixo de tapetes gigantes os mega-escândalos de corrupção envolvendo o PSDB, trouxe-nos à beira da eclosão de turbulências sociais extremas.