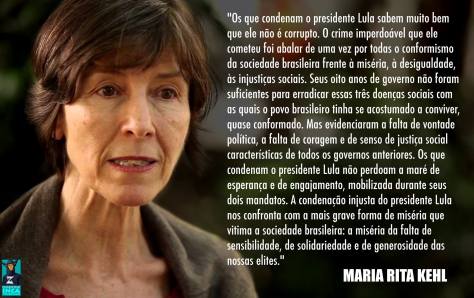“A million candles burning
For the help that never came
You want it darker
We kill the flame…”
LEONARD COHEN
Ruanda, 1994: cerca de 800.000 pessoas são assassinadas em 100 dias de carnificina. Recontada no cinema em Hotel Ruanda (de Terry George, 2004), em livro-reportagem no Gostaríamos de Informá-lo De Que Amanhã Seremos Mortos Com Nossas Famílias de Philip Gourevitch (Cia das Letras) e nos romances de Scholastique Mukasonga (três deles publicados no Brasil pela Editora Nós), a história do genocídio ruandês agora volta à tona: Black Earth Rising, série de 8 episódios produzida pela BBC e que está no acervo da Netflix, retrata os traumas e cicatrizes que marcam os sobreviventes, as testemunhas e os perpetradores deste monumental e trágico evento histórico. Ao fim do século 20, a violência ainda inundava a História Humana, este pesadelo do qual tentamos acordar (para lembrar do personagem de James Joyce, S. Bloom, que afirma no Ulisses: “History is a nightmare from which I am trying to awake”). [1]
Escrita, produzida e dirigida por Hugo Blick (também responsável pela minisérie The Honourable Woman (A Mulher Honrada), Black Earth Rising foca no trabalho de uma equipe de juristas que dedicam suas vidas ao esforço de penalização de genocidas e criminosos-de-guerra, processados em tribunais penais internacionais como o de Haia (Holanda). A personagem principal, Kate Ashby (interpretada por Michaela Coel), atravessa radicais transformações de identidade em uma trajetória para desocultar os segredos de seu passado: ela era uma criança em meio à matança generalizada deflagrada em 1994 lá em sua terra natal Ruanda, e que se estendeu pelos anos seguintes no país vizinho (Zaire / Congo).
Sem memórias claras de sua primeira infância, Kate – que foi adotada pela advogada inglesa Eve Ashby – só poderá compreender muito mais tarde os maiores mistérios de seu destino prévio. Transformada numa mulher em ação, na luta pela memória e pela justiça, ainda que tardias, Kate Ashby vai numa jornada em busca do tempo perdido bastante peculiar, desvelando os nós que entrelaçam seu destino pessoal com os destinos coletivos dos povos do Continente Matriz da humanidade, a África.

Em entrevista à BBC, Blick revelou um pouco do que o inspirou a realizar a série:
“Onde eu cheguei não é o destino que eu esperava. Alguns anos atrás, olhei para os julgamentos de Nuremberg como parte de uma pesquisa de fundo para a série “A mulher honrada “. Consequentemente, fiquei interessado em explorar como perseguimos hoje os criminosos de guerra internacionais. Comecei com o Tribunal Penal Internacional (TPI) e fiquei surpreso ao descobrir, no momento da minha pesquisa, que a maioria, senão todas as acusações formais, eram contra africanos – negros africanos. Isso então me atraiu para o Congo. O TPI não estava apenas perseguindo os perpetradores do genocídio de Ruanda, fiquei ainda mais intrigado ao descobrir que ele também estava perseguindo indivíduos que ajudaram a pôr fim ao genocídio. Ambos os lados eram procurados pelo TPI por supostas atrocidades cometidas na República Democrática do Congo após o genocídio em meados da década de 2000. Eu queria entender por que aparentes vilões e heróis estavam sendo perseguidos. E quanto mais eu olhava, mais fundo eu tinha que ir. ” (BLICK, Hugo. BBC.) [2]
 A compreensão do que ocorreu em Ruanda, em 1994, é um desafio cognitivo tremendo. As dificuldades começam pelo fato de que poucos tem estômago para mergulhar no estudo de fenômenos que são tão chocantes e angustiantes, devido à escala monumental do horror e da violência que envolvem. Philip Gourevitch escreve, sobre aquela época, de maneira bem punk, que “o governo ruandês adotara uma nova política, segundo a qual todo mundo do grupo majoritário hutu era convocado a matar todo mundo da minoria tutsi. O governo e um impressionante número de seus súditos imaginavam que exterminando os tutsis poderiam fazer do mundo um lugar melhor – e o assassinato em massa começou.” (GOUREVITCH, P. Cia das Letras, leia um trecho) [2]
A compreensão do que ocorreu em Ruanda, em 1994, é um desafio cognitivo tremendo. As dificuldades começam pelo fato de que poucos tem estômago para mergulhar no estudo de fenômenos que são tão chocantes e angustiantes, devido à escala monumental do horror e da violência que envolvem. Philip Gourevitch escreve, sobre aquela época, de maneira bem punk, que “o governo ruandês adotara uma nova política, segundo a qual todo mundo do grupo majoritário hutu era convocado a matar todo mundo da minoria tutsi. O governo e um impressionante número de seus súditos imaginavam que exterminando os tutsis poderiam fazer do mundo um lugar melhor – e o assassinato em massa começou.” (GOUREVITCH, P. Cia das Letras, leia um trecho) [2]
O trecho de Gourevitch estabelece uma distinção entre a minoria Tutsi e maioria Hutu, afirmando que a maioria, através do assassinato em massa da minoria, “imaginavam que poderiam fazer do mundo um lugar melhor”, o que é o supra-sumo do contra-senso: utilizar um meio como o assassinato em massa para atingir a finalidade de um mundo melhor é algo estapafúrdio. Só temos a lamentar a crença de muitos na tese de que “o fim justifica os meios”, quando na verdade meios atrozes e cruéis sempre hão de conspurcar os fins, mesmo os supostamente mais elevados. Creio, porém, que o buraco é mais embaixo, que o ímpeto idealista de fabricar uma realidade social melhorada através da purificação, da limpeza étnica, está calcada num dos mais sérios problemas a desgraçar a caminhada humana sobre o planeta – o racismo. Tema que Black Earth Rising evita encarar de frente.
Outra dificuldade que se interpõe como obstáculo na nossa tentativa de compreensão das ocorrências em Ruanda, em 1994, parece-me ser a seguinte: por comodismo e facilidade, ou seja, pela lei-do-mínimo-esforço que preside o trabalho de muitas mentes que se abandonam ao Império da Preguiça, temos uma certa tendência a simplificar as coisas através da perigosa prática do binarismo – e também do maniqueísmo que muitas vezes o acompanha. Usualmente, desejamos enquadrar o mundo e a história em um esquema em que separamos o joio do trigo de modo bastante tosco: há vilões e heróis, bandidos e mocinhos, a luta entre o Bem e o Mal, “ou você está conosco ou está contra nós” (recentemente, um presidente genocida como George W. Bush reciclou esta desgraça de maniqueísmo binário ao lançar sua Guerra Contra o Terror).
A realidade, porém, é muito mais complexa e destroça nossos binarismos maniqueístas. Jamais faríamos o mínimo de Justiça, nem honraríamos os deveres da Memória, tentando enquadrar, em massa, Tutsis e Hutus em uma dessas categorias: Vítimas e Carrascos. Precisamos ir além do simplismo de opor uma “coitada minoria massacrada” e uma “desumana maioria assassina”. Temos que complexificar o quadro e olhar de frente no rosto da Besta Humana. Pois a Humanidade sabe muito bem ser desumana. Nossa união ainda está por ser inventada.

PARA ALÉM DO BINARISMO E DO MANIQUEÍSMO
Um dos ensinamentos de Black Earth Rising é que não podemos cair no binarismo fácil de classificar estas etnias como vítimas (Tutsis) e carrascos (Hutus) – as posições de vítimas e carrascos são muito mais intercambiáveis. Ser um Tutsi não é um atestado de vítima, nem imuniza a pessoa contra o cometimento de atrocidades, nem tampouco ser um Hutu é um atestado de genocida, nem impede a pessoa de militar em prol da convivência pacífica.
É isto que Kate Ashby não consegue compreender a princípio: ela está aferrada à noção de que os Tutsis são as vítimas, os Hutus os genocidas. Aferrada, além disso, à crença sobre si mesma: está certa de que é uma Tutsi sobrevivente do genocídio, e tudo fará para que os responsáveis pelo morticínio escapem da impunidade de que ainda gozam. Por isso Kate suporta tão mal que sua mãe tente incriminar em Haia o General Simon Nyamoya, um chefe Tutsi que ajudou a pôr fim ao massacre, em 1994, mas depois se envolveu em crimes de guerra e tráfico de minérios no Congo, além de ter participado de uma carnificina contra um campo de refugiados Hutu em território congolês.
Baseado em fatos reais que o Mirror reconta, assim como a reportagem da BBC, Black Earth Rising merece ser vista na íntegra para que se possa ter uma experiência plena das metamorfoses de Kate Ashby no decorrer da série. Ema espécie de 1º ato, Kate Ashby reluta em ver seu herói Nyamoya sendo destronado, caindo do pedestal em que ela, e tantos outros, mantinham-no. É uma primeira amarga lição, que a impede de idealizar cegamente os chefes Tutsis que lutaram para pôr fim ao genocídio em 1994: apesar de “libertador” dos Tutsis que estavam sendo massacrados, revela-se que Nyamoya também é culpado por crimes contra a humanidade e limpeza étnica – sobretudo no episódio do “desmantelamento” (eufemismo para extermínio!) do campo de refugiados Hutus no Congo.
Mais para o fim da série, será revelado que a própria Kate esteve neste campo, sendo dele resgatada por um ativista de ONG. Quase no desfecho da série, Kate está dentro de uma cova coletiva, temendo por sua vida, como se tivesse ganho algumas décadas de sobrevivência para finalmente perecer no buraco onde deveria ter ficado enterrado seu cadáver infantil, mas percebe que um mutirão de pessoas decidiu, como ela, trabalhar para trazer à tona no presente os ossos enterrados de uma História mal contada e ocultada.

Não é possível compreender as ocorrências de que fala a série com o nosso foco exclusivamente em Ruanda em 1994: os precedentes do genocídio incluem necessariamente as ações das grandes nações imperialistas do Ocidente. Não é fora de propósito averiguar quanto do sangue derramado em Ruanda tem origens numa insanidade racista que foi inicialmente propagada pelo colonizador europeu e pelas ideologias supremacistas que marcaram não apenas o nazifascismo, mas também o escravismo nos EUA calcado na white supremacy. Sim, precisamos falar sobre ideologias racistas típicas do imperialismo “ocidental” – aquele que praticou por séculos a escravidão contra milhões de africanos – para chegar perto de entender melhor o destravamento das carnificinas ruandesas de 1994.
No fim do século XX d.C., a Humanidade descobria, atônita, nossa resiliente capacidade para o pior, somada à nossa incapacidade de autenticamente aprender com erros passados e suas funestas consequências. Parecíamos condenados a repetir, com Maslow: “O Horror! O Horror!”, frase com que se encerra O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, retrato do Congo belga no livro que depois se transformou em Apocalypse Now (filme de F. F. Coppola). O pesadelo do fratricídio entre Tutsis e Hutus segue desafiando nossa Razão a decifrar seus porquês – e diante de vidas humanas reduzidas em massa à morte, é preciso cuidado redobrado naquilo que dizemos e escrevemos. Aqui estou na postura de quem se estarrece que acontecimentos assim estejam entre nossos possíveis, mas não na postura de quem traz todas as respostas em uma bandeja.
Pelo contrário, trago uma bandeja cheia de questões: nós, que nos acostumamos a pensar sobre o racismo como um fenômeno vinculado ao “preconceito de cor”, para lembrar um samba de Bezerra da Silva, como podemos reconfigurar nossa compreensão do racismo diante daquilo que parece ocorrer entre grupos humanos que não estão separados pela barreira epidérmica das dosagens de melanina? O III Reich hitlerista assassinou em massa judeus e bolcheviques, homossexuais e ciganos, mas não consta que tenha visado, como alvos, as populações de descendência africana que estavam naquela Europa que o nazismo pretendeu subjugar a seu sinistro império. Porém, o Holocausto – o genocídio imposto pelo governo nazifascista alemão a mais de 6 milhões de judeus europeus – não é menos racista pelo fato de que, olhado através de um viés bem superficial, trata-se de brancos matando brancos, europeus chacinando europeus.
Algo semelhante me angustia diante do contexto em Ruanda nos anos 1990: Tutsis e Hutus não são distinguíveis por sinais visíveis – similarmente, olhando através de um viés epidérmico, de uma perspectiva que pára na pele, trata-se de negros matando negros, africanos chacinando africanos. O racismo estaria, portanto, riscado da lista de motivações possíveis para estes genocídios? Não creio. O que exige repensar o racismo de modo mais aprofundado, como uma espécie de crença coletiva que um grupo social compartilha e que inclui a desumanização de um outro grupo social. Um dos elementos mais interessantes de Black Earth Rising está na flutuação identitária que o seriado retrata ao descrever as descobertas bombásticas que realiza, em sua vida, a personagem Kate Ashby.

Para todos os efeitos, Kate Ashby aparece-nos, no começo da série, como uma cidadã britânica, uma falante da língua inglesa, uma londrina que cresceu sob os cuidados de sua mãe adotiva, a célebre jurista Eve Ashby. Porém, Kate Ashby é um nome postiço e tardio que vem para encobrir o anonimato de uma criança que sobreviveu sozinha ao genocídio: sem familiares nem amigos que pudessem dizer seu autêntico nome, privada das informações sobre seu batismo africano originário, ela se torna uma sobrevivente do genocídio ruandês a quem se oferece um novo começo no United Kingdom: cresce acreditando, a partir das narrativas que lhe contaram, que é uma Tutsi, sobrevivente de um massacre cometido pelos Hutus.
Qual não será a sua surpresa quando descobrir, conforme avançam suas investigações relacionadas com a tentativa de condenação em Tribunal Penal Internacional do general Hutu Patrice Ganimana, que na verdade Kate Ashby foi em sua primeira infância algo bem diferente de uma criança Tutsi sobrevivente de um genocídio: era uma criança Hutu que deixou o país após o fim da carnificina, tornando-se uma emigrante e depois uma refugiada no país vizinho, então o Zaire, hoje a República Democrática do Congo. A mulher que se conhece por Kate Ashby, cujo nome africano nunca se soube, descobre que lhe mentiram sobre as circunstâncias em que foi resgatada em meio à insana matança dos adultos que a rodeavam: ela acreditava ser um Tutsi que perdeu tudo devido a sanguinários Hutus, e descobre que era uma Hutu que sobreviveu a um massacre perpetrado contra um campo de refugiados no Congo onde estavam 50.000 pessoas, cerca de 9.000 delas crianças.
O que pensar sobre o tema da identidade diante deste caso? Apesar de fictício, o enredo de Black Earth Rising pode nos instigar a seguinte reflexão: nossa identidade não é independente das narrativas que interiorizamos sobre quem somos e sobre a qual grupo social pertencemos. Kate Ashby, em Black Earth Rising, é sempre descrita como uma pessoa sob o risco de colapso psíquico: no primeiro episódio, ela consegue pílulas para tentar controlar seus ímpetos suicidas e faz uma piada com a obra de Primo Levi, judeu sobrevivente do Holocausto. O fato de ser uma sobrevivente de genocídio é essencial à sua identidade, mas os fragmentos de seu passado que ela usou para compor sua auto-imagem revelam-se falsos.
Ela se vê então envolvida numa teia de acontecimentos em que seu destino individual se mescla com o destino de sua pátria e de todo o continente africano: Kate Ashby não está apenas numa viagem de “auto-descoberta”, mas também presa numa teia coletiva e histórica em que terá que reconsiderar radicalmente tudo o que acreditou sobre si, sobretudo a crença de sua pertença à raça/etnia Tutsi.

Um dos grandes temas de Black Earth Rising é o direito à memória e à verdade. A essência dos discursos da personagem Alice Munezero vão neste sentido, o de conclamar-nos para que acessemos o passado em sua verdade, pois em nada contribui para a reconciliação você recalcar o passado coletivo, não permitindo que venham à tona certos episódios que certos grupos não julgam convenientes tornar conhecidos e públicos. A lição que tiro disto é que não devemos “essencializar” a diferença entre Tutsis e Hutus, nem entre nazistas e judeus, como se houvesse de fato uma diferença de essência entre eles que justificasse a noção de que cada grupo pertence à uma diferente raça. Se a diferença não é de essência, é preciso que ela esteja em outra parte, que a diferença seja de pertença, de cultura, de aprendizado, de interiorização narrativa, em suma: de educação. Nurture, not nature.
O racismo, pois, é um construto: não existem raças humanas, mas sim grupos humanos capazes de acreditar na supremacia étnica ou racial. Não parecem existir justificativas para cindir a humanidade em raças superiores e inferiores por razões genéticas, como quiseram fazer os eugenistas de todos os tempos, o que nos conduz à tese de que o problema está de fato na presunção de superioridade que certos grupos acabam interiorizando como uma espécie de item narcísico identitário. Esta crença supremacista – que leva o sujeito à fé de que pertence a um grupo social, ou casta, ou raça, que é melhor, mais superior, mais civilizado, mais humana que o grupo, casta ou raça inferiorizado e desumanizado – está na raiz do problema.
Por isto a educação também está: se não “genes-Tutsi” nem “genes-Hutus”, ou seja, se ninguém nasce com um DNA Tutsi ou Hutu, estas diferenças são construídas, ou seja, as pessoas são ensinadas a aderir a uma certa pertença comunitária que define sua identidade. Se foram ensinadas, ou seja, culturalmente determinadas, isto significa, como é evidente, que a educação e a cultura, transformadas e revolucionadas, são as forças principais para que o racismo construído cesse de sê-lo. Raças humanas nunca existiram, agora é nossa tarefa desconstruir, criticar e aniquilar os racismos para que também eles cessem de ser.
O racismo a que me refiro, ou seja, esta presunção de superioridade e este supremacismo étnico-racial motivado por uma pertença identitária, pode se amparar em características corporais ou epidérmicas – como foi no racismo instituído no Sul dos EUA durante o domínio da white supremacy ou na África do Sul na vigência do apartheid. Mas a crença supremacista pode se amparar em outros elementos, menos epidérmicos, aparentemente desvinculados de questões cromáticas e das aparências do corpo humano.
Hoje, não resta muita dúvida de que Adolf Hitler e o regime que chefiou era alicerçado no racismo instituído, na fantasia de domínio dos “arianos”. E tampouco me parece contestável a tese, defendida por Domenico Losurdo (entre outros), de que há muita similaridade entre os nazis arianistas e os supremacistas brancos dos EUA; há mais em comum entre a Ku Klux Klan e o nazismo do que sonha a liberal filosofia… A insana “originalidade” do hitlerismo foi tratar judeus e bolcheviques como se fossem negros no Sul dos EUA na era escravagista. Se as raças humanas não existem de fato, como podem garantir muitos cientistas, o racismo de fato existe como fenômeno ideológico e como práticas instituídas, de modo que o combate ao racismo permanece necessário e urgente, sendo um dos grandes desafios educacionais que deve mobilizar os esforços de todos nós que trabalhamos com educação, comunicação social e mobilização de massas. Como disse Nelson Mandela:

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.” –
Nelson Mandela, “Long Walk to Freedom”, 1995. [3]
Diante do genocídio ruandês, a pior das explicações é aquela que culpabiliza os próprios ruandeses por terem descido à barbárie de “uma insanidade tribal”, como diz um burocrata governamental inglês em Black Earth Rising. Esta explicação, de um racismo velado, parece atribuir toda a culpa às insanidades do tribalismo africano, conduzindo à noção eurocêntrica e supremacista de que as afiliações e pertenças étnicas dos ruandeses “atrasados” e “primitivos” são as culpadas pelo horror. Na verdade deveríamos estar nos perguntando qual é o grau de responsabilidade do Imperialismo Ocidental – que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sendo que foram necessários muitos movimentos anticolonialistas na África e na Ásia após 1945, em luta por libertação!
As ideologias de supremacismo étnico-racial são bastante típicas de países que foram impérios escravocratas sediados na Europa, e não é fora de propósito supor que estas ideologias racistas possam ter sido exportadas pelos imperialistas colonizados, acabando por contaminar os povos colonizados: a Bélgica, a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, não podem se eximir de toda a responsabilidade pelo que se passou em Ruanda em 1994. Além disso, diante de 800.000 mortos em 100 dias, precisamos nos perguntar também: Estados Unidos da América, que pretendia ser após o colapso da URSS e da queda do Muro de Berlim, uma espécie de Xerife Global e o Super-poder de um mundo Unipolar, em um contexto em que Fukuyama previa o “fim da História” com o triunfo final do capitalismo liberal globalizado, por que diabos o Tio Sam, ou melhor, suas maiores autoridades, fizeram tão pouco e foram tão ineficazes para conter a carnificina, para amainar sua fúria, para salvar dezenas de milhares de vidas? A resposta de Samantha Power, vencedora do Prêmio Pulitzer, é chocante mas me parece verdadeira:

“Romeo Dallaire, a Canadian major general who commanded UN peacekeeping forces in Rwanda in 1994, appealed for permission to disarm militias and to prevent the extermination of Rwanda’s Tutsi three months before the genocide began. Denied this by his political masters at the United Nations, he watched corpses pile up around him as Washington led a successful effort to remove most of the peacekeepers under his command and then aggressively worked to block authorization of UN reinforcements.The United States refused to use its technology to jam radio broadcasts that were a crucial instrument in the coordination and perpetuation of the genocide. And even as, on average, 8,000 Rwandans were being butchered each day, the issue never became a priority for senior U.S. officials. Some 800,000 Rwandans were killed in 100 days. No U.S. president has ever made genocide prevention a priority, and no U.S. president has ever suffered politically for his indifference to its occurrence. It is thus no coincidence that genocide rages on…” SAMANTHA POWER [4]
É bem-vinda a chega entre nós de Black Earth Rising, que demonstra que BBC e Netflix eventualmente se interessam por temas tão importantes quanto o direito à memória, a difícil concretização de uma justiça penal internacional e os mecanismos de prevenção ao genocídio. A série é ótima, no geral, apesar de algumas falhas – dentre estas, eu mencionaria que a série jamais revela porquê Kate Ashby teria sido iludida com mentiras explícitas por todos ao seu redor, sendo convencida de que era uma Tutsi e não uma Hutu. Qual o sentido desta teia de mentiras que depois será duramente desfeita? Apesar destes pontos obscuros, Black Earth Rising é uma obra potente, repleta de protagonismo feminino, que retrata também o empoderamento da mulher negra em espaços de poder, inclusive através da personagem da presidenta de Ruanda e seus dilemas no sentido de avançar no sentido da justiça social, tendo como uma das dificuldades maiores o neo-imperialismo que se manifesta pela fome ocidental por minérios. Sabemos que as minas de cobalto e outros minérios, em Ruanda e no Congo, estão na mira de várias corporações internacionais que fabricam celulares e computadores (vejam o documentário Blood in The Mobile).


Em uma das cenas mais inesquecíveis, Kate Ashby revisita em Ruanda uma igreja onde centenas de Tutsis foram massacrados. Transformada em Museu, a igreja agora acolhe apenas as roupas ensanguentadas dos que pereceram no massacre, assim como o Museu do Holocausto em Berlim visa dar uma noção do tamanho do extermínio perpetrado pelos nazis ao empilhar sapatos, aos milhares, dos que pereceram nos campos da morte erguidos pelo III Reich.
Diante de uma estátua de Cristo sem cabeça, Kate Ashby parece ter sua vida invadida pelos fantasmas de todos os massacrados, num transbordamento psíquico tão insuportável que ela precisa, na saída da igreja, chorar convulsivamente e buscar amparo no peito daquele que ela foi ensinada a odiar, um Hutu – que também foi ensinado a odiá-la. Instantes depois, conduzida ao local onde os refugiados Hutus no Congo foram massacrados pelos Tutsis, ela se surpreende com a aparição de centenas de pessoas da comunidade que decidem cavar para revelar, através da cruel pedagogia dos ossos, uma verdade que estava enterrada.

“She risked her future to uncover her past“, diz a frase no cartaz de Black Earth Rising: de fato, Kate Ashby tornou-se um emblema, concedido à Humanidade por uma competente teledramaturgia, de alguém que tem a ousadia de ir atrás do desocultamento de verdades, por mais amargas e cruéis que sejam, arriscando seu futuro para desocultar seu passado. Ensina, assim, sobre a importância suprema de cumprirmos com nossos deveres de memória e com nossos trabalhos de justiça, pois a possibilidade dos genocídios do futuro dependem de nossa negligência presente em aprender com o passado. Se nos recusarmos à lembrança e não buscarmos trazer à justiça carrascos e genocidas, só estaremos contribuindo para que nosso futuro esteja tão repleto de atrocidades quanto nosso passado.
Na canção tema da série, o bardo canadense Leonard Cohen canta um sombrio folk que fala sobre “um milhão de velas queimando por uma ajuda que não veio”. Sinistro, Cohen evoca o serviço atroz daqueles que se engajam nas tarefas do obscurantismo e querem tornar tudo, para todos, mais escuro (“you want it darker? we kill the flame…”). Diante disso, precisamos ser os que re-acendem a Iluminação plena para que esta se espraie pela História, aumentando nossa compreensão corajosa dos horrores que se passaram, de modo a evitar os genocídios do porvir – infelizmente prováveis, possíveis e plausíveis em uma época em que estão empoderados genocidas-em-potencial como Jair Bolsonaro, racista, misógino, homofóbico, notório defensor de Ditaduras Militares, fã de criminosos-contra-a-humanidade como Ustra, Pinochet e Stroessner, que prega o extermínio de opositores políticos e jamais escondeu suas posturas de supremacista branco que mede “afrodescendentes” em “arrobas”.
Em meio à pandemia de covid-19 em 2020, vimos Bolsonaro ser denunciado no mesmo Tribunal Penal Internacional de Haia que é cenário para Black Earth Rising. O presifake brasileiro, denunciado por incitação ao genocídio, demonstrou através de sua criminosa irresponsabilidade perante à crise da saúde coletiva, e também por sua participação em atos públicos que demandavam o colapso das instituições democráticas, que é um atroz agente de uma necropolítica do assassínio-em-massa e do ocultamento da História.
O Bolsonarismo deseja desmantelar o direito do povo brasileiro à memória e à justiça, cuspindo naqueles que trazem à luz os ossos de nosso passado real como se não passassem de cães, quando na verdade são figuras como o “Seu Jair” que, através da História, propiciaram as condições para os “massacres administrativos” e para a “banalidade do Mal” de que nos fala Hannah Arendt. Black Earth Rising nos ajuda a aprender que a atrocidade terá longo futuro enquanto formos incapazes de iluminar, com nossa compreensão e lucidez, com a coragem de nosso conhecimento, as atrocidades passadas e hoje ainda infelizmente tão possíveis. Só o passado iluminado pela lucidez atual é capaz de dar força e energia para que a geração atual possa ir mudando os rumos que já se mostraram que conduzem ao abismo e à carnificina.
Eduardo Carli de Moraes
Goiânia, Abril de 2020
Link para este artigo:
https://wp.me/pNVMz-6p1.
REFERÊNCIAS
[1] JOYCE, James. Ulisses.
[2] BLICK, Hugo. Entrevista à BBC.
[3] GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de Informá-lo De Que Amanhã Seremos Mortos Com Nossas Família. Cia das Letras.
[4] MANDELA, Nelson. Long Walk to Freedom, 1995.
[5] POWER, Samantha. A Problem from Hell: America and the Age of Genocide.
VÍDEOS RECOMENDADOS:
LINKS DE INTERESSE: The Guardian – Cineset
COMPARTILHE:













 Negar esta possibilidade é que é uma loucura: a mudança não é só possível, é obrigatória e necessária! “There is no refuge from change in the cosmos” [“Não há refúgio contra a mudança no universo”], ensinava Carl Sagan. E a Humana História está tão inserida no cosmos quanto todo o resto. Ao confrontar-se com as imensidões siderais, em meio às quais os humanos aparecem em dimensões minúsculas, concretamente “microscópicas”, Sagan sugere que a Natureza “não é nem hostil, nem benigna, mas simplesmente indiferente aos interesses humanos”. Sim: mas não cortemos os pulsos tão cedo! Pulsos servem também para serem erguidos aos brados! E com pulsos unidos também se constroem rodas-de-dança, cordões humanos, cirandas..
Negar esta possibilidade é que é uma loucura: a mudança não é só possível, é obrigatória e necessária! “There is no refuge from change in the cosmos” [“Não há refúgio contra a mudança no universo”], ensinava Carl Sagan. E a Humana História está tão inserida no cosmos quanto todo o resto. Ao confrontar-se com as imensidões siderais, em meio às quais os humanos aparecem em dimensões minúsculas, concretamente “microscópicas”, Sagan sugere que a Natureza “não é nem hostil, nem benigna, mas simplesmente indiferente aos interesses humanos”. Sim: mas não cortemos os pulsos tão cedo! Pulsos servem também para serem erguidos aos brados! E com pulsos unidos também se constroem rodas-de-dança, cordões humanos, cirandas..