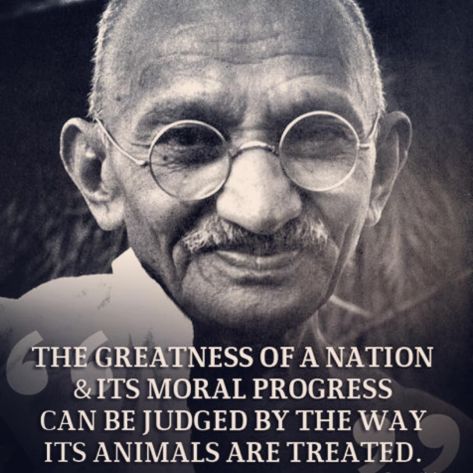Com seu cosplay de Goebbels ao som do Lohengrin de Wagner, o ex-secretário de cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, deixou explícitos os vínculos ideológicos que unem a extrema-direita brasileira com o III Reich alemão (1933 – 1945).
Com o retrato do “Seu Jair” ao fundo, numa imitação barata da cenografia utilizada pelo Ministro de Propaganda do hitlerismo, Alvim – de fato encarnado toda a “alvura” de um ariano… – encenou ali um rito macabro. Nesta comunicação pública nazistóide, feita logo após de uma reunião com o chefe, Alvim desmascarou que temos na presidência da República um “projetinho de Hitler tropical”, como o apelidou Mário Magalhães.
Em artigos publicados em The Intercept Brasil e que integram seu livro Sobre Lutas e Lágrimas, o jornalista Mário Magalhães (que também é o autor da biografia de Marighella que Wagner Moura adaptou para o cinema) já denunciava desde 2018 o “parentesco do ideário bolsonarista com o arsenal ideológico nazi”.
Um dos elos mais fortes que une o Bolsonarismo e o Hitlerismo está no feroz combate que ambas ideologias buscam empreender contra o fantasma do “marxismo cultural”.
O método de Goebbels empregado em 2018, numa armação nazistoide.
Sem entender o Brasil de 2018 não se compreende o de 2020.
Abaixo, trecho de “Sobre lutas e lágrimas”, capítulo “‘Projetinho de Hitler tropical'”.
Quem quis ver viu. pic.twitter.com/jmaWaEGvPj
— Mário Magalhães (@mariomagalhaes_) January 21, 2020
https://platform.twitter.com/widgets.js
Para contribuir com este debate, na alvorada de 2020 e já entrando em seu 20º ano de existência, a Editora Expressão Popular publica Dialética do Marxismo Cultural (69 pgs, R$ 3), um panfleto crucial para a compreensão do imbróglio em que atualmente nos debatemos. Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), a autora Iná Camargo Costa busca rastrear as fontes originais do conceito de “marxismo cultural”.
Torna-se claro que “marxismo cultural” é uma expressão criada por forças políticas da direita para combater os perigos encarnados pelo proletariado organizado e mobilizado na construção de uma sociedade pós-capitalista. O nazismo teve força para cometer suas gigantescas atrocidades ao conquistar a adesão a “dois de seus fundamentos mais conhecidos: o racismo e o anticomunismo”, escreve Iná:
“O racismo, dirigido abertamente ao genocídio do povo judeu na Europa, explorou uma das mais descaradas fraudes literárias de que se tem notícia: Os Protocolos dos Sábios de Sião… E o anticomunismo reage a duas causas muito imediatas: a vitoriosa revolução bolchevique de 1917 e a revolução alemã de 1918-1919, devidamente massacrada por uma original combinação entre social-democratas, militares e freikorps (estes últimos constituem um dos embriões das tropas de choque nazistas, conhecidas como SA. A combinação de ressentimento, racismo e anticomunismo produz o caldeirão onde germinará o entusiasmo dos fanáticos de Hitler.” (pg. 15)
Os nazis e os bolsominions também estão unidos em sua sanha de utilizar-se desavergonhadamente da mentira e da fraude como arma política: aos Protocolos dos Sábios de Sião, documento repleto de teorias da conspiração estapafúrdias que apontavam o dedo para um plano de dominação mundial arquitetado por judeus diabólicos, corresponde no universo bolsonarista a mamadeira de piroca, o kit gay e a fantasia engana-trouxa do PT Comunista.
Uma operação ideológica, propulsionada por altos capitalistas que não tiveram pudor de injetar milhões na campanha do sujeito que integra o fã-clube de Ustra, foi construída para convencer os crédulos manipuláveis de várias mentiras. A começar pela mentira de que o PT é um partido comunista, gayzista e abortista, devotado à diabólica operação de espalhar pelo Brasil o marxismo cultural e a “ideologia de gênero”.
Rastreando o nascimento da expressão “marxismo cultural” nas obras da extrema-direita que o combate, Iná Camargo descobre que a certidão de nascimento deste fantasma foi lavrada por Hitler em seu lamentável Mein Kampf (Minha Luta): “o livro é uma declaração de guerra ao marxismo e à sua expressão cultural máxima que seria o bolchevismo” (p. 16). O movimento nazista, através de suas lentes delirantes e paranóicas, enxerga no marxismo uma arma da conspiração judaica internacional e coloca-se como missão a aniquilação do marxismo judaico, incluindo suas manifestações culturais.
Marx é defenestrado pelos nazistas por ser judeu e comunista – e, para Adolf Hitler, “judaísmo e marxismo estão em simbiose, de modo que o combate a um é o combate ao outro.” (p. 18) Por isso, o Estado totalitário do III Reich tem que manter a imprensa sob controle, jamais caindo na armadilha de conceder liberdade aos jornais – afinal de contas, na Alemanha dos anos 1930, “a maioria dos jornais – tanto os liberais quanto os marxistas – está nas mãos dos judeus”, de modo que “esta imprensa deve ser destruída, inclusive a poder de granadas. (…) Assim como a imprensa judaico-marxista deve ser destruída, a arte bolchevique deve ser proibida em todas as suas manifestações (…) pois seus apóstolos são degenerados, descarados e embusteiros.” (p. 21-24)
O Bolsonarismo também se assemelha ao Hitlerismo na mobilização de um aparato de perseguição, censura e silenciamento contra tudo o que rotula como marxismo cultural. Um exemplo disso é a truculência com que se persegue no Brasil atual tudo que se relacione não só a Marx e Engels, mas também a Gramsci e a Paulo Freire. As declarações do führerzin tropical sobre a gestão ideal do Ministério da Educação foram exemplares: como exposto em reportagem de Época, Seu Jair disse que precisava pôr alguém no MEC com um lança-chamas pra reduzir a cinzas tudo que cheirasse a Pedagogia do Oprimido ou a “gramscismo”.
“Lança-chamas” contra Paulo Freire, queima de bruxas representando Judith Butler, perseguição contra professores marxistas pintados como “doutrinadores”, tudo isso faz parte do pântano em que o Bolsonarismo abraça o cadáver insepulto do nazifascismo, requentando esta amarga marmita.
Ao propor “tacar fogo” em Paulo Freire, o Coiso aproxima-se muito dos nazis: desde 1933, ano de ascensão de Hitler e do partido nazista ao poder, a Alemanha foi palco de vários processos de perseguição brutal contra artistas e de grandes queimas de livros, processo conhecido como bibliocausto.
“Uma vez no poder, o nazismo efetivamente desencadeou a mais vasta guerra de que se tem notícia contra todas as manifestações culturais que rotulou de bolchevismo cultural ou arte degenerada. Esta guerra cultural atingiu os intelectuais, os artistas e as obras que fizeram a paisagem da República de Weimar, nacionais e estrangeiras, com destaque para as de origem soviética, mas sem prejuízo de franceses, ingleses e estadunidenses. Artistas foram presos, conduzidos a campos de concentração e assassinados ou, quando tiveram sorte ou a devida sagacidade, partiram para o exílio.
Obras de arte foram confiscadas de museus e destruídas; livros foram queimados em sucessivos espetáculos públicos de bibliocausto. O regime nazista produziu uma série de listas negras, tanto com os nomes dos seus inimigos, quanto com os títulos de obras banidas, a serem destruídas. Só da biblioteca do Instituto de Pesquisa Sexual foram sequestrados 25 mil volumes, que alimentaram a primeira fogueira realizada em Berlim pelos estudantes nazistas. Naquele espetáculo macabro, Goebbels disse, solenemente, entre outras barbaridades, que “vocês, jovens, já têm a coragem de encarar o brilho cruel, de superar o medo da morte e reconquistar o respeito pela morte – é esta a tarefa desta nova geração. Fazemos muito bem de lançar às chamas o demônio do passado.”
Para se ter ideia de quem eram os inimigos da “cultura” alemã, tal como entendida pelos nazistas, enumeremos alguns dos mais conhecidos no Brasil: Sigmund Freud, Albert Einstein, Bertolt Brecht, Kurt Weill, Arnold Schoenberg, Stefan Zweig, Franz Kafka, Lasar Segall, Marc Chagall, Henri Matisse, Van Gogh, Picasso, obviamente Marx, Engels, Lenin, Trostky, Kautsky, Rosa Luxemburg, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Herman Hesse, Thomas Mann, o já citado Lion Feuchtwanger, Romain Rolland, Marcel Proust, Helen Keller, Marlene Dietrich…” (pg. 24, 25)
De modo que Ray Bradbury, para escrever seu clássico da ficção científica distópica Farenheit 451, não precisou tanto de imaginação quanto de investigação histórica: livros queimando nas fogueiras da intolerância e do fanatismo não são nada de novo. Iná Camargo Costa revela, em sua crítica do Mein Kampf, que Hitler, no programa do partido nazista, declara-se favorável a um dogmatismo típico de religiões instituídas.
Segundo Hitler, “cada ponto deve ser tratado como dogma; deve-se seguir o exemplo da Igreja Católica Romana, que não recua em seus dogmas nem diante das verdades científicas, pois é assim que se inspira a fé cega na excelência da doutrina… o futuro do movimento nazista depende do fanatismo e da intolerância com que seus adeptos o defendem como a única causa justa… a grandeza de toda organização política que corporifique uma ideia está no fanatismo religioso e na intolerância com que hostiliza todas as outras, pois seus adeptos estão convencidos de que só eles estão com a razão…” (p. 23).
Alguns podem argumentar que os vínculos que tenta-se estabelecer entre bolsonarismo e nazifascismo são frágeis pois há um ponto crucial onde eles se separam: Bolsonaro é favorável ao sionismo israelense e deseja ser amiguinho de Netanyahu, de modo que não haveria em ação no bolsonarismo nada semelhante ao feroz antisemitismo nazi. Ou seja, o vínculo que os nazistas instituíram entre o judaísmo e o marxismo seriadesfeito na ideologia bolsonarista, que institui uma outra clivagem: os sionistas são do bem, do mal são apenas os judeus comunistas.
A demissão de Alvim, neste contexto, não significa que o ex-secretário de cultura estivesse dessintonizado com o führer, mas sim que exagerou na dose de nazificação de sua performance, o que causou escândalo na comunidade judaica: tudo indica que Bolsonaro chutou a bunda de Alvim para não ficar muito feio na fita em suas relações com o sionismo de Israel que, como bom vira-lata do Império ao Norte, ele deseja apoiar – ainda que a ocupação ilegal e o massacre cotidiano da população palestina prossigam sendo um descalabro global de violação sistemática dos direitos humanos e do princípio da autodeterminação dos povos.
Para compreender melhor o monstro híbrido que é a extrema-direita brasileira, precisamos seguir rastreando o passado do combate ao “marxismo cultural” e lidar com outra das grandes inspirações dos Bolsominions: a extrema-direita dos EUA. Tema também exposto em minúcias desde a campanha eleitoral, em que houve o episódio em que David Duke, liderança da Ku Klux Klan, reconheceu muitas similaridades entre o Bolsonarismo e a KKK.

Além de irmão-siamês do supremacismo branco que dá o tom em milícias racistas como a KKK, o Bolsonarismo está totalmente alinhado ao chamado macartismo, processo de caça-às-bruxas comunistas que marcou o período da Guerra Fria nos EUA. Na verdade, a dita guerra fria pode não ter esquentado entre os EUA e a URSS, mas foram quentes as guerras contra o comunismo empreendidas pelo Império capitalista na América Latina, na Ásia e na África. As chamadas ações de contrainsurgência foram responsáveis pela perseguição, prisão, tortura e extermínio de vários militantes de esquerda, da Colômbia ao Vietnã, do Brasil ao Congo.
Sabemos que as ditaduras militares na América Latina, instaladas após golpes de Estado, como aquele na Guatemala em 1954 e aquele no Brasil em 1964, implicaram o empoderamento de regimes ilegítimos e brutalmente alinhados à política Yankee de perseguição ao comunismo. Segundo Iná, “a guerra anticomunista estadunidense se trava preferencialmente na indústria cultural”:
“Seu momento de maior visibilidade foi o capítulo conhecido como ‘Os Dez de Hollywood’, uma lista de roteiristas convocados para depor perante a House of Un-American Activities Committee (HUAC). Dentre os convocados, atualmente um dos mais conhecidos no Brasil é Dalton Trumbo, que recentemente teve livro e filme dedicados a esta amarga experiência de denunciado e condenado a um ano de prisão, mais a proibição de trabalhar na indústria cinematográfica (que foi devidamente contornada pelo recurso aos ‘testas de ferro’ – pessoas que se dispunham a emprestar seus nomes para os roteiros que continuaram a ser escritos).
Produziu-se neste contexto uma lista negra com cerca de 300 ‘suspeitos’. Para ficar nos mais conhecidos entre nós, limitemo-nos aos seguintes: Bertolt Brecht; Howard Koch (roteirista de Casablanca, de 1942); Jules Dassin (diretor de Nunca aos Domingos, filmado já no exílio, em 1960); Orson Welles; Joseph Losey (diretor de Galileu, de Brecht); Charlie Chaplin; Elia Kazan; Dashiel Hammet; Dorothy Parker; Lena Horne; Langston Huhes; Arthur Miller; Harry Belafonte etc.
Ainda merecem destaque, por seus feitos posteriores ao mar de lama anticomunista, Ring Lardner Jr.,que escreveu o roteiro de M.A.S.H., filme dirigido por Robert Altman em 1970, e Martin Ritt, diretor de Testa de Ferro Por Acaso, de 1976, cujo roteiro foi escrito por Walter Bernstein, igualmente vítima da caça aos comunistas em Hollywood e participante da tática dos ‘testas de ferro’.” (INÁ CAMARGO COSTA. p. 35)
O site Tudo Sobre Seu Filme realizou um belo mapeamento do Macartismo no Cinema, um guia com filmes essenciais para compreender a perseguição aos comunistas na sétima arte. Torna-se claro que o Bolsonarismo não tem originalidade nenhuma: está apenas requentando a marmita azeda do nazismo e do macartismo no Brasil contemporâneo. Mas é preciso também frisar as conexões entre os bozolóides da extrema-direita brasileira e seus cupinchas nos EUA, pois é público e notório que “entre os mais proeminentes porta-vozes atuais do combate ao marxismo cultural estão Steve Bannon e o canadense Jordan Peterson” (p. 37).
Um dos marketeiros da campanha vitoriosa de Donald Trump à Casa Branca, Bannon também tem documentadas relações com a familícia e ajudou a articular a estratégia, repleta de fake news e de intolerância sectária contra a esquerda, que pôs Bolsonaro na presidência do Brasil. Segundo Iná, data do início dos anos 1990 a utilização pejorativa e condenatória do termo “marxismo cultural”:
“Seus primeiros usuários são cristãos fundamentalistas, ultraconservadores, supremacistas – enfim, a extrema-direita estadunidense. Uma das mais eloquentes manifestações da tendência é o movimento Iluminismo Sombrio – antítese assumida do iluminismo, que prega a moral vitoriana do século XIX, uma ordem tradicionalista e teocrática, declara guerra aberta a todo conhecimento científico e, em primeiro lugar, ao marxismo cultural. Os objetos mais imediatos de sua fúria conservadora são o feminismo, a ação afirmativa, a liberação sexual, a igualdade racial, o multiculturalismo, os direitos LGBTQ e o ambientalismo.
Para esta horda de reacionários, incluídos os integrantes do movimento Tea Party, a instituição precursora do marxismo cultural foi a Escola de Frankfurt pelas seguintes razões: imigrou para os Estados Unidos em sua fuga do nazismo, é constituída por judeus, combinou as teorias dos judeus Marx e Freud, e sobretudo promoveu a arte moderna (combatida pelos nazistas), contaminando o espírito da contracultura dos anos 1960. Em suma, a Escola de Frankfurt seria uma instituição de fachada do comunismo.” (p. 38)
Obviamente, não devemos esperar da extrema-direita em suas encarnações trogloditas nenhuma crítica razoável à Escola de Frankfurt – pois os neofascistas atacam uma caricatura e enchem de balas um espantalho de sua própria invenção. Não se deram ao trabalho de ler e estudar as obras de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Krakauer ou Benjamin. Também não estudaram as obras de Martin Jay ou Stuart Jeffries. A Escola de Frankfurt é apenas um bode expiatório para a fúria conservadora destes caçadores-de-comunistas que, infantilóides, não param de desenhar chifrinhos demoníacos sobre as cabeças de todos os comunistas. Como se requentassem aquela outra marmita fria do “comunista, comedor de criancinhas”.
Jair Bolsonaro jamais poderá ser acusado de ser uma pessoa original ou criativa: tudo nele fede à mediocridade. Mas a mediocridade está longe de ser inofensiva – e Seu Jair pode ser descrito como alguém tão medíocre quanto Adolf Eichmann. Em outras condições históricas de temperatura e pressão, tal figura medíocre e truculenta jamais teria saído do baixo clero do Congresso Nacional, tamanha a sua incompetência para a gestão pública e para o trato civilizado com as diferenças que constituem uma sociedade humana.
Caso as mentes do eleitorado brasileiro estivessem lúcidas, a imensa maioria teria percebido a tempo que Jair não está capacitado nem mesmo para ser o síndico de um condomínio residencial (no Vivendas da Barra, sabemos, ele estava mais interessado em suas interações com milicianos cheios de fuzis em suas casas que tramavam o assassinato de Marielle Franco do que em qualquer coisa parecida com gestão de um espaço coletivo).
Parte desta desgraça obscena em que estamos afundando vem também do “guru” do governo, Mr. Olavo de Carvalho – aquele charlatão delirante e boca suja, que argumenta aos coices e que pretende influir nos destinos do Brasil, mas morando bem longe dele. Olavo mora lá em Richmond, capital da Virgínia, onde estava sediada a central do exército escravocrata sulista que perdeu a Guerra Civil (1861 – 1865) – e o velhote que adora armas-de-fogo vai, a partir dali, teleguiando o Ministério Bolsonarete, indicando seus testas-de-ferro para o MEC e o Itamaraty.
O combate ao marxismo cultural passa, entre nós, pelo Olavismo, uma ideologia responsável por requentar a marmita da perseguição aos comunistas, servindo assim aos interesses da metrópole capitalista onde habita o próprio Olavo. O Bolsonarismo, turbinado por figuras como Bannon e Olavo, “não passa de extensão à neocolônia (por opção) da pauta metropolitana, graças ainda aos bons serviços da alfândega ideológica instalada no Estado da Virgínia, responsável pela péssima tradução dos dogmas americanos. Isto também explica a profundidade de pires de suas manifestações por estas plagas.” (p. 42)
Eis o pântano em que querem nos afundar: O Brasil reduzido à colônia, não mais de Portugal mas dos EUA. Os “novos lacaios da neocolônia”, esta elite econômica medíocre e racista, fanática e misógina, teocrática e anti-iluminista, vê uma de suas metas principais o combate ao marxismo cultural – aí inclusos no mesmo balaio de gatos não só Paulo Freire e Gramsci, Marighella e Rosa Luxemburgo, mas também o Porta dos Fundos, o Planet Hemp, o Pussy Riot, o Jean Wyllys, a Judith Butler…
Além disso, vale dizer que a guerra ideológica da extrema-direita também envolve a pauta do combate à “ideologia de gênero”, uma guerra “santa” que a Pastora Damares não inventou, e que inclusive não é originária dos cristãos evangélicos, mas do próprio epicentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Este papo de “menino veste azul, menina veste rosa”, os discursos e práticas que transbordam com a fúria homofóbica e transfóbica, a defesa da “família tradicional brasileira” (heteronormativa, patriarcal, destinada a procriar novos cidadãos-de-bem…), foi uma das trincheiras de luta do Papa que precedeu Francisco (episódios que Fernando Meirelles tratou apenas en passant em seu filme):
“Esta guerra ideológica contou com os bons serviços da Santa Madre Igreja, que desde os anos 1990 desfraldou para todo o mundo a bandeira do combate à ideologia de gênero, num assalto similar ao realizado pelos nazistas ao repertório marxista e análogo ao combate travado contra a ‘ideologia comunista’ por nossa penúltima ditadura (1964 – 1985). Um dos mais importantes ideólogos desta empreitada foi o cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, que de 1981 a 2005 comandou uma importante divisão do Vaticano historicamente conhecida como Inquisição e mais recentemente denominada Sagrada Congregação Para a Doutrina da Fé. Saiu da forja da reação católica a tese de que ‘ideologia de gênero’ é um conjunto de ideias falsas, marxistas, que objetivam aniquilar a ‘família natural’, para tanto fomentando a libertinagem, a união homoafetiva, a pedofilia [como se eles mesmos não fossem seus mais contumazes praticantes]…
Para enfrentar esta pouco surpreendente aliança entre extrema-direita católica, extrema-direita evangélica e extrema-direita propriamente dita (ou neofascismo) em guerra declarada às expressões culturais da multissecular luta pelo esclarecimento e pelo socialismo, estamos desafiados a apresentar nossas armas.” (INÁ CAMARGO COSTA, Expressão Popular, 2020, p. 43 – Compre o panfleto por 3 reais)
Eduardo Carli de Moraes
A Casa de Vidro – Goiânia, Janeiro de 2020