
Alexandre e Bucéfalo (Detalhe de mosaico romano encontrado em Pompeia. Museu Arqueológico Nacional, Nápoles, Itália)
I. BUCÉFALO E SUA SOMBRA
“Quando Bucéfalo, cavalo ilustre, foi apresentado ao jovem Alexandre, nenhum cavaleiro conseguia se manter sobre o lombo deste animal formidável. Sobre isto um homem vulgar dizia: “Este é um cavalo malvado.” Alexandre, no entanto, procurou o X da questão, e logo encontrou, observando que Bucéfalo estava terrivelmente apavorado diante de sua própria sombra. Como o seu medo fazia agitar-se a sombra, o pavor não acabava mais. Alexandre então dirigiu o nariz de Bucéfalo em direção ao Sol, e então, nesta posição, pôde tranquilizar e domar o animal. Assim, o aluno de Aristóteles já sabia que nós não temos nenhuma potência sobre as paixões enquanto não conhecemos suas causas reais.” ALAIN, Propos Sur Le Bonheur. Gallimard, 1928. Pg. 9.
 Evocando a imagem de Alexandre e Bucéfalo, Alain (1868-1951) inicia seu livro de reflexões sobre a felicidade, Propos Sur Le Bonheur, publicado em 1928. O pavor de Bucéfalo diante de sua sombra é lido por Alain como um símbolo do descontrole e da inquietude que as paixões exercem sobre suas vítimas. Alexandre, por sua vez, aparece nesta parábola como representante da inteligência, da racionalidade, capaz de serenizar os arroubos irracionais e controlar a selvageria do temor e da intranquilidade.
Evocando a imagem de Alexandre e Bucéfalo, Alain (1868-1951) inicia seu livro de reflexões sobre a felicidade, Propos Sur Le Bonheur, publicado em 1928. O pavor de Bucéfalo diante de sua sombra é lido por Alain como um símbolo do descontrole e da inquietude que as paixões exercem sobre suas vítimas. Alexandre, por sua vez, aparece nesta parábola como representante da inteligência, da racionalidade, capaz de serenizar os arroubos irracionais e controlar a selvageria do temor e da intranquilidade.
Eis algo que deve soar bem familiar àqueles acostumados a flanar pela história da filosofia, onde é recorrente a ideia de que a Razão deve agir como um cavaleiro que doma o corcel selvagem da Emoção. Enquanto formos semelhantes a Bucéfalo, ou seja, aterrorizados por fenômenos que não compreendemos, que nos assustam justamente pois somos ignorantes de suas verdadeiras causas, estaremos bem longe da serenidade e daquilo que em francês é conhecido pelo bela expressão la joie de vivre.
O que também me parece notável, e que eu gostaria de explorar mais a fundo na sequência, é que o “caso Bucéfalo” nos permite refletir sobre o medo distinguindo entre suas manifestações legítimas e aquilo que eu chamaria de um medo-sem-fundamento.
Para evocar um exemplo que está na crista-da-onda, marcando presença nas mídias: se você é um habitante de Gaza, em Julho de 2014, tem amplas razões para temer por sua vida e por sua integridade física, mesmo que você não tenha conexão alguma com o Hamas ou com qualquer organização islâmica militante, já que existem provas empíricas aos milhares de que a ofensiva militar de Israel tem matado e ferido os palestinos sem grandes esforços de distinção entre civis e militares. Em Gaza, o medo é um afeto plenamente legítimo, justificado pela presença de perigos reais, e a ausência deste afeto em tais circunstâncias é que pareceria bizarra, incompreensível e anormal.
Bucéfalo, ao contrário, oferece-nos um exemplo de um medo desproporcional ao perigo real: a sombra, afinal, não tem o mínimo potencial de destruição. Se o cavalo se debate em pavores, é pois se equivoca em seu juízo eqüino e enxerga uma ameaça onde não há nenhuma. Dando um passo além, poderíamos inclusive dizer que Bucéfalo ilustra um comportamento supersticioso, que tem suas similaridades com o pavor sentido, em épocas mais remotas, por aqueles que presenciavam um eclipse ou um terremoto: incapazes de compreender as causas dos fenômenos físicos, perdiam o sono em temores e taquicardias, imaginando que os deuses estavam furiosos.

II. O IMAGINÁRIO COMO INIMIGO
Com esta distinção entre medos legítimos e medos injustificados em mente, fica mais fácil compreender algumas das principais teses de Alain – como esta: “o imaginário é nosso inimigo” (XV, Sur La Mort, pg 45). Os poderes de imaginação da mente humana nem sempre agem em nosso favor: não é incomum que a pessoa saudável imagine doenças possíveis e assim contamine sua saúde com males imaginados, meramente possíveis, que provavelmente não vão se materializar.
Mesmo que esteja em um estado físico ótimo, sem dores corporais ou sinais de desagregação orgânica, a pessoa pode sofrer com as ansiedades, as insônias e os pavores decorrentes de uma imaginação demasiado pessimista. Em seus comentários psicológicos, Alain destaca com frequência o quanto a imaginação “compõe horrores” (p. 39), em especial quando se lança ao futuro e representa os próximos estágios do percurso existencial – que tem a morte, necessariamente, por horizonte.
Diante das superstições humanas que levam ao temporal desnorteante da esperança e do temor, Lucrécio já pintava o retrato do sábio como aquele que, em terra firme, observa em serenidade os navegantes em mar revolto. Se Lucrécio, em seu poema-filosófico Da Natureza, visa como um de seus objetivos supremos o de libertar os humanos das superstições, utilizando para isto a doutrina de seu mestre Epicuro, é pois as superstições são consideradas como doenças do imaginário que desviam-nos do caminho da sabedoria. “A superstição consiste sempre, sem dúvida, em explicar efeitos reais por causas sobrenaturais”, escreve Alain (XVIII, Prières, pg. 53).

Ilustração medieval do Inferno no manuscrito Hortus deliciarum, de Herrad of Landsberg (aprox. 1180) – via Wikipedia
Àqueles que não dormem à noite, ou que se supliciam durante o dia, pois temem estarem sendo reprovados por um deus vingador, que os observa furibundo sentado em sua nuvem, o sábio apenas recomenda a dissipação da ilusão como melhor remédio. Assim como Bucéfalo não tem razão para temer sua própria sombra, não há razão para temer o Inferno ou qualquer outra punição do além-túmulo. Não há sabedoria ou felicidade possível sem que antes nos livremos de fantasias, compostas por imaginações humanas e escritas por mãos humanas em livros ditos “sagrados”, que tendem a disseminar temores sem fundamento e terrores sem realidade.
O X da questão, para Alain, é que tanto o cavalo Bucéfalo quanto o devoto que teme a fúria de Jeová, os relâmpagos de Zeus ou o inferno criado por Deus-Pai para queimar os ímpios, sofrem de verdade com seus males imaginários. Para recuperar o exemplo citado acima: a pessoa saudável que age como o personagem de Moliére, O Doente Imaginário, acaba sofrendo de fato com seus temores, ansiedades e inquietudes. Pois bem se sabe que não é só fisicamente, “na carne”, que sofre o homem; um sofrimento não é menos sofrido por ser “psicológico”, por estar “na mente”.
Ao invés de ser vítima de seus afetos, arrastado pelas circunstâncias a cóleras e pavores, transtornado constantemente em seus humores por tudo o que lhe ocorre, o sábio tem o bom senso de temperar os arroubos passionais e serenizar seus temporais internos ao compreender – “clara e distintamente”, como recomendam Sócrates, Descartes ou Spinoza – as causas reais daquilo que é sentido.
Como dirá André Comte-Sponville, fiel discípulo de Alain, compreender a causa de uma tristeza já é um começo de alegria. “Les malheurs sont rendus légers par la connaissance des causes”, escreve Alain (X, Argan, p. 30), ou seja, os infortúnios e desgraças são suavizados e tornam-se mais leves através do conhecimento de suas causas. Algo que se assemelha ao motto spinozista que recomenda: “não desprezar, não lamentar, não odiar, mas compreender”. No divã do psicanalista, por exemplo, o melancólico tem a chance de se libertar de sua condição de prisioneiro da paixões tristes quando começa a compreender os porquês dos afetos, das paixões, dos sonhos, que o acossam e o afligem. Compreender, contudo, não é tudo. Falta o essencial, que é o agir.
III. O PERIGO DA RAZÃO EXTREMISTA
Não faltaram na História os que explicaram o Mal a partir da Ignorância – para ficarmos só entre os gregos, duas figuras de considerável impacto na posteridade, Sócrates e Epiteto, sustentaram que o saber racional, em especial o conhecimento daquilo que nos move, a compreensão das causas de nossos sentimentos, é o “caminho do bem”. Donde o “conhece-te a ti mesmo!”, mais célebre dos mottos socráticos, inscrito no Templo à Apolo em Delfos ao lado de outra “dica” existencial apolínea: “nada em demasia”. Um dos valores cardinais da civilização grega era justamente a sophrosyne – traduzível por temperança, moderação ou auto-controle.
O difícil, porém – e ninguém disse que a sabedoria é fácil! – é saber dosar o quanto de “controle racional” sobre as paixões deve ser exercido. Aristóteles sustentava que a virtude está em encontrar o ponto ótimo entre dois excessos: por exemplo, a virtude da coragem encontra-se entre os dois extremos, o de sua carência (a covardia) e seu excesso (a temeridade).
Também a racionalidade nos oferece um risco duplo: por um lado, um excesso vicioso, o desregramento passional, que leva, por exemplo, um homem a enforcar sua esposa em um arroubo de ciúme injustificado, como faz Otelo contra Desdêmona na obra de Shakespeare (com o auxílio cruel do invejoso Iago, desejoso de envenenar o deleite do casal). Por outro lado, outro excesso vicioso, o racionalismo ultra-controlador, que pode levar alguém a dotar-se de um caráter rígido, autoritário, severo em demasia, descrito muito bem pela gíria da língua inglesa control freak.
 Na história da filosofia, um dos mais importantes legados do pensamento de Nietzsche é justamente ter colocado em questão a predominância, na filosofia ocidental, de um racionalismo hiperbólico que se manifesta com frequência como moralismo castrador, repressor, autoritário. A crítica que Nietzsche empreende contra o do Ideal Ascético, tão presente no seio da ética judaico-cristã, visa justamente questionar os efeitos de doutrinas que querem lidar com as paixões com a tática do extermínio, como faria um dentista que, diante das cáries de seu paciente, só soubesse receitar a extração dos dentes.
Na história da filosofia, um dos mais importantes legados do pensamento de Nietzsche é justamente ter colocado em questão a predominância, na filosofia ocidental, de um racionalismo hiperbólico que se manifesta com frequência como moralismo castrador, repressor, autoritário. A crítica que Nietzsche empreende contra o do Ideal Ascético, tão presente no seio da ética judaico-cristã, visa justamente questionar os efeitos de doutrinas que querem lidar com as paixões com a tática do extermínio, como faria um dentista que, diante das cáries de seu paciente, só soubesse receitar a extração dos dentes.
Contra Sócrates, encarnação do “homem teórico” que transforma a Razão em ídolo, Nietzsche nos põe em guarda contra aqueles que querem transformar a razão em panacéia e que pensam servir a este novo deus quando praticam, contra si e contra os outros, a repressão sexual, a supressão dos prazeres sensórios, a caça às “bruxas” e aos “hereges” etc.
Em seu Propos Sur Le Bonheur, Alain decerto reflete do interior de uma tradição filosófica ancestral, que atravessa os séculos, mas consegue nos dizer algo de novo, ou melhor, algo de peculiarmente seu. Quando recorda as razões que o levaram a abandonar o catolicismo, remete-nos a uma vivência que experimentou aos seus 10 anos de idade: visitar uma “capela mortuária onde os mortos permaneciam por uma semana, para edificação dos viventes. Estas imagens lúgubres e este odor cadavérico perseguiram-me por muito tempo. Todo meu ser se revoltava e eu me livrava da religião deles como de uma doença.” (LXXIII, Bonne humeur, 10 Octobre 1909) Alain manifesta uma repulsa visceral contra a morbidez tão frequente em certos cultos religiosos Tanatocêntricos, que pregam o quietismo e a resignação.
Alain, ao contrário, busca sua sabedoria em outras fontes: em Spinoza, por exemplo, que considera um “mâitre de joie” (pg. 57), um mestre do júbilo. A ênfase que a filosofia spinozista devota à afetividade humana – a Ética sendo em larga medida um tratado psicológico que procura explicar os complexos mecanismos causais dos sentimentos humanos – é amplamente abraçada por Alain. A crítica da esperança e do temor, compreendidos como “irmãos gêmeos”, é algo que Alain também assume como um legado spinozista digno de permanecer vivo – e que Comte-Sponville posteriormente expandirá e detalhará como um dos temas-chave de sua obra (em especial no Tratado do Desespero e da Beatitude).
O remédio contra a “síndrome de Bucéfalo”, isto é, com a tristeza de padecer com paixões que não controlamos nem compreendemos, está não só na compreensão mas também na ação. Trata-se de viver no esforço de agir ao invés de padecer; entender ao invés de ignorar; enfrentar os perigos reais ao invés de temer, na impotência e no tremor, perigos imaginários.
A felicidade, pois, não é algo que a gente receba como um presente, ou que devamos esperar sentados com a bunda confortavelmente instalada nos sofás da inação esperançosa. A felicidade está em agir para construi-la. E não há situação mais infeliz do que aquela do devoto que, em lágrimas, de joelhos, implora por ajuda do alto.
Uma longa tradição filosófica, que inclui Epicuro, Lucrécio, Spinoza, Alain, Comte-Sponville, une-se em coro para cantar: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.” A felicidade nunca vem de graça; é preciso conquistá-la. E há boas razões para crer que jamais alguém a conquista em solidão, ao contrário do que pregam ascetas e anacoretas.
Chris McCandless, vulgo Alex Supertramp, precisou buscar o isolamento extremo, nas geleiras do Alaska, para descobrir, em Into the Wild: “happiness is only real when shared”. Os filósofos assinariam embaixo, e Alain entre eles: o amor e a amizade são elementos sine qua non na construção de qualquer felicidade, que é sempre trans-individual, conectada com a presença de uma teia de relações humanas em que a convivência aumenta a potência de existir (e, logo, a alegria) daqueles que interagem.

IV. EPÍLOGO: A FELICIDADE É POESIA
A sabedoria, como aponta a etimologia, é a meta suprema do filósofo, aquele que nutre philia (amor ou amizade) pela sophia (sabedoria). Ler Alain é uma experiência filosófica seminal pois equivale a encontrar alguém motivado por um engajamento existencial na busca pela vida sábia (e, logo, feliz). Este grande educador e escritor francês, autor de cerca de 5.000 propos (termo francês traduzível por reflexões em português, ou por remarks em inglês), teve sua obra celebrada por um de seus alunos, André Maurois, como digna de figurar em todas as bibliotecas ao lado dos Ensaios de Michel de Montaigne (1533-1592). Não é elogio pequeno.
A carreira de Alain como professor de filosofia foi longa e fecunda, tendo influenciado o pensamento de alunos que viriam a marcar época, caso de Georges Canguillem (1904-1995), Simone Weil (1909-1943) e André Comte-Sponville (1952 – ). Pouco conhecido no Brasil, onde existem poucos de seus livros traduzidos, Alain não é um filósofo de sistema, mas muito mais um pensador-artista, um filósofo-literato, cujos textos tem o sabor de pequenas obras-de-arte verbais, que instigam a refletir e ensinam os caminhos que o autor descobriu para um autêntica arte de viver e de gozar.
Sem dúvida, Alain pende mais para uma sabedoria apolínea, baseada na temperança e na primazia da razão, do que para uma sabedoria trágica ou dionisíaca (como Nietzsche, p. ex., procurou pensar). De certo modo, é como se Alain quisesse agir sobre seu leitor de modo similar ao que Alexandre fez com Bucéfalo: suas reflexões parecem animadas pelo ímpeto de ajudar o leitor a curar-se das paixões tristes, dos afetos mortificantes, das confusões mentais caóticas. O caminho da serenidade passa pela compreensão das causas reais de nossos sentimentos, sustenta Alain, o que significa que grande parte dos males afetivos de que padecemos tem relação com uma imaginação desregrada que é preciso “domar”.
Para que nos libertemos da impotência triste a que nos entrega o fatalismo, e da ansiedade apavorada a que nos condena um imaginário desregrado, Alain recomenda um remédio simples: compreensão e ação. A felicidade, logo, é como a poesia: é preciso criá-la, construí-la, escrevê-la, com um arranjo próprio e inimitável de palavras, ao invés de esperar por ela, rezar por ela, sonhar com ela. O ser humano gosta bem mais dos prazeres que ele conquista do que daqueles que lhe vem de graça: o alpinista, ainda que sofra e pene para atingir o topo da montanha, goza muito mais intensamente com a paisagem solar que observa quando atinge o pico, tendo ali chegado através de seu esforço e de sua ação, do que aquele que “um trem elétrico conduziu ao célebre cume e que não pode encontrar ali o mesmo Sol” (XLIV, pg. 116).
Filósofo que ama o bom humor e a alegria, Alain sabe ser duro contra “aquela feroz religião que nos ensinou que a tristeza é grande e bela, e que o sábio deve unicamente pensar na morte, enquanto cava seu próprio túmulo. (…) Resta-nos, após termos descartado as mentiras dos padres, abraçar a vida nobremente e não atormentarmos a nós mesmos e uns aos outros com declamações trágicas” (LXXIII, Bonne Humeur, pg. 184).
Ao invés de exagerar a tragicidade da existência, Alain recomenda que não transformemos pequenas pedras em montanhas, nem perigos imaginários em razões para inquietudes de Bucéfalo.
Ao invés de acusar amargamente o mundo e os outros pela infelicidade própria, convêm muito mais perceber que cada um de nós é seu pior inimigo quando padece com seus juízos falsos, seus temores vãos, seus conformismos preguiçosos.
O primeiro passo para a sabedoria está em despertar para o fato de que nossas relações com o futuro não devem ser norteadas pela imaginação ou pela esperança, mas sim pela ação, que constrói um futuro ao invés de padecer com um futuro que tomba sobre nós ou nos atropela. A felicidade é poesia: trata-se de sacudir a impotência, despertar nossas forças criativas e criá-la – como se escreve um poema, como se compõe uma sinfonia, como se nutre uma amizade, como se constrói um amor.

“Tout bonheur est poésie essentiellement, et poésie veut dire action; l’on n’aime guère un bonheur qui vous tombe; on veut l’avoir fait.” – ALAIN (1858-1951), Propos Sur Le Bonheur (XLII, “Agir”, pg. 111. 3 Avril 1911). Pintura de Henri Matisse, “La Joie de Vivre”, 1906.
Eduardo Carli de Moraes
Toronto, Julho de 2014.


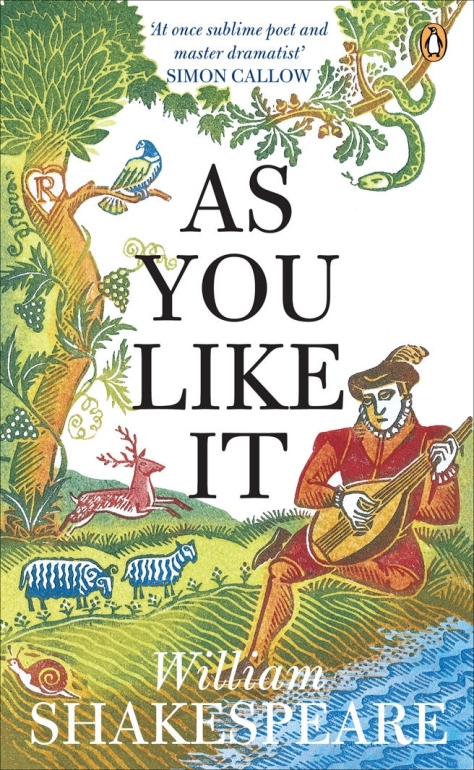

 Evocando a imagem de Alexandre e Bucéfalo,
Evocando a imagem de Alexandre e Bucéfalo, 



















 Todos os anos, grandes figuras da música mundial visitam Montréal: a história registra, desde a 1ª edição em 1980, apresentações de “mitos” como Ray Charles, Miles Davis, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Astor Piazolla, Dizzy Gillespie, Tom Jobim, James Brown, Dave Brubeck, Tony Bennett, Cab Callaway, Van Morrison, Bob Dylan, Stevie Wonder, entre muitos outros. Em 2014, não foi diferente: dentre as atrações maiores do festival, estavam o bluesman B. B. King, a diva do soul Aretha Franklin, a pianista e cantora Diana Krall, além de artistas mais vinculados ao mundo do rock, mas muito respeitados também no universo do jazz – caso de Elvis Costello, Beck Hansen e Ben Harper. Esta 35ª edição prestou sua homenagem ao guitarrista de flamenco, recentemente falecido, Paco de Lucía (1947-2014), a quem o festival foi dedicado.
Todos os anos, grandes figuras da música mundial visitam Montréal: a história registra, desde a 1ª edição em 1980, apresentações de “mitos” como Ray Charles, Miles Davis, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Astor Piazolla, Dizzy Gillespie, Tom Jobim, James Brown, Dave Brubeck, Tony Bennett, Cab Callaway, Van Morrison, Bob Dylan, Stevie Wonder, entre muitos outros. Em 2014, não foi diferente: dentre as atrações maiores do festival, estavam o bluesman B. B. King, a diva do soul Aretha Franklin, a pianista e cantora Diana Krall, além de artistas mais vinculados ao mundo do rock, mas muito respeitados também no universo do jazz – caso de Elvis Costello, Beck Hansen e Ben Harper. Esta 35ª edição prestou sua homenagem ao guitarrista de flamenco, recentemente falecido, Paco de Lucía (1947-2014), a quem o festival foi dedicado.







