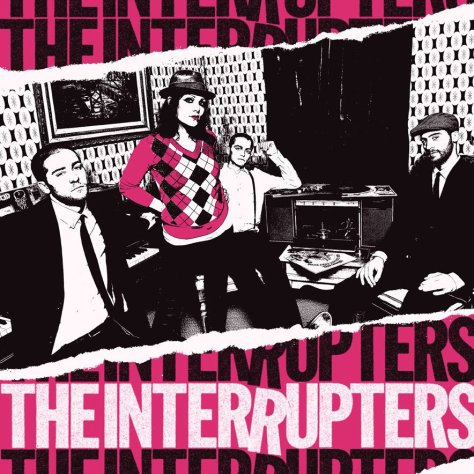1. EM DEFESA DO “MARXISMO CULTURAL” – Uma das pontas-de-lança da barbárie reinante é o destravamento de uma “guerra cultural” da extrema-direita contra o chamado “marxismo cultural”. Como escreveu o filósofo Vladimir Safatle na Folha de S.Paulo:
“Enquanto uma de suas primeiras medidas governamentais foi diminuir o valor previsto do aumento do salário mínimo, mostrando assim seu desprezo pela sorte das classes economicamente mais vulneráveis, o sr. Jair Messias convocava seus acólitos à grande cruzada nacional para lutar contra o socialismo, retirar das escolas o lixo marxista e impedir que a bandeira brasileira seja pintada de vermelho.” (SAFATLE, Vladimir. Nós, o Lixo Marxista.)
Endoidecidos por um fanatismo ideológico truculento, o “movimento” de perseguição à bruxa do “marxismo cultural” é encabeçado por figuras como Olavo de Carvalho e seus fantoches e paus-mandados, a exemplo de Ernesto Araújo, nosso chanceler no Itamaraty que nega a existência do Aquecimento Global (consenso científico que une 99% dos cientistas do planeta), e Vélez Rodriguez, ex-Ministro da Educação, demitido para que Weintraub pudesse pôr em curso o “Future-se!” (também conhecido como “Vire-se” ou “Dane-se”, o grande foda-se do Estado à sua missão constitucional de promover Educação e Cultura).
Por que será que o combate contra o espectro do “marxismo” ainda assombra a extrema-direita? Por que a horda direitosa lança o anátema sobre a obra de gigantes do pensamento e da práxis como Paulo Freire, Antonio Gramsci ou Rosa luxemburgo com a mesma bruteza que a Inquisição de outrora queimava livros e seus autores nas fogueiras da intolerância?
O que tanto incomoda no “marxismo cultural”? Seria, sobretudo, a junção incômoda entre pensamento crítico e engajamento revolucionário que marca a trajetória existencial de pessoas que não quiseram suportar caladas o peso da opressão e da injustiça? Seria o imperativo de Karl Marx, exposto na famosa Tese Onze que batiza o canal de Sabrina Fernandes, de que não basta interpretar o mundo pois o que importa de fato é transformá-lo?
Se por “marxismo cultural” entendermos a disseminação de teorias e práticas marxistas no nosso debate público, forçando a invasão de nosso mainstream cultural, então que seja bem-vindo! A tarefa ainda extremamente necessária de “desmistificação da realidade social capitalista” esteve no cerne da obra de Marx e Engels: estes “dois gigantes do pensamento universal que abarcam da filosofia à economia, passando pela política e pela história, construindo um campo teórico sem precedentes na cultura ocidental”, como escreve Ivana Jinkings, fundadora da Boitempo.
As editoras responsáveis pela publicação das obras clássicas do marxismo no Brasil, como a Boitempo e a Editora e Livraria Expressão Popular, estão na batalha das idéias há muitos anos buscando esclarecer a opinião pública sobre a importância e o legado do marxismo. Teríamos decerto um Brasil melhor se nossos cidadãos lessem mais, em especial se estivessem melhor informados sobre a vasta gama de obras disponíveis no país sobre a história e a atualidade do marxismo.

Como escreve Jinkins: “desde as primeiras publicações das obras de Marx e Engels, ainda no século XIX, tornou-se impossível imaginar uma reflexão de fôlego que não leve em conta o legado marxiano. (…) Transformaram o pensamento humano em muitos aspectos – antes de desembocar em uma proposta de conversão revolucionária do capitalismo para o socialismo, a nova teoria modificou as formas de pensar e a própria concepção do que significa a prática política.
Iniciaram suas reflexões pela filosofia porque, para intelectuais alemães da época, o maior desafio era decifrar o enigma da obra de Hegel. Esse acerto de contas passou pela filosofia do direito e pela filosofia do Estado, até chegar ao que chamaram de ‘anatomia da sociedade civil’, no seio da qual jazia a luta de classes. O resgate da dialética de Hegel e a crítica superadora de seus elementos metafísicos trouxeram consigo a maior revolução no pensamento filosófico desde seu surgimento.
Consciente de sua condição de intelectuais, Marx e Engels concentraram-se numa produção teórica rigorosa… mas também fizeram uma opção de classe. E, embora não fossem proletários, assumiram essa perspectiva e tornaram-se militantes e dirigentes internacionalistas do nascente movimento operário europeu. Suas atenções se voltaram para os primeiros levantamentos e para as condições dos trabalhadores, como reação à expansão do capitalismo industrial. Sofreram repressão nos países por onde passaram; fizeram o balanço da Revolução Francesa; participaram da fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), a Primeira Internacional; acompanharam de perto a experiência da Comuna de Paris.
Mais de cem anos depois da primeira revolução proletária bem-sucedida no mundo (Rússia, 1917), iniciar a leitura desses autores pode parecer extemporâneo. Por que voltar a Marx e Engels em um momento destes? Faz sentido indagar o vigor com que esse legado chega ao Brasil e ao mundo nos dias que correm?
Para os que buscam a transformação revolucionária do mundo, a teoria precisa ser instrumento da política, da materialização de seus ideais em projetos concretos. Pois a teoria, segundo Marx, ‘converte-se em força material quando penetra nas massa’. (…) Se remar contra a corrente é o destino inelutável dos que anseiam por mudanças, esperamos que este volume forneça instrumentos aos que insistem em navegar para superar estes tempos de águas turvas.” (JINKINGS, I. Curso Livre Marx-Engels – A Criação Destruidora, Boitempo, 2015. pgs 7 a 9).
Em 2019, o Bolsonarismo se esmera em cagar pela boca suas tóxicas ideologias repletas de racismo, misoginia, LGBTfobia e ecocídio. Neste buquê de fezes que o excrementíssimo presidento expressa com sua verborréia digna de uma bolsa de colostomia do tamanho da China, que fosse capaz de abarcar a quantidade de bosta que profere, o combate ao Marxismo Cultural tem uma razão de ser: é medo da revolução. Pois a História ensina que nenhuma Ditadura de Classe, como esta que o Bolsonarismo intenta instalar entre nós em meio a elogios a torturadores e a milícias, instala-se na paz dos cemitérios – há sempre Resistência e ímpetos revolucionários diante da opressão classista que se ergue para quebrar a espinha (e todos os direitos) da classe trabalhadora.
No começo do ano, Vladimir Safatle escreveu o essencial sobre o combate Bolsonarista contra o espectro do “Marxismo Cultural”:
“Alguns podem achar tudo isto parte de um delírio que normalmente acomete leitores de Olavo de Carvalho. Mas gostaria de dizer que, de certa forma, o atual ocupante da presidência tem razão. Sua sobrevivência depende da luta contínua contra a única alternativa que nunca foi tentada neste país, que nunca se acomodou nem às regressões autoritárias que nos assolam, nem aos arranjos populistas que marcaram nossa história. Pois ninguém aqui tentou expropriar meios de produção para entregá-los à autogestão dos próprios trabalhadores, ninguém procurou desconstituir o Estado para passar suas atribuições a conselhos populares, aprofundando a democracia direta, e nem levou ao extremo necessário a luta pelo igualitarismo econômico e social que permite à todos os sujeitos exercerem sua liberdade sem serem servos da miséria e da espoliação econômica.
Ou seja, a verdadeira latência da sociedade brasileira que poderia emergir em situações de crise como esta é um socialismo real e sem medo de dizer seu nome. A sociedade brasileira tem o direito de conhece-lo, de pensar a seu respeito, de tentar aquilo que ela nunca viu sequer a sombra. Ela tem direito de inventa-lo a partir da crítica e da autocrítica do passado. Mas contra isto é necessário calar todos os que não se contentam com a vida tal como ela nos é imposta por essa associação macabra de militares, pastores, latifundiários, financistas, banqueiros, iluminados por deus, escroques que tomaram de assalto o governo e que sempre estiveram dando as cartas, de forma direta ou indireta.
Assim, quando Jair Messias fala que irá lutar contra o lixo marxista nas escolas, nas artes, nas universidades, entendam que esta luta será a mais importante de seu governo, a única condição de sua sobrevivência. Pois ele sabe de onde pode vir seu fim depois de ficar evidente o tipo de catástrofe econômica e social para a qual ele está nos levando.” (SAFATLE, op cit. Folha de São Paulo / 05 de janeiro de 2019. Leia em https://acasadevidro.com/2019/02/08/nos-o-lixo-marxista-por-vladimir-safatle/)

2. PAULO FREIRE: PROFETA DO “INÉDITO VIÁVEL” DA LIBERTAÇÃO COLETIVA – Escrito no exílio, entre 1968 e 1974, “Ação Cultural Para a Liberdade” é uma das obras-primas do pedagogo libertário Paulo Freire. Fiel a suas posições enquanto marxista cristão, camarada tanto de Cristo quanto de Marx, o educador pernambucano ali defende uma educação que seja sempre “um esforço de clarificação do concreto, ao qual educadores-educandos e educandos-educadores devem encontrar-se ligados através de sua presença atuante. É sempre prática desmitificadora”, afirma (p. 210).
O livro contêm críticas de alto calibre ao papel das igrejas tradicionalistas e reacionárias na América Latina, denunciando as autoridades religiosas que não chegaram a “desvencilhar-se de suas marcas intensamente coloniais”: “Missionária no pior sentido da palavra, conquistadora de almas, esta Igreja, dicotomizando mundanidade de transcendência, toma aquela como a ‘sujeira’ na qual os seres humanos devem pagar pelos seus pecados. Por isso mesmo, quanto mais sofram tanto mais se purificam e, assim, alcançam o céu, a paz eterna. O trabalho não é a ação dos homens e das mulheres sobre o mundo, refazendo-o e fazendo-se nele, mas ‘a pena que pagam por ser homens e mulheres’. Esta linha tradicionalista, não importa se protestante ou católico-romana, se constitui no que o sociólogo suíço Christian Lalive chama de ‘refúgio das massas”.” (p. 192)
Defensor das práticas cristãs propostas pela Teologia da Libertação, Paulo Freire foi um crítico ferrenho da instrumentalização da religião para servir à domesticação e à paralisia das massas oprimidas. Freire agia portanto como um agente iluminista, desmitificador. Em sua adesão a um cristianismo que faz sua aliança com a libertação humana, Paulo Freire vê com horror a “consciência fatalista dos oprimidos, em certo momento histórico”, quando encontram nas ideologias religiosas reacionárias, disseminadas por elites interesseiras, “uma espécie de bálsamo para o seu cansaço existencial”: de fato, como disse Marx em sua célebre expressão, a religião funciona então como “ópio do povo”.
“Por isso, quanto mais imersas na cultura do silêncio estejam as massas populares, quanto maior for a violência das classes opressoras, tanto mais tendem aquelas massas a refugiarem-se em tais Igrejas. Mergulhadas na cultura do silêncio, onde a única voz é a das classes dominantes, encontram nesta Igreja uma espécie de ‘útero’ no qual se ‘defendem’ da agressividade da sociedade. Por outro lado, ao desprezarem o mundo, como mundo do pecado, do vício, da impureza, em certo sentido ‘se vingam’ de seus opressores, que são os ‘donos’ deste mundo. É como se dissessem aos opressores: ‘Os senhores são poderosos, mas possuem um mundo feio, que nós recusamos.’ Proibidas de dizer sua palavra, enquanto classe social subordinada, ganham, no ‘refúgio’, a ilusão de que falam, na expressão de suas súplicas de salvação.
Nada disso, contudo, resolve sua situação concreta de oprimidos. A sua catarse, em última análise, as aliena mais, na medida em que se faz em antagonismo com o mundo e não com o sistema socioeconômico que estraga o mundo. Assim, tendo o mundo em si mesmo como antagônico, tentam o impossível, que é renunciar à mediação dele na sua Travessia. Desta forma, querem chegar à transcendência sem passar pela mundanidade; querem a meta história, sem experimentar-se na história; querem a salvação sem a libertação.
A dor que sofrem no processo de sua dominação as faz aceitar esta anestesia histórica, sob cujo efeito buscam fortalecer-se para lutar contra o demônio e o pecado, deixando, porém, em paz, as causas reais de sua opressão. Assim não podem vislumbrar, mais além das situações concretas, o ‘inédito viável’ – o futuro como tarefa de libertação que têm de criar.” (FREIRE, p. 193-194)

A teoria psicossocial Freireana têm um de seus cernes na explicação dos mecanismos de “interiorização” do opressor dentro do oprimido. Sem dúvida, existem “pobres de direita” – por exemplo, favelados que votaram em Bolsonaro. Quando o oprimido vota no opressor, é sinal de que os modelos do dominador colonizaram o dominado. A educação libertária deveria servir para que os oprimidos e dominados, avançando na sua auto-crítica conexa à sua crítica da realidade social que integram, percebessem o quanto o opressor não é apenas o patrão espoliador ou a classe à que este pertence, não é só o pastor embromador e trambiqueiro que ganha dinheiro mercadejando ilusões etc. O inimigo também é interior: trata-se do opressor interiorizado dentro do oprimido e que Timothy Leary chamava, em suas ensinanças enquanto guru do LSD e da contracultura, de policeman in the head, ou o policial dentro da cabeça.
Os dominados praticam a mímesis (imitação) dos modelos impostos pelos dominadores sempre que os dominados não conseguem desenvolver sua consciência crítica – esta, caso se aprofundasse através do processo educativo, caso a criticidade fosse vencendo a ingenuidade, “começariam a perceber que sua aparente imitação dos modelos do dominador é o resultado da introjeção daqueles modelos e, sobretudo, dos mitos sobre a pseudosuperioridade das classes dominantes a que corresponde a pseudoinferioridade dos dominados”, escreve Freire:
“Basicamente, como tentei aclarar em ‘Pedagogia do Oprimido’, quando certos setores das classes dominadas reproduzem o estilo de vida das classes dominantes, é que estas se encontram na ‘intimidade’ do se daquelas. Os oprimidos extrojetam os opressores quando, tomando distância deles, os objetivam. Identificando-os, reconhecem-nos, então, como seus antagonistas. Na medida, porém, em que a introjeção dos valores dominadores não é um fenômeno individual mas social e cultural, sua extrojeção, demandando a transformação revolucionária das bases materiais da sociedade, implica também uma certa forma de ação cultural. Ação cultural através da qual se enfrenta, culturalmente, a cultura dominante. Os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas, introjetadas neles. A ação cultural e a revolução cultural, em diferentes momentos do processo de libertação, que é permanente, facilitam esta extrojeção.” (p. 86)
A educação tradicional e hegemônica é tão criticada pelo educador pernambucano pois funciona de fato como aparato de inculcação, nos oprimidos, de tiranos interiores ou agentes opressores internos. A religião joga aí o seu papel: ensina aos oprimidos que seu Reino é de outro mundo, e que devem suportar a cruz de suas opressões presentes como se fossem uma chance de dar provas de sua meritória resignação. Sendo fatalistas, resignados, pacientes, comprariam assim um tíquete de entrada no Paraíso transcendente após uma vida de desgraça e miséria suportada “com fé”…
Este bálsamo, este ópio, este refúgio ilusório, é o que Paulo Freire rejeita com veemência. Ele diz que estão certos de verdade “os teólogos latino-americanos que, engajando-se historicamente, cada vez mais, com os oprimidos, defendem hoje uma teologia política da libertação” e “começam a responder às inquietações de uma geração que opta pela transformação revolucionária de sua sociedade e não pela conciliação dos inconciliáveis.” (p. 185)
Por tempo demais, as massas oprimidas e espoliadas foram ensinadas que devem suportar tudo como uma provação mundana enviada por um Deus que escreve certo por linhas tortas. No entanto, muitos oprimidos, quando atravessam uma travessia educativa libertária, começam a ver mais claro e a compreender que a Ditadura de Classe imposta por opressores impiedosos e cruéis jamais pode ser considerada legitimidade como “instrumento de Deus” a ser aceito com resignação dócil.
Pelo contrário: caso se creia em Deus de Justiça e de Bondade, como se escaparia da conclusão de que são demoníacos justamente aqueles que impedem às massas sua ascensão concreta a uma vida mundana com casa, pão, saúde, roupa, educação, trabalho livre, dignidade…?

Na companhia de Frei Betto, o autor de “Batismo do Sangue”, romance que relata as relações de frades libertários com a Aliança Nacional Libertadora liderada por Mariguella
O que Paulo Freire pede dos líderes cristãos é que realizem uma Páscoa em que “morram como elitistas para renascerem como revolucionários.” (p. 176)
“Mas uma tal forma de experimentar-se a Páscoa, eminentemente biofílica, não pode ser aceita pela visão burguesa do mundo, essencialmente necrofílica, por isso mesmo estática. A mentalidade burguesa tenta matar o dinamismo histórico e profundo que tem a Passagem. Faz dela uma simples data na folhinha. A ânsia da posse, que é uma das conotações da forma necrofílica de ligação com o mundo, recusa a significação mais profunda da Travessia.
Na verdade, não posso fazer a Travessia se carregado em minhas mãos, como objetos de minha posse, o corpo e a alma destroçados dos oprimidos. Só posso empreender a Travessia com eles, para que possamos juntos renascer como homens e mulheres, libertando-se. Não posso fazer da Travessia um meio de possuir o mundo, porque ela é, irredutivelmente, um meio de transformá-lo.” (p. 177)
Somos revolucionários pois somos biofílicos. Em um mundo cujas classes dominantes são elitistas, segregadoras e necrofílicas, ser revolucionário é estar a serviço da vida, da dignidade desta, reivindicada para aqui e agora ao invés de falsamente prometida para um além de mentira, um outro-mundo que é só o pseudo-refúgio da consciência alienada.
A Pedagogia do Oprimido, exigente para todos os educandos pois exige deles que enterrem muitas de suas ilusões religiosas e quimeras idealistas, quer converter as consciências ingênuas em consciências críticas. E isso só se aprende em uma escola comprometida com a libertação e que ousa se levantar contra as religiões e igrejas instituídas quando as percebe como agentes da perpetuação da opressão e da desumanização.
Na escola libertadora, os oprimidos “aprendem que a consciência não se transforma através de cursos e discursos ou de pregações eloquentes, mas na prática sobre a realidade. Assim, aprendem igualmente a distorção idealista, por exemplo, que faziam da tão incompreendida conscientização quando pretendiam ter nela uma medicina mágica para a cura dos ‘corações’, sem a mudança das estruturas sociais. Ou, noutra versão não menos idealista, quando pretendiam ter na conscientização o instrumento igualmente mágico para fazer a conciliação dos inconciliáveis…” (p. 178)
A insuficiência da conscientização manifesta a necessidade da práxis radical de transformação revolucionária da realidade social. Só a ação conjunta dos homens é capaz de gerar o processo de partejar uma realidade menos sórdida. Se Paulo Freire é tão demonizado pela extrema-direita e pelo fanatismo cristão no Brasil de 2019, talvez seja pois seu cristianismo libertário bebe em grandes goles na tradição revolucionária marxista, decolonial e internacionalista, propondo que é melhor enterrar as religiões que perpetuam a opressão. Só vale a pena uma religião que seja favorável à libertação biofílica de todos, na direção do inédito viável de um Reino de dignidade, justiça e liberdade que, longe de estar prometido para o Além-Túmulo, é nossa tarefa coletiva realizar durante nossa Travessia de vida.
Neste contexto, é crucial a figura do “trabalhador social” comprometido com a libertação das classes oprimidas, que é também a libertação das classes opressoras, uma vez que liberta a todos dos horrores de uma sociedade cindida e condenada à violência. Para Freire, os educadores são trabalhadores sociais e devem, para realizar as tarefas que tornam sua travessia algo digno de figuras nos anais da história libertária, “optam pela mudança, não temem a liberdade, não prescrevem, não manipulam. Mas, rejeitando a prescrição e a manipulação, rejeitam igualmente o espontaneísmo.” (p. 61)
Eis uma oportunidade importante para questionar, no âmbito da Pedagogia do Oprimido, a posição do educador que se vê muitas vezes solicitado a agir como um “guia” ou como uma “vanguarda esclarecida” diante de seus educandos. Há nisso um perigo, que consiste na arrogância de um educador que se pensasse como um líder que só ensina e guia, nunca sendo ensinado e guiado por sua vez. Mas há nisso também promessa e responsabilidade:
“É que ele sabe que todo empenho de transformação radical de uma sociedade implica a organização consciente das massas populares oprimidas e que essa organização demanda a existência de uma vanguarda lúcida. Se esta, de um lado, não pode ser a ‘proprietária’ daquelas, não pode, de outro, deixá-las entregues a si mesmas.
Seria, porém, uma ilusão pensar que o trabalhador social, numa linha como esta, pudesse agir livremente, como se os grupos dominantes não estivessem necessariamente despertos para a defesa de seus interesses. Em função destes é que são admitidas certas mudanças, de caráter obviamente reformistas e, mesmo assim, com a devida cautela.
Daí a necessidade que tem o trabalhador social de conhecer a realidade em que atua, o sistema de forças que enfrenta, para conhecer também o seu ‘viável histórico’. Em outras palavras, para conhecer o que pode ser feito, em um momento dado, pois que se faz o que se pode e não que se gostaria de fazer.” (FREIRE, Ação Cultural Para a Liberdade. 15ª ed. Paz e Terra: 2015, p. 61)
3. A FILOSOFIA É UM CAMPO DE BATALHA
De acordo com o pensador franco-argelino Louis Althusser (1918 – 1990), devemos considerar a filosofia como uma longa guerra, que já se estende por mais de 2.600 anos, entre o Idealismo e o Materialismo:
“Os idealistas muitas vezes riram da tese de Friedrich Engels segundo a qual a história da filosofia inteira nada mais é do que a luta perpétua do idealismo contra o materialismo. Na realidade, raramente o idealismo se mostrou com seu próprio nome, ao passo que o materialismo, que não levava a melhor, não avançava mascarado, e sim se declarava… Na realidade, toda filosofia é tão somente a realização, mais ou menos bem-sucedida, de uma das duas tendências antagônicas: a tendência idealista e a tendência materialista. E é em cada filosofia que se realiza não a tendência, e sim a contradição entre as duas tendências.” (ALTHUSSER: 2019, p. 213-214).
Não se trata de afirmar que tenha existido ou possa existir alguma filosofia que seja “pura”, totalmente idealista ou totalmente materialista. Como dizia Hélio Oiticica, repetido por Torquato Neto, “a pureza é um mito” – e em filosofia não é diferente. Na verdade, cada filosofia específica expressaria em seu âmago a contradição entre as duas tendências antagônicas na trincheira de batalha filosófica, pendendo ora para o pólo idealista, ora para o pólo materialista, num confronto sem fim entre estas duas posições fundamentais.
Um exemplo histórico interessante ilustra a tese althusseriana: trata-se da oposição, na Grécia antiga, entre a escola inaugurada por Demócrito e continuada por Epicuro (o atomismo materialista), em oposição à escola de Platão, o mais célebre discípulo de Sócrates e principal ideólogo do Idealismo na filosofia grega antiga.
Ora, nos dias atuais, qualquer um que passeie por uma biblioteca repleta de clássicos filosóficos poderá notar com facilidades que as prateleiras estão repletas de livros escritos por Platão (e por seu pupilo Aristóteles). Platão nos legou milhares de páginas contendo dezenas de diálogos filosóficos (quase sempre protagonizados por Sócrates).
Mas não se encontrará por ali, nesta excursão de pesquisa bibliográfica, a mesma profusão de obras escritas por Demócrito e Epicuro. Porém, não é verdade que estes filósofos materialistas tenham escrito menos do que Platão. Tanto Demócrito quanto Epicuro foram escritores de produção imensa, e hoje se atribui ao primeiro a autoria de cerca de 80 tratados, e ao segundo se atribui centenas de cartas, tratados e livros, sendo 37 tomos epicuristas devotados exclusivamente à física materialista.
Se hoje sabemos em certa minúcia a respeito do epicurismo antigo, boa parte do mérito é devido ao poeta romano do séc. 1 antes de Cristo, Lucrécio, voraz leitor e estudioso de Epicuro. Naquela época em que escreveu Lucrécio, os escritos epicuristas ainda não haviam sido “purgados” da face da Terra pelas censuras e fogueiras das gangues idealistas. O próprio “Jardim” ainda prosseguia com seus trabalhos em Atenas, levando adiante a mensagem de sabedoria de seu fundador.
Tudo indica que ocorreu com a obra dos materialistas originários da Humanidade, Demócrito e Epicuro, uma destruição deliberada imposta a seus livros pelo campo antagônico a eles na guerra filosófica – uma história que os idealistas não gostam de contar, ou melhor, preferem censurar. Assim não precisam admitir que a transformação do Idealismo em ideologia dominante se deve não aos méritos intrínsecos, mas à censura da voz e à queima dos livros de seus antagonistas. Eis a tese exposta por Althusser:

“Nas obras de Platão há uma espécie de fantasma, o do materialista Demócrito, cujos 80 tratados (obra gigantesca!) foram destruídos, e em circunstâncias estranhas, o que faz pensar numa destruição voluntária, numa época em que era difícil multiplicar os exemplares de uma obra.
É possível, portante, que a filosofia tenha começado com Demócrito, ou seja, pelo materialismo… E seria contra essa ameaça que Platão teria construído sua máquina de guerra, explicitamente dirigida contra os ‘amigos da terra’, entre os quais é fácil reconhecer os adeptos de Demócrito. Seja como for, e aqui estamos vendo um exemplo concreto da seleção implacável que a ideologia dominante opera, quem permaneceu não foi Demócrito, e sim Platão, e com ele a filosofia idealista dominou toda a história das sociedades de classes, reprimindo ou destruindo a filosofia materialista (não é por acaso que temos apenas fragmentos de Epicuro, o maldito).” (ALTHUSSER: 2019, p. 226)
A tese de uma duradoura guerra entre Idealismo e Materialismo se fortalece com as pesquisas de Stephen Greenblatt, magistral pesquisador inglês vencedor do Pulitzer. Em seu “A Virada – O Nascimento do Mundo Moderno”, ele fez a crônica do acidentado destino histórico de uma das mais importantes obras-primas materialistas de todos os tempos: o poema “De Rerum Natura” (Da Natureza das Coisas) de Lucrécio. Saiba mais em A Casa de Vidro: https://wp.me/pNVMz-2hR e https://wp.me/pNVMz-1Q2.
A verdade é que os escritos de Lucrécio estiveram também muito perto de desaparecer completamente e sem deixar rastros, o que representaria também um naufrágio catastrófico de toda a doutrina Epicurista. Afinal de contas, foi o belo poema lucreciano que serviu como uma espécie de bote salva-vidas que conduziu a doutrina epicurista, através dos tumultuados mares da história, até nossos dias.
A compreensão da história da filosofia, portanto, jamais pode se fazer a contento caso a gente não atente para elementos exteriores à filosofia – em especial, a História e a Economia Política (âmbitos que, como ensina o materialismo dialéticos, estão sempre marcados pela luta de classes). Seria ingênuo e desonesto acreditar que os filósofos estariam imunes aos conflitos ideológicos de suas épocas, que pudessem pensar numa falaciosa “neutralidade”, indiferentes em relação à luta de classes e aos conflitos de poder. “Em última instância”, opina Althusser, a filosofia é “luta de classe na teoria” (p. 235).
Um outro exemplo histórico do mundo grego é a oposição ferrenha entre o aristocrata e monarquista Platão, que propunha que a pólis ideal fosse governada pelo “filósofo-rei”, e o cínico anarquista Diógenes de Sínope, aquele que tinha tamanho desprezo pela classe dominante que, diante do imperador Alexandre o Grande, que o interpelava, mandou que ele saísse da frente de seu Sol.
Aí não estamos apenas diante de uma diversidade de posturas diante da vida, de valores éticos antagônicos, mas da luta de classes encarnada em dois filósofos que estão em lados opostos da trincheira. Tanto é assim que uma anedota narra que Diógenes um dia invadiu a Academia de Platão, segurando nas mãos uma galinha depenada e gritando “eis aqui o homem para Platão!”. Era uma brincadeira com a definição abstrata de homem que o platonismo se deleitava em seguir – a de “bípede implume”.
A galinha de Diógenes é prova de que, em filosofia, a luta entre teorias pode às vezes levar ao ringue de debates não apenas argumentos expressos em palavras, mas galináceos que são a prova viva da impropriedade da abstração idealista tão idolatrada pela seita platônica.
Depois desta breve excursão pelo passado, é preciso dizer que Althusser está interessado sobretudo pelo futuro da filosofia. Não se trata de apenas fazer uma arqueologia da filosofia pretérita para apontar, aqui e ali, elementos que comprovem o quanto a luta de classes marca o caminhar labiríntico dos debates filosóficos. Althusser, seguindo a tese 11 das “Teses sobre Feuerbach” de Karl Marx, sabe que os pensadores que nos precederam interpretaram o mundo de várias maneiras, mas o que interessa de fato é transformá-lo. E a filosofia pode – e até mesmo deve! – servir como uma arma da revolução que se levanta para romper com os horrores e injustiças produzidos pela sociedade baseada na dominação de classe. Um filósofo não pode ficar apático e indiferente diante de uma sociedade sob o domínio econômico, político e ideológico de uma burguesia capitalista que age como exploradora brutal e impiedosa dos assalariados que espolia.

“Vemos delinear-se o futuro de uma prática da filosofia que, ao mesmo tempo que reconhece a existência do campo conflituoso dela e suas leis, se propõe a transformá-lo para dar à luta de classe proletária, se ainda houver tempo, uma ‘arma para a revolução’. Vemos também que essa tarefa não pode ser obra de um único homem, nem tarefa com tempo limitado, e sim uma tarefa infinita, continuamente renovada pelas transformações das práticas sociais e a ser continuamente retomada, para melhor ajustar a filosofia a seu papel unificador, sempre evitando as armadilhas da ideologia e da filosofia burguesas.
Por fim, vemos que nessa tarefa se afirma continuamente o primado da prática sobre a teoria, visto que a filosofia nunca é mais do que o batalhão da luta de classe na teoria e, portanto, em última instância, ela está subordinada à prática da luta revolucionária proletária, mas também às outras práticas.
Mas reconhecemos na filosofia algo completamente diferente da simples ‘serva da política proletária’: uma forma de existência original da teoria, voltada para a prática, e que poderá possuir uma verdadeira autonomia se sua relação com a prática política for constantemente controlada pelos conhecimentos produzidos pela ciência marxistas das leis da luta de classes e de seus efeitos.” (ALTHUSSER: p. 252 – 253)
Obviamente, os idealistas enxergarão nesta postura Althusseriana uma recriminável “militância” que tornaria o filósofo um servidor da revolução proletária e do marxismo cultural, quando o ideal, segundo os idealistas, seria a do pensador “neutro” que se alça, pela via das abstrações, às verdades eternas e absolutas que a Razão pode acessar e que habitam, segundo a expressão jocosa de Aristófanes, recuperada por Nietzsche, lá em “Cucolândia das Nuvens”.
O que de fato Althusser está dizendo é que não há possibilidade de neutralidade em filosofia e que ele, o ser humano específico Louis, nascido na Argélia, estudioso do marxismo, não quer avançar mascarado nem fazer pose de neutro. Quer mostrar-se explicitamente como pensador a serviço da prática revolucionária que rompe com as injustiças da sociedade de classes. Pois esta ruptura só é possível quando rompe-se, em massa, com a magia horrenda da ideologia da classe dominante, desejosa apenas de uma filosofia que lhe lamba as botas e que não prejudique o avanço da concentração de capitais em suas contas bancárias e bolsas de valores.
Neste belo livro que a editora WMF Martins Fontes publica no Brasil em 2019, Althusser encerra suas preleções de “iniciação à filosofia para os não-filósofos” dizendo algo de muito atual: “numa época em que a burguesia desistiu de produzir até mesmo seus eternos sistemas filosóficos para confiar seu destino ao automatismo dos computadores e dos tecnocratas, numa época em que é incapaz de propor ao mundo um futuro pensável e possível, o proletariado pode aceitar o desafio: devolver vida à filosofia e, para libertar os homens da dominação de classe, fazer da filosofia uma arma para a revolução.” (ALTHUSSER: 2019, p. 254)

4. MARX: ATRAVESSANDO A FRONTEIRA ENTRE IDEOLOGIA E CIÊNCIA – Louis Althusser (1918-1990), pensador francês de origem argelina, foi um dos filósofos franceses do século XX que melhor enfatizou e defendeu a importância crucial do marxismo para a nossa compreensão do mundo (e, dentro deste, da história das sociedades reais e concretas): “A fronteira que separava a ideologia da teoria científica foi transposta por Karl Marx“, escreveu Althusser em 1965, e “esse grande feito e essa grande descoberta estão consignados em obras, inscritos no sistema conceitual de um conhecimento cujos efeitos transformaram pouco a pouco a face do mundo e sua história. Não devemos, não podemos um instante sequer renunciar ao benefício dessa insubstituível aquisição, ao benefício de seus recursos teóricos que ultrapassam em riqueza e em potencial o próprio uso que deles foi feito até aqui.” (ALTHUSSER, pg. 207)
Voltando ao início dos anos 1960, a Revista CULT rememora, no artigo “Althusser: Leitor de Marx”, alguns episódios desta aproximação intelectual-prática de Althusser em relação ao marxismo, ou seja, à filosofia materialista histórico-dialética que também tanto interessara, no cenário francês, a Jean-Paul Sartre e Merleau Ponty:
“O ano era 1961. Jovens estudantes da École Normale Supérieure de Paris, intrigados com a leitura de artigos de um então desconhecido professor marxista, decidiram bater à porta de seu gabinete com um pedido de orientação teórica e filosófica. A academia vivia um período de ebulição e expectativa, ao lidar com o trauma aberto na França pela guerra na Argélia e com as notícias vindas da revolução comandada por Fidel Castro em Cuba. O autor dos textos que provocara o grupo de estudantes era Louis Althusser, francês de origem argelina, então com pouco mais de 40 anos, ex-combatente durante a Segunda Guerra e desde 1948 membro do Partido Comunista. Intelectual que até o começo dos anos 1960 voltara suas preocupações ao estudo da interface entre cristianismo e marxismo, e sobretudo à crítica de Hegel no pensamento de Marx, ele então comandava seminários de estudos marxistas no famoso prédio da rua d’Ulm. Professor algo obscuro, Althusser começaria a ingressar naquele momento no panteão histórico das ciências sociais. Com os primeiros artigos de Por Marx, que seriam editados em livro somente em 1965, ele já se desenhava como um dos intérpretes contemporâneos mais influentes do autor de ‘O capital'”. (COSTA, Luis. Revista Cult, Outubro/2017. Link na bibliografia).
Leitura crucial para compreender os debates políticos, econômicos, culturais e ideológicos que envolveram a filosofia marxista francesa nos anos 1960, o livro “Por Marx”, republicado pela editora da Unicamp, marcou época e segue sendo capaz de nos instigar necessárias e urgentes reflexões sobre o legado e a atualidade do marxismo para o século XXI:
POR MARX / A FAVOR DE MARX – “Esta coletânea de artigos, publicada pela primeira vez em 1965 pelas Éditions François Maspero, teve um sucesso excepcional para uma obra teórica. Como notava Élisabeth Badinter no jornal Combat de 25 de abril de 1974: “Os estudantes e os intelectuais marxistas descobriram Althusser e, por seu intermédio, se não um novo Marx, ao menos uma nova maneira de o ler. Desde a ‘Crítica da Razão Dialética’ de Sartre, Althusser é o único filósofo a propor uma interpretação verdadeiramente original das obras de Marx.” A partir da década de 1960, os estudos marxistas não puderam ignorar esta abordagem que estabelecia um “corte epistemológico” na obra marxiana, separando os textos ideológicos do Jovem Marx da obra científica da maturidade. Ela oferecia também outra avaliação do aporte de Hegel a Marx e não hesitava em se inspirar nas reflexões filosóficas de Mao Tsé-Tung para alimentar sua própria filosofia. Raros são os livros tendo suscitado tantas paixões teóricas e provocado tantos debates.” (EDITORA DA UNICAMP, Compre o livro no site oficial: http://www.editoraunicamp.com.br/produto_detalhe.asp?id=901)
Decerto, uma das contribuições maiores de Althusser esteve em suas reflexões sobre a Dialética, em especial pelos esclarecimentos que trouxe sobre as diferenças, neste aspecto, entre Hegel e Marx. Depois de Althusser, tornou-se difícil de sustentar, como diz um clichê vigente, que Marx meramente “inverteu” a dialética Hegeliana, que estava de ponta-cabeça, colocando-a de volta sobre os próprios pés. O buraco é bem mais embaixo.
“A dialética é o estudo da contradição na própria essência das coisas, ou, o que é a mesma coisa, a teoria da identidade dos contrários” – definiu Althusser (p. 156). O conceito remete, em sua fonte primordial, ao pensador pré-socrático Heráclito de Éfeso, que conciliou o “tudo flui” (panta rei) com a noção de que tudo no real estava em fluxo devido a uma guerra eterna entre os contrários – que constituíam uma tensa unidade.
A dialética dos momentos da ideia comanda toda a concepção hegeliana; como disse Karl Marx vinte vezes, Hegel explica a vida material, a história concreta dos povos, pela dialética da consciência (consciência de si de um povo, sua ideologia). Para Marx, ao contrário, é a vida material dos homens que explica sua história: não sendo então sua consciência, suas ideologias senão o fenômeno de sua vida material.” (p. 84)
O pensamento de Marx se forjou na luta, no conflito, na polêmica, no antagonismo, no diálogo crítico, em que ele abriu seu caminho próprio e sem precedentes ao colocar em questão os sistemas idealistas (como o de Hegel) e as revoluções filosóficas materialistas (de Demócrito e Epicuro a Feuerbach e Stirner). Se a luta de classes é o motor da história, pode-se dizer também que, para Marx, a luta das ideias é o motor da filosofia, mas as ideias são sempre epifenômenos de uma totalidade social concreta, historicamente determinada, com suas ideologias batalhando no campo de guerra das representações sociais.
Lendo Althusser, emerge a figura de um Marx heróico, titânico, que em sua juventude batalhou com sucesso contra “uma gigantesca camada de ilusão que ele teve que atravessar antes mesmo de poder percebê-la”:
“A Juventude de Marx conduz ao marxismo, mas ao preço de arrancá-lo prodigiosamente de suas origens, ao preço de um combate heróico contra as ilusões de que foi alimentado pela história da Alemanha onde nasceu, ao preço de uma atenção aguda às realidades sociais que essas ilusões recobriam. Se o caminho de Marx é exemplar, não é por suas origens e seu detalhe, mas por sua vontade indomável de se libertar dos mitos que se faziam passar pela verdade, e pelo papel da experiência da história real que derrubou e varreu esses mitos.” (Althusser, p. 63)
A SER CONTINUADO…
Por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ALTHUSSER, Louis. “Iniciação à Filosofia Para Os Não Filósofos”. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019.
ALTHUSSER, Louis. “Para Marx”. Ed. UNICAMP, 2015.
FREIRE, Paulo. Ação Cultural Para a Liberdade. Paz& Terra, 2015.
GREENBLATT, Stephen. “A Virada”. Companhia das Letras, 2011.
REVISTAS E JORNAIS DIGITAIS CITADOS:
COSTA, Luís. “Althusser: Leitor de Marx”. Revista Cult, acesse:
https://revistacult.uol.com.br/ho…/althusser-leitor-de-marx/
SAFATLE, Vladimir. Nós, o Lixo Marxista. Folha de S. Paulo.






























 m coro de vozes, incontáveis e altissonantes, levantou-se para espalhar pelas cidades os cantos e batuques da emancipação: era 30 de Maio de 2019 e éramos um segundo Tsunami de Gente, dando continuidade aos
m coro de vozes, incontáveis e altissonantes, levantou-se para espalhar pelas cidades os cantos e batuques da emancipação: era 30 de Maio de 2019 e éramos um segundo Tsunami de Gente, dando continuidade aos 







 “A privatização da escola introduz formas de gestão empresariais e verticalizadas, ensina nossos jovens a praticar o individualismo e a competição, reforçando na sociedade formas de organização limitadas e injustas – sem falar da ampliação de processos culturais relativos à violência cultural e ao não reconhecimento das diferenças raciais e de gênero.
“A privatização da escola introduz formas de gestão empresariais e verticalizadas, ensina nossos jovens a praticar o individualismo e a competição, reforçando na sociedade formas de organização limitadas e injustas – sem falar da ampliação de processos culturais relativos à violência cultural e ao não reconhecimento das diferenças raciais e de gênero.