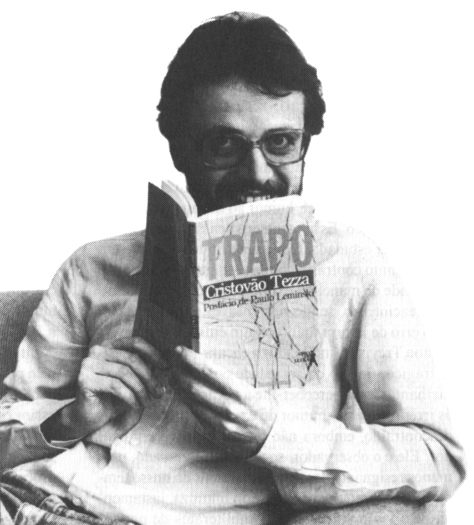“Há temas que se repetem, perguntas que se perpetuam; inquietações coincidem entre o escritor e seus leitores, entre quem dá algum depoimento e quem assiste. “Por que você escreve?” é a primeira e universal indagação.
Um escritor respondeu que se parasse de escrever morreria; portanto, escrevia para não morrer; uma mulher dizia que escrevia para não enlouquecer, outra revela que o faz para ser amada. Sou dos que escrevem como quem assobia no escuro: falando do que me deslumbra ou assusta desde criança, dialogando com o fascinante – às vezes trevoso – que espreita sobre nosso ombro nas atividades mais cotidianas. Fazer ficção é vagar à beira do poço interior observando os vultos no fundo, misturados com minha imagem refletida na superfície.
Tudo isso é jogo – contraponto da vida concreta, onde não me atraem as sombras mas o Sol; não vigio em quartos fechados, mas amo o vasto mar; não me esgueiro, mas, apesar de todas as fragilidades, avanço.
A literatura não emerge de águas tranquilas: fala de minhas perplexidades enquanto ser humano, escorre de fendas onde se move algo que, inalcançável, me desafia. Escrevo quase sempre sobre o que não sei.”
(Lya Luft, O Rio do Meio)
Outro dia me peguei na sacada, sentado no parapeito, debaixo do céu estrelado de Goiânia, pensando sobre a escrita: a importância dela pra mim e o papel central que ela tem (teve e terá) na minha vida. Foi bom e diferente meditar sobre isso enquanto olhava para o espetáculo do mundo (aquele que deveria ser o bastante para contentar o sábio, segundo Pessoa). Pois eu penso sobre escrever, quase sempre, escrevendo. Pois escrever é o meu meio de pensar, e de me obrigar ao exercício do pensamento. Quando me sento para escrever (e o faço quase todo santo dia), repasso a minha vida, desperto o passado de seu sono, descrevo o que me vai na mente, revelo a mim mesmo o que estou sentindo e matutando, como que numa constante reflexão sobre o presente.
“Escrever nos obriga a refletir”, disse o Gustavo Bernardo num dos textos que mais adoro (ver abaixo), e sempre gostei dessa idéia. Até porque quando pensamos-escrevendo vamos deixando rastros de nosso pensamento, vencendo assim, ao menos com vitória provisória, o império do esquecimento. Acho eu que todos temos pensamentos geniais de vez em quando; gênios são aqueles que não permitem que estes esvoaçem para longe como indeteníveis borboletas, que voem para paragens inacessíveis aos tentáculos da memória, e esforçam-se por fixá-los em poesia, sinfonia, romance ou filosofia. Merleau-Ponty: “O artista é aquele que fixa e torna acessível aos outros humanos o espetáculo de que participam sem saber”.
Deixar rastros do pensado e do sentido é essencial para que possamos reatá-los depois e construir com estas colchas de retalhos um tecido — que não é roupa para o corpo mas pode acalentar por dentro. Haverá outro modo de se criar um romance ou uma filosofia a não ser por este procedimento quase aranhístico de ir tecendo a teia do pensamento, palavra à palavra, dia a dia acumulando trabalho, com teimosia e ímpeto? Nem Hegel nem Kant tinham inteirinhas dentro de suas cabeçolas, por mais geniais que fossem, a Fenomenologia do Espírito e A Crítica da Razão Pura: estes foram textos lentamente tecidos através dos anos por estas infatigáveis aranhas filosóficas, que foram lançando sobre o papel as teias de seus pensamentos, entrelaçando-as e concatenando-as, até formarem estas imensas redes labirínticas onde podemos passear e nos perder por anos…
O que quero eu da minha escrita? Que valor tem isso que produzo? Meus textos prestam pra alguma coisa? — perguntas bumerangues que sempre retornam. E não sei ao certo como as respondo; acho que cada hora de um jeito. Sei que não gostaria mais de sentir que aquilo que escrevo não faz diferença, não tem consequência, não muda nada de nada no mundo. Sempre me lembro que “os livros não mudam o mundo; os livros mudam os homens, e estes mudam o mundo”. Mas jamais consegui sentir que minhas palavras mudassem alguma coisa além de mim mesmo, que sou uma partícula tão minúscula e insignificante do Grande Todo. Por muito tempo isso me bastou: o fato da escrita me servir como instrumento para o auto-conhecimento, a confidência, a meditação solitária, até mesmo um estranho tipo de “companhia”. Mas já não basta. Hoje gostaria de sentir que as minhas palavras tem alguma espécie de poder transformador objetivo, que são uma verdadeira partilha e influenciação inter-pessoal, que podem, lidas pelos outros, gerar dentro de outros seres alguns frutos…
Muitas vezes não gosto do que escrevo. Quase quero apagar e dizimar, eu que não sou disso, de rasgar e tacar na lixeira (tenho mania de guardar tudo). Queria escrever algo que soasse autêntico. Que trouxesse a simplicidade do real. Queria conseguir comover. Mas imagino alguém passando os olhos sobre minhas palavras e bocejando. E não queria causar sono nem enfado. Queria que quem lesse fosse além do texto que tem diante de si. Que não visse apenas letras, palavras e frases a serem decodificadas. Que não somente passasse pelo processo de desvendar os sentidos de cada uma das partes linguísticas e também de seu todo. Pois, se escrevo, não é por causa da linguagem. Não quero revolucioná-la. Nem mesmo acho que quero brincar com ela, apesar de ser muitas vezes jogo bem divertido. Queria que lessem sabendo que “do outro lado” do texto está um ser humano vivo, com um coração batendo, com sangue correndo nas veias, que inspira e expira, que caga e mija, que um dia vai morrer, que sofre e se alegra, que tem pessoas amadas e ódios, amigos e desafetos, experiências e horizontes, traumas e sonhos, ousadias e medos. Que o texto fosse uma pequena janela, aberta no peito do outro, onde se pudesse espiar um pedaço de um mistério…
Não sou muito fã de me reler, também. Gosto mais da criação do que da contemplação do criado. Gosto mais da escrita enquanto ela está no seu processo de geração do que quando já está gerada. Acabado um texto, sempre penso que quero escrever um melhor, algum dia, e que pra isso devo prosseguir trabalhando.
Um pouco da minha “aversão” por ficar me relendo é porque várias vezes, ao me ler, me acho muito pretensioso. Sinto que escrevo querendo mostrar que sou inteligente, que sou sabido, que sei escrever direitinho, de modo que o texto pode acabar sendo considerado pelos leitores com antipatia: talvez me considerem um exibidinho, cheio de ostentações… Queria purgar minha escrita de todos os floreios e exibicionismos. Mas uma frase como esta anterior já me trai: usar o verbo “purgar” e a palavra “floreios” já denota que quero mostrar meu vasto vocabulário, meu conhecimento de verbos incomuns, minha capacidade poética… É como se eu caísse automaticamente neste vício, nesta armadilha, que suspeito que acomete tantos escritores: eles pensam mais em si mesmos, quando escrevem, do que nos outros, na sociedade, no mundo, na vida…
É um modo muito egoísta de lidar com a escrita quando aquilo que queremos, no fundo, com um texto que produzimos, é agradar a nosso próprio ego, conquistar a admiração dos outros, ter o nosso saco puxado e nosso talento elogiado. Mas somos todos egoístas, em maior e menor grau, e talvez os que sejam os menos egoístas de todos são aqueles que percebem seu próprio egoísmo com lucidez, se ressentem e se envergonham por se descobrirem tão auto-centrados, e põe-se em luta contra esta tendência…
Há aqueles, é claro, que não admitem seu próprio egoísmo, que se pretendem os filantropos da escritura, que dizem que com a escrita “só querem fazer o bem”… Já eu, confesso que nunca me senti muito “caridoso” enquanto escrevia. Por muito tempo pensei exatamente como um destes escritores que a Lya Luft cita e que dizia: “escrevo pois quero ser amado”. E creio que sempre senti que o conhecimento é pré-condição necessária do amor, ou seja, que amado só seria se desse o meu coração a conhecer. Pois então a escrita seria só um meio para que, através do conhecimento de mim que possibilita aos outros, o amor fique viabilizado — ao menos como um possibilidade realizável.
Mas ainda suspeito desta noção da escrita como “isca” para o amor — porque o que está em jogo, neste caso, é um desejo subjetivo do escritor que não deixa de ser um “fim individual” e, de certo modo, “egoístico”. O escritor ainda está utilizando a escrita para a conquista de satisfações para desejos “individualistas” seus quando procura fazer-se amado através daquilo que produz. Não que isso seja necessariamente um vício ou uma indignidade. Todos nós precisamos nos sentir valorizados pelos outros, ver refletido no espelho das pessoas com quem convivemos o nosso valor, sem o quê a vida perde todo o sentido. O amor é a única fonte de valor. E acredito plenamente que muita coisa bela e útil pode ser escrita por alguém que escreve querendo ser amado, já que o “agrado” ao outro, muitas vezes, passa por uma “tentativa de fazer o bem”, e tentar fazer o bem muitas vezes é fazê-lo de fato.
Mas há o problema da inautenticidade, do risco de falsidade, quando nossa atenção, no processo da escrita, está demasiado voltada para o desejo do outro. Corremos o risco de nos tornarmos pequenos Leonard Zeligs da escritura se queremos nos adaptar ao que supomos que o outro espera de nós, fabricando, quase “sob encomenda”, as palavras que prevemos que agradarão a este outro. Nenhum grande escritor, que eu saiba, tornou-se grande tentando escrever para agradar à mamãe… Sartre garantia: “não se faz boa literatura com bons sentimentos”…
Eu, tendo um blog, tenho uma vaga noção de quem é o meu público leitor, mas sei que ele é heterogêneo e múltiplo: meus amigos e conhecidos que convido diretamente à que me visitem, cada um deles uma pessoa diferente da outra; uma infinidade de gente que não conheço, que cairá na minha casinha virtual pelas vias mais esdrúxulas, às vezes, desde aqueles que pesquisam sobre “niilismo e a morte de Deus” até aqueles que procuram por “putaria XXX com ninfetas” no Google e caem neste blog por acidente (justamente porque escrevi esta frase aqui!). E sei muito bem que não há jeito de agradar toda essa galera ao mesmo tempo. Uma frase bonitinha e doce que talvez agrade à minha mãe talvez seja considerada como uma viadagem por um amigo meu. Uma cáustica chacota contra a religião que eu lançar pode despertar a admiração entusiástica de algum ateu, mas pode fazer com que um leitor crente se indisponha contra mim e me julgue um imprestável e um sem-vergonha. Algum pensamento filosófico complexo que eu expor pode ser muito elogiado por algum colega meu da FFLCH, mas pode parecer incompreensível, pretensioso e chatérrimo para alguém que só curta literatura ou que tenha preguiça de pensar. É a paralisia quase completa da criação, o famoso “writer’s block”, o que pode ser o resultado desta “neura” em tentar agradar a todos os membros deste monstro de centenas de cabeças que chamamos de Leitor — temível centopéia! Mas, ao mesmo tempo que não podemos nos submeter a ele, também não podemos ignorá-lo.
Há aqueles escritores, decerto, que diriam que “escrevem para si mesmos”. Muitos dos grandes, sabe-se, só tiveram suas obras publicadas postumamente. Fernando Pessoa publicou pouquíssimo em vida. Kafka mandou que seu amigo queimasse tudo o que ele escreveu depois que ele morresse. E quase metade do “Em busca do tempo perdido” saiu só depois que Proust já não era mais vivo. Borges dizia que escreveria mesmo se fosse Robinson Crusoé em sua ilha. E não é novidade para ninguém que muitos escritores encheram milhares de páginas de “Diários” que nunca entregaram para a leitura de ninguém, e que muitos destruíram obras que nunca foram lidas… Também me identifico com estes e sou capaz de assinar embaixo com todo ardor quando Borges diz que a “escrita é uma necessidade” e que ela nada tem de uma “tortura”, mas sim de um procedimento aliviante, libertador…
“I said a moment ago that I’ve dedicated my life to reading and writing. For me they are two equally pleasurable activities. When writers talk about the torture of writing, I don’t understand it; for me writing is a necessity. If I were Robinson Crusoe I would write on my desert island. When I was young I thought about what I considered the heroic life of my military elders, a life that had been rich, and mine… The life of a reader, sometimes rashly, seemed to me a poor life. Now I don’t believe that; the life of a reader can be as rich as any other life.” — JORGE LUIS BORGES (entrevista)
É uma noção falsa e ingênua, típica de quem não escreve, achar que a escrita só tem um sentido se for lida. Trata-se do mesmo argumento de quem diz que não há sentido em pintar um quadro e deixá-lo escondido no porão, compor uma canção e jamais fazer com que seja ouvida. Mas não acho que isso seja verdade. Escrever, pintar, compor (em uma palavra: criar) tem seu sentido, seu efeito, suas consequências, ainda que o produto criado não seja entregue a um leitor.
Primeiro pelo que eu chamaria de “Efeito Espelho”: a criação artística é uma exteriorização da interioridade humana, e é sempre mais fácil nós nos conhecermos através de nossas obras do que através duma “introspeção pura”. O auto-conhecimento é obtenível pela escrita-sem-leitor, sem dúvida alguma, quando se escreve com franqueza, quando se utiliza o papel como confidente, quando ele se torna um receptáculo dócil de nossas entranhas… Aquilo que escrevemos é um espelho daquilo que somos.
Segundo pelo que eu chamaria de “Efeito Catártico”, que é um tanto semelhante ao Efeito Espelho, mas que possui suas peculiaridades. Escrever pode ser o equivalente de uma “descarga de energia psíquica”, ou mesmo, para falar em linguagem psicanalítica, um modo de “libertar o reprimido da sua prisão inconsciente”. Mais uma vez, se revela aí o alto valor da escrita para o auto-conhecimento, ou seja, para a auto-modificação. Ninguém escreve impunemente: quando se escreve de verdade, a mente que escreve se modifica conforme a escrita progride em virtude do próprio processo psíquico exigido pela escrita.
Portanto, considero que é possível que a escrita tenha efeitos semelhantes àqueles de verbalizar suas angústias num divã psicanalítico. Claro que existem diferenças cruciais, que não é hora agora de tentar deslindar, mas que se centram na presença, no contexto psicanalítico, de um Outro que nos ouve, nos interpreta, nos julga e que com quem não conseguimos evitar ter uma ligação afetiva, por mais ambígua e ambivalente que seja. O papel não é um Outro: o papel só nos oferece a acolhida indiferente e neutra de um perfeito silêncio. Mas às vezes este perfeito silêncio é necessário para o nosso desnudamento. Mostrar-se para o outro, por inteiro, num strip-tease da alma completo, talvez seja mais difícil do que mostrar-se nu para si mesmo. Talvez.
* * * * *
Mas ver-se ao espelho e conquistar sua catarse não é tudo. E também suspeito muito destes que dizem só se interessar por escrever, independentemente de serem lidos ou não, por achar que há aí uma pontinha de solipsismo, um perigo de autismo, talvez um egoísmo mais intenso e vicioso do que aquele dos escritores que se manifestam desejosos de serem amados…
Pois usar a escrita como um instrumento solitário e achar que ela nisso se esgota é semelhante a pensar que a punheta é o cume da sexualidade. Punheta é ótimo, é claro, e longe de mim ficar dando uma de Papa (vocês sabem o quanto eu antipatizo com a figura, com seu papamóvel ridículo, sua pompa metida-a-besta, seus anátemas malditos). Mas, por mais gostoso que possa ser a masturbação, há um prazer maior, uma experiência de vida muito mais rica, só obtenível na relação com o outro.
As coisas não parecem ser mutuamente excludentes, me parece. Sempre escrevemos na solidão. Mas o produto desta escrita solitária pode nos ajudar a escapar desta solidão mesma na qual criamos. Escrever para construir uma ponte entre duas solidões, entre a minha solidão e mil outras solidões, para que estas solidões possam se comunicar e partilhar, para que pensamentos e afetos possam circular sobre esta ponte estabelecida, eis aí uma imagem que considero muito bonita, e que sinto que persigo, muitas vezes, com a minha escritura tecedora de túneis — “from my window to yours”, como diz a música do Arcade Fire.
Sinto que a escrita, para ser autêntica, precisa ser fiel à verdade daquele que escreve — e não digo fiel a uma Verdade com V maiúsculo. Ser fiel à sua verdade significa descrever, verdadeiramente, o que se sente, o que se sabe e o que se desconhece, os seus limites e seus potenciais. Não significa “revelar aos outros a Verdade”, o que é uma pretensão megalomaníaca típica dos profetas, dos messias, dos padrecos e de outros lunáticos do mesmo naipe, todos em delírio de grandeza. Penso em algo mais humilde e mais simples, até mesmo mais “subjetivo”, se quiserem usar esta palavra. Verdades como: é verdade que sinto medo e angústia quando lembro que vou morrer; é verdade que tenho das minhas inseguranças em relação ao meu valor como pessoa e tudo o que produzo; é verdade que não sei muito bem o que é a vida e que minhas respostas são tão poucas… Ou até mesmo: é verdade que minto muitas vezes, e que menti quando disse que estava tudo bem…
Mas pode muito bem ser verdade (quase sempre é) que quem escreve deseja, no fundo, ser amado. Ainda que não o confesse abertamente. Ainda que seja por seres específicos (pois é sempre por seres específicos que queremos ser amados, não por abstrações — que aliás não amam nada nem ninguém!). Não vejo mal nisso, como já disse, desde que isso não faça o escritor cair na inautenticidade.