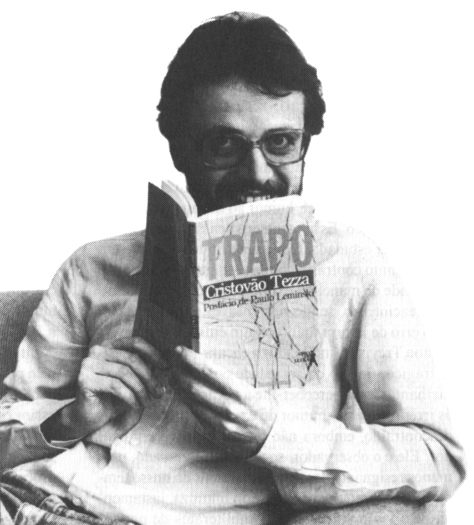O MAL DE ALZHEIMER NACIONAL
E UMA TERAPIA LITERÁRIA
CONTRA A MURALHA DE SILÊNCIO
por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro
Logo no primeiro capítulo de “K. – Relato de Uma Busca” (Cia das Letras, 2016, 176 pgs, compre já), Kucinski evoca o espectro de um certo “mal de Alzheimer nacional”. Escapando de ser apenas um romance autobiográfico, onde um sujeito elaboraria apenas seus traumas individuais, K. é um livro salutar por exumar os ossos de nosso passado coletivo. Um romance que se alça ao nível de retrato de uma época, mas que também visa ir além da descrição e agir como um antídoto contra o tal Alzheimer. A literatura como remédio. Nisto, seus efeitos e intenções parecem-me em sintonia com a Comissão Nacional da Verdade (2012 -2014), instituída durante a presidência de Dilma Rousseff, ou com iniciativas como o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, um dos locais mais imprescindíveis de se conhecer em Santiago do Chile.
Neste diagnóstico médico-sociológico que o livro veicula, o Brasil estaria adoentado devido a uma disseminada tendência ao esquecimento de seu passado, em especial devido ao recalque e ao pacto de silêncio que recobre boa parte do que ocorreu de terrível e atroz nos anos da ditadura militar (1964 – 1985) no trato truculento do regime com os opositores políticos (sobretudo aqueles que aderiram à resistência armada). Ainda que já estejamos carecas de saber que “um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la” (frase atribuída a figuras tão díspares quanto Che Guevara, Edmund Burke e George Santayana), parecemos agir muito pouco, e muito mal, em prol de um autêntico trabalho de acerto-de-contas com o passado. A Lei da Anistia de 1979 sacramentou a impunidade dos perpetradores fardados de torturas e homicídios, tendo feito pouco pela tão propalada “reconciliação nacional”.

A esperança infrutífera pode ser uma tortura. E os torturadores que agiam nas ditaduras militares latino-americanas o sabiam bem. Adicionaram ao seu arsenal de maldades aquilo que veio a ser chamado, por eufemismo, de “desaparecimentos” de adversários políticos. Dar um chá-de-sumiço em alguém significa condenar os amigos e familiares do desaparecido ao tormento infindável de uma esperança angustiosa e quase sempre vã. É roubá-los do direito ao luto.
Todos aqueles que tinham vínculos afetivos com o morto sofrerão, às vezes por anos, em uma busca dolorosa pelo sumido, sem nunca poderem ter a satisfação mínima de seu desejo de justiça contra os perpetradores ditatoriais do sumiço. Sumiço que é sintoma de terrorismo de Estado: agentes públicos das forças de segurança praticando, contra cidadãos-ativistas, sequestros seguidos de tortura, assassinato e ocultação de cadáveres. É no epicentro de uma dessas tragédias que nos coloca o romance de Bernardo Kucinski, assim apresentado pela editora:

Ana Rosa Kucinski, assassinada e desaparecida pela ditadura militar brasileira em 1974, aos 32 anos de idade. Professora da USP, Ana Rosa era formada em Química, doutora em Filosofia e militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN)
“Em 1974, a irmã de Bernardo Kucinski, Ana Rosa Kucinski (1942 – 1974), professora de Química na Universidade de São Paulo, é presa pelos militares ao lado do marido e desaparece sem deixar rastros. O pai dela, dono de uma loja no Bom Retiro e judeu imigrante que na juventude fora preso por suas atividades políticas, inicia então uma busca incansável pela filha e depara com a muralha de silêncio em torno do desaparecimento dos presos políticos.
K. narra a história dessa busca. Lançado originalmente em 2011 pela editora Expressão Popular, em 2013 ganhou nova edição pela Cosac Naify, e finalmente, em 2016, chegou à Companhia das Letras. Ao longo desses anos, K. se firmou como um clássico contemporâneo da literatura brasileira.”
A importância história desta obra literária está muito além de uma investigação sobre o “caso Ana Rosa” e das peripécias do pai dela – Meier Kucinski – em busca de seu paradeiro. A empatia do leitor é a todo momento instigada pelo texto em que narram-se as tentativas de K. em desvelar a verdade sobre Ana Rosa, que quase sempre bate com a cabeça em uma espessa muralha de silêncio e desinformação, e através deste processo todo um continente de memória coletiva soterrada começa a vir a toda. Não só Ana Rosa, mas centenas de vítimas do regime ressurgem das ruínas e pedem-nos que lhe concedamos a acolhida de nossa atenção, nossa compaixão, nossa indignação.
A sensação de desnorteio em que nos lança o romance é kafkiana e a inicial K., além da óbvia referência a Kucinski, também evoca a influência de Kafka guiando a pena de Bernardo. Vítima tanto do antisemitismo reinante na Praga de seu época quanto do totalitarismo familiar encabeçado por seu pai, Franz Kafka é talvez o escritor que mais marque com sua influência a escritura de Kucinski em K. Descendentes de poloneses, muitos deles mortos no Holocausto, os Kucinski estão em posição que os capacita a realizar paralelos entre os procedimentos da ditadura militar no Brasil e a do III Reich alemão em seus genocídios na Polônia. É o que dá o tom em vários trechos do livro – como nas reflexões finais do capítulo “Sorvedouro de Pessoas”:
“Até os nazistas que reduziam suas vítimas a cinzas registravam os mortos. Cada um tinha um número, tatuado no braço. A cada morte, davam baixa num livro. É verdade que nos primeiros dias da invasão houve chacinas e depois também. Enfileiravam todos os judeus de uma aldeia ao lado de uma vala, fuzilavam, jogavam cal em cima, depois terra e pronto. Mas os goim de cada lugar sabiam que os seus judeus estavam enterrados naquele buraco, sabiam quantos eram e quem era cada um. Não havia a agonia da incerteza; eram execuções em massa, não era um sumidouro de pessoas.” (p. 25 – P.S.: contestado por este trecho por alguém que trabalha no Museu do Holocausto, Kucinski sentiu-se na necessidade de escrever Os Visitantes, sequência de K., também publicado pela Cia das Letras).
O sumidouro de pessoas, sintoma de uma espécie de fascismo tupiniquim, era um dos modos forjados pela ditadura para lidar com as pessoas que aderiram à luta armada que a contestava. A repressão contra os guerrilheiros e militantes da esquerda teve por parte da repressão militar alguns episódios de genocídio (como no Araguaia), de pseudo-suicídios (como o de Vladimir Herzog), de assassinatos explícitos (como o de Carlos Marighella). Ana Rosa e seu marido Wilson Silva encarnam duas figuras que servem de ícone para centenas de outros brasileiros cujas vidas sumiram, tragadas pela máquina assassina instaurada a partir do Dia da Mentira de 1964.
Negando aos familiares os restos mortais do adversário político assassinado, a ditadura negava não só possibilidade de enterrar um ente amado com dignidade, lápides e epitáfios celebrando o falecido. A ditadura fazia algo pior: impunha a tortura psicológica a todos aqueles que conviveram com os assassinados. Além disso, o desaparecimento manifesta a prudência de facínoras que desejam permanecer impunes: sem o cadáver como prova inconteste do crime, dificilmente pode-se condenar os perpetradores. Ao impedir a despedida e o luto dos familiares pela vítima, como requinte de crueldade imposto pelos ditadores e seus funcionários, o regime militar também escondia suas atrocidades – não só aquela dos manda-chuvas, dos Fleurys, mas também a dos reles soldados e PMs obedientes, funcionários na maquinaria desumanizadora e que banaliza o mal.
Em seu trabalho Relampejos do Passado – Memória e Luto dos Familiares de Desaparecidos Políticos da Ditadura Civil-Militar Brasileira (Ed. Unifesp, 2017), Amanda Brandão Ribeiro relembra o Caso Kucinski em seu pungente capítulo “O Caminho dos Ossos”, destacando que
“o jornalista e escritor Bernardo Kucinski expressou insatisfação quanto à reparação conduzida pela USP em relação à irmã, Ana Rosa, professora de Química da universidade. Militantes da ALN, Ana Rosa e o marido Wilson Silva desapareceram em abril de 1974 no centro da cidade de São Paulo e nunca mais foram vistos. Segundo depoimento do ex-delegado Cláudio Guerra, o casal foi levado para a Casa da Morte, onde sofreu diversos tipos de sevícias, inclusive sexuais, sendo posteriormente incinerados nos fornos da usina Cambahyba. Fazia anos que a família da Ana Rosa solicitava que a USP retificasse sua demissão por “abandono” de emprego, decidida pela Congregação do Instituto de Química um ano após o desaparecimento da professora. Somente em 1995, com a lei dos mortos e desaparecidos, o reitor anulou o documento. Entretanto, em audiência pública organizada pela Comissão da Verdade – SP com intuito de debater as condições da demissão de Ana Rosa e de pressionar o Instituto a pedir desculpas oficialmente pelo ato, Bernardo expôs suas críticas quanto à execução da reparação:
— O que me aborreceu muito aqui na USP foi que quando eu pedi a anulação da demissão da minhã irmã, a assessoria jurídica da Reitoria teve a ousadia de produzir um parecer, em linguagem jurídica, de quase 100 páginas, em que afinal concedia a anulação da demissão, mas justificava a posição anterior. Ou seja, não seja, não há autocrítica, não há reconhecimento da conivência. Não se avança em cima dos erros cometidos! Esse é o grande problema: a universidade não reconhece o grau de colaboração que seus agentes e muitos professores tiveram com o regime militar.
Na data em que se completaram 40 anos do desaparecimento de Ana Rosa, o Instituto de Química da USP pediu desculpas publicamente pela demissão da professora e inaugurou uma escultura em sua homenagem [veja reportagem do Estadão]. Contudo, o reconhecimento por parte da universidade de sua colaboração com os órgãos de repressão da ditadura não foi feito.” (RIBEIRO, Amanda Brandão: Sp, Unifesp, 2017, p. 132-133)
No país da impunidade para as elites rapinadoras, convivendo com o Estado Penal mais truculento para as chamadas “ralés”, a imensa maioria dos torturadores a serviço do regime militar jamais serão punidos: “todos eles morrerão de morte natural, rodeados de filhos, netos e amigos, homenageados seus nomes em placas de rua.” (KUCINSKI, K., p. 29 – ver também o capítulo “As ruas e os nomes”, p. 149 a 153) Sobre este tema, Vladimir Safatle escreveu contundes palavras em seu livro mais recente, Só Mais Um Esforço:

“Nenhum outro país protegeu tanto seus torturadores, permitiu tanto que as Forças Armadas conservassem seu discurso de salvação através do porrete, integrou tanto o núcleo civil da ditadura aos novos tempos de redemocratização quanto o Brasil. Há de se lembrar que o Brasil é o único país da América Latina onde os casos de tortura aumentaram em relação à ditadura militar. Por isso, nenhum outro país latino-americano teve um colapso tão brutal de sua ‘democracia’ como o nosso, com uma polícia militar que age como manada solta de porcos contra a própria população que paga seus salários. Nenhum outro país latino-americano precisa conviver com um setor proto-fascista da classe média a clamar nas ruas por ‘intervenção militar’, a ponto de invadir o plenário do Congresso Nacional com suas bandeiras. Tudo isso demonstra algo claro: a ditadura brasileira venceu. Como um corpo latente sob um corpo manifesto, ela se conservou e a qualquer momento pode novamente emergir.” (SAFATLE, 2017. p. 65)
Por isso, como Safatle e Edson Teles vêm defendendo, a tarefa da memória é urgente para a nossa renovação política, é algo que devemos encarar sem tardar, sob o risco de na repetição de tragédias soçobrar e voltar a soçobrar. O desinteresse pela nossa história, inclusive em seus aspectos mais grotescos e horrendos, só pode gerar ao esvaziamento de nossa experiência cidadã. Sem a memória do passado e as lições que isso pode nos ensinar, somos engolfados na monstruosidade de um presente desenraizado, esvaziado de sentido, não alimentado pela sabedoria que a experiência e a sofrência de gerações pregressas nos comunica. Amnésicos de nossas tragédias coletivas, estaríamos por isso mesmo condenados a repeti-las.
É o que indicam os graves sintomas recentes: a fratura exposta no esqueleto da democracia que foi o golpe de 2016, que têm como uma de suas cenas emblemáticas o deputado Bolsonaz, por ocasião da votação do impeachment de Dilma, em Abril de 2016, fazendo o elogio do coronel Ultra, chefe do DOI-Codi entre 1970 e 1974 – o que lhe rendeu poucos dissabores além de uma cusparada na cara que lhe concedeu, em momento à la Angeli’s Bob Cuspe, o deputado Jean Wyllys (PSOL). Que o mesmo Bolsonazi esteja, ao raiar de 2018, em segunda posição nas intenções de voto para a presidência da República, é mais um triste lembrete do Alzheimer nacional de que fala Kucinski e que é nossa tarefa urgente medicar e operar.
O imediatismo reinante na sociedade de consumo capitalista talvez conspire, com poderio avassalador, contra a lentidão do trabalho de recordação. Isto não o faz menos necessário e salutar. Kucinski, recriando na ficção a tragédia de sua irmã Ana Rosa e da busca aflita de seu pai, Meir Kucinski (1904-1976), pelo paradeiro da assassinada, legou-nos o que Eric Nepomuceno descreveu como “uma narrativa de vertigem, escrita de forma pungente e avassaladora. Mais que um grito de dor e revolta, mais que um uivo inconformado, é um lento, sossegado, estonteante lamento.”
Nepomuceno & Galeano, guerrilheiros da memória
Na Argentina, a ditadura tinha por costume sumir com os corpos “atirando-os de um avião ao mar bem longe da costa” (p. 58), sepultando anonimamente e sem pompas fúnebres os inimigos do regime. No Chile, após o golpe de 11 de Setembro de 1973 que instaurou o regime fascista-liberal Pinochetista, além das chacinas sumárias do Estádio Nacional, começaram a ser vistos em Santiago os cadáveres boiando nas águas, tornadas assim mais rubras que de costume, do rio Mapocho. Sobre a situação chilena durante a conturbada derrubada de Allende e instauração da ditadura, Alfredo Sirkis deixou-nos um belo livro, Roleta Chilena, que soma-se ao seu já clássico relato em primeira mão de algumas peripécias da guerrilha brasileira em Os Carbonários.
Sobre o proceder carniceiro dos algozes brasileiros, Kucinski nos fornece detalhes assustadores, como naquele capítulo brilhante, “A Terapia” (p. 113 a 124), de teor altamente hardcore, onde dá voz à faxineira Jesuína, a serviço de Fleury. Ela relembra seu serviço em um casarão em Petrópolis, rodeado por muros altos, em bairro de gente grã-fina. Jesuína relembra:

“Quando os carros chegavam, o portão abria, automático, os carros entravam com o preso e logo levavam ele para baixo, onde estavam as celas… Lá no andar de baixo, além das celas, também tinha uma parte fechada, onde interrogavam os presos, era coisa ruim os gritos, até hoje escuto os gritos, tem muito grito nos meus pesadelos. (…) Eu servia os presos, limpava as celas, tentava me fazer de boazinha. A cara deles era de apavorar, os olhos esbugalhados; tremiam, alguns ficavam falando sozinhos, outros pareciam que já estavam mortos, ficavam assim meio desmaiados…
Lá em baixo tinha uma garagem virara para os fundos, parecendo um depósito de ferramentas; levavam os presos para lá e umas horas depois saíam com uns sacos de lona bem amarrados, colocavam os sacos numa caminhonete estacionada de frente pro portão da rua, pronta para sair, e iam embora. Acho que levavam esses sacos para muito longe, porque essa caminhonete demorava sempre um dia inteiro para voltar. Aí eles lavavam tudo lá embaixo com uma mangueira, esfregavam, esparramavam cândida. Atiravam umas roupas e outras coisas no tambor e punham fogo.
Os presos eram levados para lá, sempre um só de cada vez, e nunca mais eu via eles. Lá em cima eu via pela janela eles serem levados para dentro da tal garagem, nunca vi nenhum deles sair. Nunca vi nenhum preso sair. Nunca… Uma vez eu fiquei sozinha quase a manhã inteira, os PMs mineiros saíram bem cedo de caminhonete dizendo que tinham acabado os sacos de lona, o lugar onde compravam era longe, iam demorar. O Fleury tinha voltado para São Paulo de madrugada. Eu sozinha tomando conta. Então desci até lá embaixo, fui ver. A garagem não tinha janela, e a porta estava trancada com chave e cadeado. Uma porta de madeira. Mas eu olhei por um buraco que eles tinham feito para passar a mangueira de água. Vi uns ganchos de pendurar carne igual nos açougues, vi uma mesa grande e facas igual de açougueiro, serrotes, martelo. É com isso que tenho pesadelos, vejo esse buraco, pedaços de gente. Braços, pernas cortadas. Sangue, muito sangue.” (KUCINSKI, p. 120-123)
Este capítulo notável do livro de Kucinski focaliza uma sessão de psicoterapia em que Jesuína, elaborando seus traumas, trazendo de volta à luz suas lembranças assombradas, traz à tona também fragmentos da tragédia coletiva que interessa ao autor de K. desenterrar. O pai de Ana Rosa, assim, fica mesmo solitário no palco do romance, que divide com outros narradores, em um livro polifônico, que evoca múltiplas perspectivas em seu modo de construção fragmentário e labiríntico.

Sobre o processo de escrita dos traumas – não apenas enquanto catarse, mas também como maneira de expor feridas que dizem respeito não só ao indivíduo ferido, mas também às tragédias vivenciadas pela comunidade que ele integra – a psicanalista Maria Rita Kehl, integrante da Comissão Nacional da Verdade, em seu prefácio ao livro de contos de Kucinski Você Vai Voltar Para Mim, faz pertinentes reflexões sobre este tema:
“Passado um tempo subjetivo em que o silêncio e o estupor são as únicas reações possíveis ante o evento traumático, as vítimas e as testemunhas se põe a falar. Ou a escrever. Não é um capricho: é uma necessidade. É preciso compartilhar o acontecido com o outro, os outros. O pesadelo recorrente de Primo Levi, de que ao voltar para casa ninguém acreditaria no seu testemunho, não pode se realizar. As vítimas de todas as experiências de terror sentem a necessidade de incluir cada terrível fragmento do Real no campo coletivo da linguagem, como forma de diluir a dor individual na cadeia de sentido que recobre a vida social.” (KEHL, p. 16)
A situação aflitiva descrita em K. também dá as caras no conto “Joana”, uma das 28 narrativas curtas que integra Você Vai Voltar Para Mim. A protagonista Joana é uma senhora que costuma vagar pelas cidade conversando com moradores de rua e que, como o narrador revela, carrega o fardo de uma perda similar à de K:

“Seu marido foi preso em 1969. Era metalúrgico e se chamava Raimundo. Católico praticante como ela. Vieram do Nordeste em busca de uma vida um pouco melhor em São Paulo. Já tinham então dois filhos. Aqui Raimundo se ligou a um grupo da Ação Popular que organizava operários nas fábricas.
Um dia, bem cedo, a polícia foi à casa deles e levou Raimundo. Sem mandado de prisão, sem nada. Soube-se depois que ele foi espancado de modo tão brutal que morreu no mesmo dia. Seus gritos eram ouvidos em outras celas. Para ocultar o homicídio, no caso doloso e qualificado, pois acompanhado do crime acessório de abuso de autoridade, a polícia cometeu outro crime, o de ocultamento de cadáver. Sumiram com o corpo de Raimundo.
Tudo isso foi comprovado, depois que acabou a ditadura, por documentos e depoimentos em várias comissões. Só não se sabe, nunca se soube, para onde levaram o corpo e como se desfizeram dele. Se foi enterrado como indigente ou incinerado, ou disposto de outra forma… Embora o próprio cardeal tenha assegurado a Joana que o marido foi espancado até não restar nele sopro de vida, ela não aceitou que ele tivesse morrido. Cadê o corpo?, ela perguntou. E sempre pergunta. Diz que só vai se considerar viúva no dia em que trouxerem o atestado de óbito de Raimundo e mostrarem sua sepultura…” (KUCINSKI, 2014, Cosac Naif, p. 58-59)
O impacto emocional de K. provêm também da autenticidade com que Kucinski pinta o retrato das metamorfoses afetivas do pai, Meier, em sua epopéia em busca da verdade sobre Ana Rosa, desde os primeiros dias de seu sumiço até chegar à uma espécie de desalentada exaustão. Quando Ana Rosa desaparece, ele “tateia como um cego o labirinto inesperado da desaparição”; “depois, quando se passaram muitos dias sem respostas, esse pai ergue a voz; angustiado, já não sussurra, aborda sem pudor os amigos, os amigos dos amigos e até desconhecidos; assim vai mapeando, ainda como um cego com sua bengala, a extensa e insuspeita muralha de silêncio que o impedirá de saber a verdade. Descobre a muralha sem descobrir a filha”; “quando as emanas viram meses, é tomado pelo cansaço e arrefece, mas não desiste. O pai que procura a filha desaparecida nunca desiste. Esperanças já não tem, mas não desiste. Agora quer saber como aconteceu. Onde? Quando exatamente? Precisa saber, para medir sua própria culpa.” (p. 83-85)
Um dos tormentos de K., depois do desaparecimento da filha, está em sentir-se culpado por estar demasiado submerso em seus estudos de íidiche e seus debates intelectuais, a ponto de ter prestado pouca atenção às atitudes da filha, sua escolha pela luta armada via ALN, seu relacionamento com Wilson (retratado de modo divertido no capítulo “Livros e Expropriação”, p. 49 a 52). K. sente o peso de uma culpa que não é estranha aos sobreviventes de pogroms, genocídios, holocaustos – a culpa por ter sobrevivido. Em um dos capítulos mais reflexivos e filosóficos da obra, Kucinski tecerá uma rica meditação que evoca as obras de Milan Kundera e Franz Kafka – dois mestres em retratar na literatura as densas vidas de tchecos em meio às tempestades históricas – além de um debate pertinente sobre o filme A Escolha de Sofia, de Alan J. Pakula (já dissecado em A Casa de Vidro neste artigo):

Meir Kucinski (1904-1976), o pai de Ana Rosa e Bernardo, inspiração para o personagem K. Foto via Ateliê.
“Embora cada história de vida seja única, todo sobrevivente sofre em algum grau o mal da melancolia. Por isso, não fala de suas perdas a filhos e netos; quer evitar que contraiam esse mal antes mesmo de começarem a construir suas vidas. Também aos amigos não gosta de mencionar suas perdas e, se são eles que as lembram, a reação é de desconforto. K. nunca revelou a seus filhos a perda de suas duas irmãs na Polônia, assim como sua mulher evitava falar aos filhos da perda da família inteira no Holocausto.
O sobrevivente só vive o presente por algum tempo; vencido o espanto de ter sobrevivido, superada a tarefa da retomada da vida normal, ressurgem com força inaudita os demônios do passado. Por que eu sobrevivi e eles não? É comum esse transtorno tardio do sobrevivente, décadas depois dos fatos.

No filme A Escolha de Sofia, uma polonesa é obrigada pelo ocupante nazista a escolher qual dos seus dois filhos ela prefere que sobreviva: o menino ou a menina? Se fosse judia não teria escolha, iriam os dois para o crematório; sendo polaca o guarda inventa um novo jogo, que a mãe faça a escolha, caso contrário as duas crianças serão mortas. A Escolha de Sofia tornou-se expressão de uma escolha impossível, na qual todas as opções são igualmente dolorosas.
Mas a pergunta a ser feita é: por que o soldado alemão decidiu submeter a mão ao tormento da escolha quando era mais simples matar logo as duas crianças e também a mãe, ou ele próprio decidir qual delas matar e qual poupar? Sadismo? Talvez. Mas um sadismo funcional, porque através desse mecanismo o criminoso transferiu à mãe a culpa pelo filho morto. Não foi ela quem escolheu? Esse sentimento de culpa vai se apossando da alma da mãe no decorrer dos anos até que já anciã, sobrevivente de guerra vivendo na América, Sofia se suicida, não suportando mais a carga de uma culpa que nunca foi dela.
A culpa. Sempre a culpa. A culpa de não ter percebido o medo em certo olhar. De ter agido de uma forma e não de outra. De não ter feito mais. A culpa de ter herdado sozinho os parcos bens do espólio dos pais, de ter ficado com os livros que eram do outro. De ter recebido a miserável indenização do governo, mesmo sem a ter pedido. No fundo a culpa de ter sobrevivido.
Milan Kundera diz que Kafka não se inspirou nos regimes totalitários, embora seja essa a interpretação usual, e sim na sua experiência familiar, no medo que tinha de ser julgado negativamente pelo seu pai. Em O Processo, Joseph K. examina seu passado até os ínfimos detalhes, em busca do erro escondido, da razão de estar sendo processado. No conto O Veredito, o pai acusa o filho e ordena-lhe que se afogue. O filho aceita a culpa fictícia e vai se atirar ao rio tão docilmente quanto mais tarde Joseph K. vai se deixar executar, acreditando que de fato errou, pois disso era acusado pelo sistema. Como Sofia, no fim se matou.
Também os sobreviventes daqui estão sempre a vasculhar o passado em busca daquele momento em que poderiam ter evitado a tragédia e por algum motivo falharam. Milan Kundera chamou de ‘totalitarismo familiar’ o conjunto de mecanismos de culpabilização desvendados por Kafka. Nós poderíamos chamar o nosso de ‘totalitarismo institucional’.
Porque é óbvio que o esclarecimento dos sequestros e execuções, de como e quando se deu cada crime, acabaria com a maior parte daquelas áreas sombrias que fazem crer que, se tivéssemos agido diferentemente do que agimos, a tragédia teria sido abortada.
Por isso, também as indenizações às famílias dos desaparecidos – embora mesquinhas – foram outorgadas rapidamente, sem que eles tivessem que demandar, na verdade antecipando-se a uma demanda, para enterrar logo cada caso. Enterrar os casos sem enterrar os mortos, sem abrir espaço para uma investigação. Manobra sutil que tenta fazer de cada família cúmplice involuntária de uma determinada forma de lidar com a história.
O ‘totalitarismo institucional’ exige que a culpa, alimentada pela dúvida e opacidade dos segredos, e reforçada pelo recebimento das indenizações, permaneça dentro de cada sobrevivente como drama pessoal e familiar e não como a tragédia coletiva que foi e continua sendo, meio século depois.” (BERNARDO KUCINSKI, p. 154-156)
A evocação da escolha impossível de Sofia (interpretada por Meryl Streep), no filme de Pakula, serve-nos também como alerta contra aqueles que, ainda hoje, tentam justificar as atrocidades da ditadura militar com a repetição do argumento vil: foram mortos pois eram guerrilheiros, ou seja, terroristas, ou seja, bandidos – e “bandido bom é bandido morto”.
Contra este acintoso argumento, que lança o estigma e a culpa sobre os assassinados, precisamos resgatar em minúcias as histórias de vida, e os exemplos de bravura e auto-sacrifício, de todos os que pereceram na luta contra o regime sanguinário e açougueiro instaurado pelo golpe de 1964. É preciso celebrar a memória de centenas de Anas Rosas e Herzogs. É preciso afrontar a muralha de silêncio que deseja-nos apartados da verdade sobre o que se passou com nosso povo. É preciso, agora e no futuro, afastar de nós este “cale-se” amargo, “de vinho tinto, de sangue”.
Kucinski legou-nos, através de sua terapia literária, de sua escrita impregnada de autenticidade, de sua busca pelo desvelamento do passado, um indispensável remédio contra o “mal de Alzheimer nacional”. Engulamos esta medicina em altas doses, antes que o tropel da ditadura volta a cavalgar sobre nós, fazendo de nós mera carne a ser estripada em seus açougues da desumanidade. Os esquecidiços, os amnésicos, os desenraizados, serão sempre os vetores da Banalidade do Mal desvendada por Arendt, os servis funcionários do “totalitarismo institucional” que ainda está longe de ter sido aposentado da História.
E.C.M., Goiânia, Dezembro de 2017
COMPRAR LIVRO NA LIVRARIA A CASA DE VIDRO
LEIA TAMBÉM:
ASSISTA A ALGUNS VÍDEOS:
COMPARTILHE NO FACEBOOK: