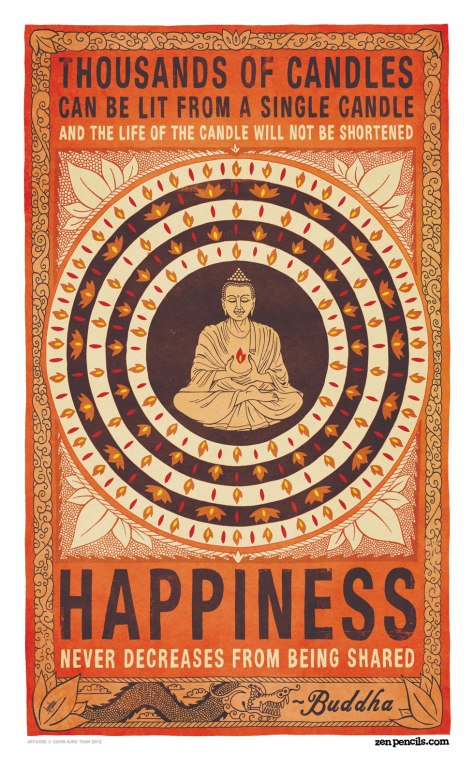Uma representação de Shiva, deus que dança, que decora a sede do CERN em Genebra, próximo à fronteira entre França e Suíça; é ali que fica o berço da World Wide Web (a Internet) e dos aceleradores de partículas como o LHC (Large Hadron Collider)
O NASCEDOURO DAS CIÊNCIAS:
O sêmen da Física na escola-de-pensamento de Demócrito, Epicuro & Lucrécio
Deixemos os deuses sossegados! Não atormentemos com súplicas e orações aqueles que, distantes e alheios, não nos dão ouvidos! Lucrécio recomenda, para sermos mais felizes, que aniquilemos no peito estes dois gêmeos siameses: o medo e a esperança. Não há nada a temer ou esperar em relação aos deuses ou à morte, como mestre Epicuro ensinava. Há razão, isso sim, em viver de modo deleitável e prazenteiro, cultivando e colhendo “os doces frutos de um tempo bem vivido” [1], neste período que aos mortais é emprestado para que existam: entre o nascimento e o túmulo. Carpe diem, my friends! “Gather ye rosebuds while ye may”!
Não acreditemos demais na reputação, um tanto caluniosa, imposta a Lucrécio por seus detratores, que querem pintar um retrato do poeta como um niilista, um maníaco-depressivo, que morreu no desespero e na aflição. Quanto mais leio Lucrécio, mais o adoro e mais concluo que não é um pessimista que negue valor à existência e faça a defesa do péssimo, mas muito mais aquele que afirma que a finitude da existência não impede o florescimento da philia, da sophia, da ataraxia. Os finitos podem ser felizes. Epicuro aponta os rumos.
No livro V do poema, Lucrécio retoma um de seus temas recorrentes em Da Natureza e tece mais uma elegia em louvor a Epicuro. Epicuro, na ode lucreciana, aparece como indivíduo mais valoroso do que Hércules. Lucrécio celebra a excelência de Epicuro nas virtudes (aretê), sua capacidade de consolar os males dos mortais, sua influência benigna sobre todos aqueles que, através da convivência com sua doutrina, curam-se na companhia cálida deste terapeuta da Psiquê, deste médico das mentes. “Assim como é vã a medicina que não cura os males do corpo”, diz o Epicurismo, “também é vã a filosofia que não cura os males do espírito.”
Lucrécio sempre afirma-se discípulo fiel de um mestre que pessoalmente não conheceu, mas que acompanha-o como sombra amiga. A philia que Lucrécio nutre por Epicuro é tão intensamente manifestada que o leitor pode ficar com a impressão de que o poeta cai na idolatria, que faz do sábio um novo ídolo. O mundo greco-romano, afinal de contas, estava todo saturado pelo culto aos heróis. E Lucrécio põe sua verve e seu verbo numa heroicização de Epicuro, aquele que “primeiro descobriu a regra da existência que se chama agora sabedoria, aquele que transportou a nossa vida, por meio de sua arte, de tão grandes ondas e de tão grandes trevas, colocando-a em lugar tão tranquilo e em tão clara luz.” (LUCRÉCIO. Livro V) [2]
De modo similar à uma figura como Buda, Epicuro procura ser iluminante e benfazejo através de seus ensinamentos. Buda e Epicuro, ambos, foram geniais analistas da condição humana infeliz, compreenderam como poucos as causas do Samsara, da perturbação da alma. Epicuro quer ensinar o caminho para a serenidade feliz (a ataraxia) e é enfático em afirmar que não se pode voltar às costas à Phýsis. Organismos físicos somos todos nós, os vivos; negá-lo é contrariar a Natureza e nutrir ilusões perniciosas. Não estamos separados da Phýsis, pelo contrário: dela participamos. E dela temos muito a aprender.

“Se pude enxergar mais longe, foi porque apoiei os pés sobre os ombros dos gigantes”, disse em frase lapidar Isaac Newton, aquele que tanto contribuiu para que decifrássemos o mistério do arco-íris. Quanto mais estudo sobre os filósofos atomistas da Grécia e de Roma – Demócrito, Epicuro e Lucrécio constituindo o triunvirato clássico – mais concluo que foram gigantes da antiguidade e que sobre os ombros deles as Ciências Naturais não cessaram de subir depois, com muito proveito. Pois continuam sendo capazes de fazer-nos, aqui-e-agora, enxergar mais longe do que a estreiteza das explicações comuns nos permite. O arco-íris, o relâmpago e o trovão, os tsunamis e tempestades, tudo isso é passível de explicação física, afirmam em coro Demócrito, Epicuro e Lucrécio; podemos superar as vãs quimeras da imaginação temerosa que julgava encontrar por detrás de cada fenômeno natural uma vontade divina.
Se há todo um esforço de desmistificação rolando, não se trata de sadismo da parte de torturadores do gênero humano que desejam privá-lo de suas adocicadas ilusões; trata-se muito mais de humanos que consideram-se benfeitores ao realizarem a crítica da mitologia como esquema de explicação do mundo. O Epicurismo, sem pegar em armas, combatente mas pacifista, declara guerras contra as opiniões falsas que o vulgo nutre sobre os deuses, crendo em um Zeus ou um Jove como capazes de fúrias e descontroles, responsáveis iracundos por grandes tragédias climáticas diluvianas e apocalípticas. Epicuro procura apaziguar os espíritos afirmando: não há deuses como estes que vós imaginais, ó mortais! Cessai de temê-los, cessai de adorá-los, cessai de incomodá-los com preces e sacrifícios!
O grande inimigo a derrotar, Lucrécio não cessa de repetir, é o medo que a superstição acarreta como seu necessário subproduto. A obra de André Comte-Sponville, um dos mais salutares mestres epicuristas-spinozistas de nossa época, soube bem comunicar em seus livros os vínculos entre o medo e a esperança – gêmeos siameses – e a prisão dolorosa do Samsara que acorrenta a grande maioria dos mortais. O medo ( e a esperança também é deles parteira: sempre tememos que não aconteça aquilo que esperamos), é um afeto triste e que diminui nossa potência de existir, faz murchar a flor do conatus (para flertar com a linguagem da Ética de Spinoza).
É justamente este medo, este pavor, este apavoro, esta ansiedade, que convêm transcender e superar. O poema de Lucrécio segue este caminho animado pelo exemplo de Epicuro: “é marchando nas suas pegadas que eu vou investigando!”, celebra Lucrécio o seu mestre [V, pg. 97]. Ambos afirmam que a compreensão da Física vai servir como um pharmakon. Que a ciência vai dissipar as infelicidades. O poema lucreciano é entusiástico em seu desejo de conduzir-nos ao porto tranquilo da ataraxia, para bem longe das tormentas cruéis do Samsara.

“Uma ciência é requerida para assegurar a paz, a felicidade do desejo em um mundo apaziguado. Esse saber é físico, ele constitui, por suas explicações, e por suas hipóteses, uma natureza. Natureza vista, tocada, sentida, plena de emanações, de fragrâncias e de rumores, de amarguras e de salgas. Corpos conjuntivos trocam sinais conjuntivos com outros corpos conjuntivos. Os compostos de átomos encontram-se mutuamente. (…) Se você morre, é que a conjunção se desfaz. Mas nada é mais refinado do que os sentidos, mais exato, mais preciso, mais fiel. (…) Ninguém pode conceber receptor mais sofisticado, máquina mais elaborada que os órgãos sensoriais.” (SERRES, pg. 164) [3]
Michel Serres torna explícitos os vínculos entre a física e a ética em Lucrécio e no conjunto da doutrina Epicurista. Nas antípodas do platonismo, que considera os cinco sentidos como enganadores e ilusórios, recomendando o “salto” para o reino dos ideais imorredouros, paradigmas incorruptíveis e imortais dos quais as coisas sensíveis e mortais não passam de cópias decaídas, Epicuro e Lucrécio irão afirmar a plenitude da realidade objetiva, irão defender os direitos da Phýsis no seio de quem nascemos e conectada a quem sempre necessariamente existimos.
Platão delirava com o sobrenatural, pirava com suas abstrações descarnadas, lançando anátemas sobre as portas da percepção, esta ponte real que existe no mundo material para intercâmbio entre organismos atômicos. A filosofia materialista é repleta de vias de fluxo, de estradas de comunicação, onde viajam átomos e informações: o espaço está repleto de simulacros voadores que são emanados dos objetos materiais. No cinema do real, as coisas de fato existentes emanam de suas superfícies um simulacro, uma imagem-de-si, que veloz atravessa os ares e penetra aparelhos perceptivos de organismos atômicos conscientes e relativamente abertos às influências de seu meio externo, natural e social. Ouçamos Serres:
“A teoria dos simulacros (…) voando no espaço de objetos em objetos, ou de emissores a receptores, é uma teoria da comunicação… Carapaças finas descolam-se dos objetos para fins de emissão. E sabemos com qual velocidade elas atravessam o espaço de comunicação. No final, na recepção, o aparelho sensorial entra em contato com esse fino envoltório. Então a visão, o olfato, a audição, e assim por diante, não são senão toques. A sensação é um tato generalizado. O mundo não está mais à distância, está na proximidade, tangível. (…)
Como todos os filósofos apaixonados pelo real objetivo, Lucrécio tem o gênio do tato e não da visão… Saber não é ver, é tomar contato, diretamente, com as coisas: de outro lugar elas vêm a nós. A ciência de Afrodite é uma ciência de carícias. Os objetos, à distância, trocam sua pele, mandam-se beijos. (…) Fenomenologia da carícia, saber volúpia.” (SERRES, pg. 166) [4]

Bosch – Jardim das delícias terrenas
Revalorização dos sentidos, pois, contra a calúnia platônica contra a carne, prolongada por dois milênios pelos monoteísmos. Em Epicuro e Lucrécio, não há porque recusar-se a viver plenamente o corpo, já que este é a verdade, aquilo através do qual participamos da Phýsis, do Cosmos, da Natureza como um todo. Toda a tradição atomista-materialista irá afirmar uma indissolúvel conexão e inter-dependência entre corpo e espírito, soma e psique, de modo que Demócrito, Epicuro e Lucrécio são os clássicos na história do pensamento que fundamenta-se nos sólidos alicerces da unidade psico-somática. Mais à frente, na história da filosofia, tanto Spinoza quanto Nietzsche, para ficar em dois exemplos potentes, irão subir sobre os ombros destes gigantes.
“A substância do espírito é composta de um corpo submetido ao nascimento e não pode durar incólume por um tempo sem fim”, escreve Lucrécio (IV, p. 98). C’est fini, Monsieur Platon! O Epicurismo é totalmente incompatível com o Platonismo, já que este instaura um dualismo corpo-alma (que Sócrates herda de Pitágoras e que Platão sacramenta na história da filosofia ocidental), cindindo a unidade, postulando o fantasma imaterial como hipótese metafísica. Epicuro e Lucrécio varrem a metafísica do mapa e dizem que a física é o suficiente. Tudo é físico, até mesmo o espírito e os deuses. Eis a revolução científica em seu nascedouro. Eis o sêmen da Física que jorra sobre Gaia. Eis Vênus querendo reclamar supremacia sobre Marte.
A importância histórica do Epicurismo e sua relevância contemporânea (e talvez sempiterna) está em seu convite para que consolidemos uma aliança com a Natureza. O Epicurismo é uma Philia pela Phýsis, é a sabedoria de estar amigado com o natural. Na civilização grega tão marcada pela violência, pela guerra, pela rivalidade, pelo ágon que se manifesta em Olimpíadas e em Ilíadas, em Concursos Competitivos de toda sorte e em Guerras de Tróia e outras carnificinas, Epicuro luz como força pacifista e pacificadora. Sobre isso, Michel Serres, formulador do conceito de Contrato Natural em seu livro neo-clássico, também encontrou bela expressão:
“Epicuro abandonou as armas. A nova aliança com a natureza de Epicuro fecha com o período heraclitiano, no qual a guerra é a mãe de todas as coisas, no qual a física permanecia sob o império de Ares. Logo, Lucrécio critica Heráclito com severidade, mas Empédocles com deferência (este último adivinhara o surgimento do contrato, por sua introdução da Amizade ou do Amor, face ao Ódio ou a Discórdia; a alegre Afrodite já se levantara. Epicuro e Lucrécio depuseram as armas, colocaram Marte fora da física.” (SERRES, pg. 177) [5]
O Cosmos não é mais Marte, mas sim Shiva – com o perdão deste bizarro sincretismo. Se é benfazejo, benéfico e prazenteiro frequentar o Jardim do Epicurismo, é também pois ali está o nascedouro de uma outra ciência, de uma física amorosa, sob o signo de Vênus e não de Marte. Pois hoje já podemos perceber à que ruína catastrófica trouxe-nos o projeto da ciência control-freak, antropocêntrica, platônico-cartesiana: “Na aurora da ciência moderna”, lembra Serres, fomos desencaminhados por pensadores como Bacon e Descartes:
“Descartes decreta que é preciso tornarmo-nos senhores e possuidores da natureza. A batalha recomeça e a natureza é o adversário. (…) É a lei da caça, para a colocar em xeque-mate. Epicuro acaba de fracassar, assim como a Afrodite de Lucrécio. O método [cartesiano] é um jogo mortal e não um coito. Retorno de Hércules em Bacon… Se o saber funciona para a morte e para a destruição, é que Marte ou o militar, o comandante de Bacon, o senhor e possuidor cartesianos, disso cuidam desde o começo. (…)
Com Epicuro e Lucrécio, a sabedoria helênica atinge um de seus pontos maiores. Onde o homem é no mundo, do mundo, na matéria e da matéria. Aí ele não é um estranho, mas um amigo, um familiar, um comensal e um igual. Ele mantém com as coisas um contrato vênero. Muitas outras sabedorias e muitas outras ciências são fundadas, ao contrário, sobre a ruptura do contrato. O homem é um estranho ao mundo, à aurora, ao céu, às coisas. Ele as odeia, ele luta contra elas. Seu meio é um inimigo perigoso a combater, a manter na sujeição. Nevroses marciais, de Platão a Descartes, de Bacon a nossos dias. (…) Já Epicuro e Lucrécio vivem um universo reconciliado.” (SERRES, pgs. 177, 181 e 203) [6]
A SER CONTINUADO…
Eduardo Carli de Moraes / Goiânia Goyaz / Junho de 2015
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] EPICURO. Carta a Meneceu (Sobre a Felicidade).
[2] LUCRÉCIO. Da Natureza Das Coisas (De Rerum Natura). Livro V. Pg. 97. In: Os Pensadores, Abril Cultural.
[3] [4] [5] [6] SERRES, Michel. O Nascimento da Física No Texto de Lucrécio. Trad. Péricles Trevisan. São Paulo: Editora UNESP; São Carlos: EdUFSCAR, 2003.
VÍDEOS RECOMENDADOS
Michel Serres entrevistado no Roda Viva da TV Cultura
Filme completo: Ponto de Mutação (Mindwalk), da obra de Fritjof Capra