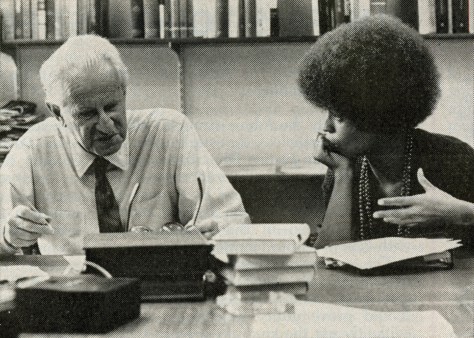de Sergei Eisenstein (URSS, 1925)
por Paulo Emílio Sales Gomes (*)
 O público do Festival de Cinema Russo e Soviético preferiu francamente o Encouraçado Potemkin a Outubro. Não é fenômeno local e novo. Há mais de 30 anos que isso acontece em toda parte. Não pretendo insinuar que durante todo esse tempo a valorização de Potemkin tenha ido além de seus méritos. Sua glória é merecida, ninguém se eleva contra o enorme destaque dado ao filme nos inquéritos e referenduns para a escolha das maiores obras cinematográficas de todos os tempos.
O público do Festival de Cinema Russo e Soviético preferiu francamente o Encouraçado Potemkin a Outubro. Não é fenômeno local e novo. Há mais de 30 anos que isso acontece em toda parte. Não pretendo insinuar que durante todo esse tempo a valorização de Potemkin tenha ido além de seus méritos. Sua glória é merecida, ninguém se eleva contra o enorme destaque dado ao filme nos inquéritos e referenduns para a escolha das maiores obras cinematográficas de todos os tempos.
O que torna Potemkin invencível é a facilidade de sua comunicação com qualquer público, de 1926 a nossos dias. Eisenstein o definiu certa vez como cartaz e Potemkin possui realmente a virtude de contato imediato e brilhante alcançado pela linguagem gráfica da propaganda em seus momentos mais altos. É concentrado, uno, cuida de uma coisa só, as idéias são poucas, simples, nítidas e apresentadas linearmente.
Não é preciso iniciação para o espectador se sentir envolvido ou estimulado pelo ritmo da homenagem ao marinheiro morto ou do massacre na escadaria de Odessa. Moussinac tinha razão: ainda hoje Potemkin nos atinge como um grito. Não faz meditar ou imaginar: mobiliza nosso espírito através da emoção elementar da solidariedade. É um jato que possui a limpidez e ordem de um clássico. Obra revolucionária calcada num momento histórico definido, a natureza de sua Revolução é tão genérica que se torna válida universalmente.

Não é preciso ser comunista, socialista ou anarquista para se apreciar Potemkin. Também é desnecessário conhecer o episódio da rebelião na Marinha russa durante os acontecimentos revolucionários de 1905. Basta ao espectador a mediana e generalizada capacidade de se insurgir contra a injustiça. Em suma, a cultura não é condição indispensável para se gostar do filme. A não ser as de Chaplin, não conheço outra grande obra de arte cinematográfica que, como Potemkin, exija tão pouco do espectador e ao mesmo tempo lhe dê tanto.
O Potemkin e Outubro sugerem uma reflexão que talvez possa ser generalizada com proveito. A natureza das relações que se estabelecem entre o espectador e o filme pertence ao domínio da exigência e varia o sentido da operação entre os termos em presença. No intercâmbio entre espectador e filme, nas comunicações que se tecem para permitir a eclosão do prazer da emoção da alegria, o foco da exigência está ora num ora noutro. É provável que se possam dividir os filmes em duas categorias: os que nos fazem solicitações e os que se prestam às nossas exigências.
 De qualquer forma, as duas fitas de Eisenstein que nos ocupam se enquadram rigorosamente nesse esquema. Em Potemkin o foco de exigência é o espectador; em Outubro é a fita. Potemkin responde facilmente, Outubro faz perguntas difíceis. Os espectadores escolhem Potemkin; Outubro seleciona os seus. O chamado espectador exigente está perdido com Outubro; a fita precisa dos exigidos. Potemkin é o amor à primeira vista, fácil, que se prolonga numa felicidade calorosa que independe do progresso; mas o amor difícil de Outubro é certamente mais recompensador para o espírito moderno. Potemkin é Baudelaire; Outubro, Mallarmé.
De qualquer forma, as duas fitas de Eisenstein que nos ocupam se enquadram rigorosamente nesse esquema. Em Potemkin o foco de exigência é o espectador; em Outubro é a fita. Potemkin responde facilmente, Outubro faz perguntas difíceis. Os espectadores escolhem Potemkin; Outubro seleciona os seus. O chamado espectador exigente está perdido com Outubro; a fita precisa dos exigidos. Potemkin é o amor à primeira vista, fácil, que se prolonga numa felicidade calorosa que independe do progresso; mas o amor difícil de Outubro é certamente mais recompensador para o espírito moderno. Potemkin é Baudelaire; Outubro, Mallarmé.
Rever Potemkin é retornar a exaltações e prazeres conhecidos, é reler The Hollow Men ou a autobiografia de Trotsky, é ouvir de novo a Sagração da Primavera ou revisitar Fra Angélico — em suma, é a volta a pontos que se tornaram pacíficos. A Outubro não se volta propriamente; enfrenta-se de novo com lealdade, temor, humildade, esperança, como fazemos com Pound ou Andréa del Castagno, como lemos a meditação de Trostsky envelhecido a respeito do massacre do tzarevitch ou procuramos ouvir de novo a música que nos recusa segurança. A tensão de Potemkin está pronta, acabada, tornou-se, com o tempo, pré-fabricada. A de Outubro está permanentemente em construção. O primeiro é um passado objetivado, o outro um futuro subjetivante.
(*) Este artigo de Paulo Emílio, “Potemkin e Outubro”, foi originalmente publicado no “Suplemento Literário” do Estadão, em 20 de Janeiro de 1962. Descolei na biblioteca da FFLCH-USP e digitei-o pra vocês pra compartilhar um clássico da crítica de cinema nacional…
(URSS, 1928)
Como abordar Outubro? Através das 3 coisas de que trata: a Revolução Russa, Eisenstein e o espectador. Desta feita, porém, o último ficará afastado, pelo menos provisoriamente.
Outubro não é a crônica cinematográfica da Revolução Russa. Essa tarefa foi executada admiravelmente por Esther Shub com A Queda da Dinastia dos Romanov e O Grande Caminho, filmes de longa-metragem compostos de fragmentos de atualidades e documentários, o primeiro ilustrando a vida russa de 1912 a 1917 e o segundo cobrindo os dez primeiros anos de vida soviética. Também não se trata, na fita de Eisenstein, da reconstituição acurada dos acontecimentos naqueles meses decisivos que vão de fevereiro a outubro de 1917. Essa foi a missão de Barnet com Moscou em Outubro, filme, aliás, medíocre. Seria então um filme de ficção da natureza mais corrente, cuja ação estaria estruturalmente ligada aos grandes acontecimentos revolucionários descritos de forma bastante ampla e pormenorizada? Esse filme existe mas não é o de Eisenstein; trata-se de O Fim de São Peterburgo, um dos três melhores filmes de Pudovkin, juntamente com A Mãe e Tempestade Sobre a Ásia (O Heredeiro de Gengis-Khan).
Outubro tem algo de crônica e de reconstituição histórica, estando porém isento de ficção. Aquilo que às vezes se aparenta a esta última é ensaio de interpretação histórica ou meditação pessoal do autor. O jovem Eisenstein vivera em Petrogrado os acontecimentos revolucionários de 1917 iniciados com o movimento popular que derrubou NIcolau II e que culminaram nove meses mais tarde com a tomada do poder pelos bolchevistas. Naquele período, porém, não se interessava ele pelos problemas políticos e sociais. Se procurava observar o que se passava era sobretudo para imitar o comportamento de Da Vinci na Florença dos Medici por ocasião de alguns conflitos de rua.
 Quando mais tarde Eisenstein recebeu a incumbência de realizar um dos filmes comemorativos do décimo aniversário da Revolução, há muito se tornara um comunista convicto, embora extrapartidário. O cineasta certamente utilizou as impressões, e eventualmente algumas notas ou croquis, recolhidos durante os acontecimentos pelo estudante da Universidade de Petrogrado e admirador de Leonardo. De uma maneira geral, porém, os diversos episódios da Revolução haviam se tornado extremamente familiares à imaginação coletiva, sobretudo nos grandes centros urbanos. As reportagens de John Reed haviam adquirido imensa celebridade e muito participante direto da Revolução insensivelmente recordava a experiência vivida através de Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo.
Quando mais tarde Eisenstein recebeu a incumbência de realizar um dos filmes comemorativos do décimo aniversário da Revolução, há muito se tornara um comunista convicto, embora extrapartidário. O cineasta certamente utilizou as impressões, e eventualmente algumas notas ou croquis, recolhidos durante os acontecimentos pelo estudante da Universidade de Petrogrado e admirador de Leonardo. De uma maneira geral, porém, os diversos episódios da Revolução haviam se tornado extremamente familiares à imaginação coletiva, sobretudo nos grandes centros urbanos. As reportagens de John Reed haviam adquirido imensa celebridade e muito participante direto da Revolução insensivelmente recordava a experiência vivida através de Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo.
Outubro é crônica sobretudo quando se inspira diretamente no texto do jornalista americano, não só quando descreve o comportamento atemorizado e desconfiado dos menchevistas conciliadores diante do movimento de armas na sede do Soviete, mas quando focaliza o pormenor de um delegado ao conselho dos operários e soldados que diante da reprovação unânime não ousa votar contra uma resolução.
A reconstituição de alguns episódios é às vezes praticamente documental. Uma tomada da repressão de julho foi inspirada tão de perto por uma fotografia da época, que em livros de história a imagem do filme é usada como se fosse o documento original — e não é o único caso. Todos os textos relativos à Revolução de Outubro descrevem a cena em que Lênin, disfarçado, é reconhecido no Instituto Smolny por dois líderes conciliadores, Dan e Skobelev. A filmagem eisensteiniana acompanhou tão meticulosamente os depoimentos históricos que não choca a presença de um fotograma ao lado de fotos documentais num volume de divulgação histórica. Tem-se a convicção íntima de que se o fato real tivesse sido filmado, o resultado seria muito próximo do que vemos em Outubro. O que contribuiu decididamente para a impressão de verdade que nos dá o lado de crônica e documento de Outubro é o cuidado e a inteligência com que Eisenstein e seus colaboradores estudaram os filmes de montagem de Esther Shub.
Outubro, entretanto, não é um curso de história. O filme a exprime e interpreta muito mais do que relata. Na maior parte do tempo estamos mergulhados na história e em sua principal personagem: a massa. Mas frequentemente de uma maneira condensada, ou por símbolos e alusões. Os fatos, os episódios fílmicos que tomaram como ponto de apoio inicial as ocorrências da realidade, podem exigir um agenciamento fora da cronologia, a fim de que saibamos vislumbrar, pelo jogo das associações, seus mais profundos significados. É provável que que as pontes sobre o Neva não hajam sido levantadas em julho quando o governo provisório de Kerenski abriu fogo contra as massas conduzidas pelos bolchevistas, mas elas o haviam sido em fevereiro, quando o tzarismo em estertor atirou contra o povo.
Em Outubro a ponte única que é levantada, em julho, para separar o centro da cidade do bairro de Viborg, o mais revolucionário de todos, engloba não só as outras pontes que ligam o coração político de Petrogrado às periferias proletárias, mas sobretudo significa que os combates contra o feudalismo dos Romanov e o capitalismo do Governo Provisório de Kerenskisão momentos de uma luta que permanece a mesma. Mas isso seria apenas um prelúdio à análise da sequência da ponte. As transmutações não se limitam a servir o mecanismo de transformação de ocorrência em significado. O tempo fílmico do levantar da ponte independe não só da dimensão temporal da realidade mas igualmente da temporalidade habitual de Outubro em seu conjunto.
É literalmente um momento de suspensão de meditação dramática que palpita nos cabelos soltos de uma mulher assassinada, num cavalo morto que tarda cruelmente em tombar no rio, momento também de grave e insondável contemplação arquitetônica, perpassada por insinuações egípcias, pois os cavalarianos da reação tzarista eram chamados faraós. Estamos, porém, em julho de 1917 e a imagem culminante é a de um jovem operário assassinado pela burguesia triunfante e enfurecida de Kerenski. Se acrescentarmos que essas reflexões estão longe de satisfazer as inúmeras e sempre renascentes solicitações que faz ao espectador o episódio da ponte e completarmos o parágrafo com uma alusão pasma à prodigiosa beleza intrínseca da sequência tomada globalmente, teremos dado uma idéia dos altíssimos e complexos momentos de vida interior que Outubro é capaz de suscitar em seus espectadores.

Outro momento em que Eisenstein modela o tempo com a maior desenvoltura é o da aparição de Kerenski. Ele não acaba nunca de subir as escadarias internas do Palácio de Inverno em Petrogrado. Ele galga continuamente os degraus mas há momentos em que temos a sensação de que continua no mesmo lugar. Essa distensão do tempo fílmico significa na realidade uma condensação extrema do tempo histórico. Kerenski na escada resume de fato meses túmidos de história, desde a sua aparição na vida política como ministro até a sua tentativa de afirmação como ditador, passando pelos momentos em que reunia em suas mãos as pastas militares ou assumia a presidência do Governo Provisório a carreira ao mesmo tempo fulgurante e lamentável da principal expressão política do intervalo entre a queda do tzarismo e a insurreição proletária.
(…) Desse fundo de revolução e história que constitui a estrutura de Outubro emanam as reflexões mais íntimas e pessoais de Eisenstein, que eventualmente se prolongam e desenvolvem até alcançarem um nível onde as motivações objetivas iniciais se perder de vista, sendo substituídas pela mais franca subjetividade. Não há depoimento ou ensaio histórico a respeito das jornadas de julho de 1917 em Petrogrado que não faça referência ao linchamento de operários revolucionários indefesos por burgueses e oficiais enfurecidos. As senhoras de Petrogrado não tiveram, que eu saiba, participação de primeiro plano nessas agressões selvagens, mas em Outubro é isso que ocorre. É sabido que entre as últimas forças que se conservaram fiéis ao regime de Kerenski contava-se um batalhão feminino. É nele que Eisenstein concentra seu interesse, nas figuras desgraciosas que o compõem, no lancinante sentimento de frustração amorosa e materna que exprimem as mulheres impiedosamente expostas. As damas, assassinas de julho ou as mulheres-soldados de outubro, ou não existiram ou tiveram uma significação apenas episódica nos acontecimentos revolucionários russos. Se em Outubro adquirem tal preeminência é porque exprimem a visão conflitiva e persecutória que Eisenstein tinha da mulher.
 Eisenstein poderia repetir o verso de Maiakóvski em seu poema Deus Expurgado: “Toda gente sabe que entre eu e Deus há muito motivo de briga”. O problema da divindade em suas implicações íntimas ou nas manifestações rituais exteriores da religião organizada não cessou nunca de preocupar Eisenstein. Outubro alude ao fato histórico de que o golpe militar fracassado de Kornilov foi bafejado pelo incenso da religião como fora o Governo Provisório de Kerenski ou o tzarismo de Nicolau. O general contra-revolucionário fala e age em nome de muitas coisas, inclusive de Deus. Eisenstein parte daí para a sua fantástica montagem de divindades que se inicia no esplendor de um Cristo barroco para culminar na barbárie fetichista. O humanismo plebeu revolucionário enfrenta o primitivsmo cossaco a serviço da reação. É sabido que os operários russos conseguiram dissuadir os soldados de Kornilov de sua missão fatídica e no filme a conclusão feliz é expressa pela dança. Os espectadores do Festival Russo e Soviético já se acostumaram a encontrar em momentos de dança vários dos momentos culminates da arte cinematográfica soviética.
Eisenstein poderia repetir o verso de Maiakóvski em seu poema Deus Expurgado: “Toda gente sabe que entre eu e Deus há muito motivo de briga”. O problema da divindade em suas implicações íntimas ou nas manifestações rituais exteriores da religião organizada não cessou nunca de preocupar Eisenstein. Outubro alude ao fato histórico de que o golpe militar fracassado de Kornilov foi bafejado pelo incenso da religião como fora o Governo Provisório de Kerenski ou o tzarismo de Nicolau. O general contra-revolucionário fala e age em nome de muitas coisas, inclusive de Deus. Eisenstein parte daí para a sua fantástica montagem de divindades que se inicia no esplendor de um Cristo barroco para culminar na barbárie fetichista. O humanismo plebeu revolucionário enfrenta o primitivsmo cossaco a serviço da reação. É sabido que os operários russos conseguiram dissuadir os soldados de Kornilov de sua missão fatídica e no filme a conclusão feliz é expressa pela dança. Os espectadores do Festival Russo e Soviético já se acostumaram a encontrar em momentos de dança vários dos momentos culminates da arte cinematográfica soviética.
Outubro é, certamente, o filme mais rico e complexo que já se fez. Seria também o mais belo filme russo se não existisse A Terra, de Dovjenko.









 Escola de Frankfurt é a denominação tardia do Instituto Para A Pesquisa Social, fundado em 1923 pelo economista austríaco Carl Grunberg, editor do Arquivo para a História do Pensamento Operário, que visavam preencher uma lacuna nas ciências sociais: a história do movimento operário e do socialismo. O Instituto, a que originariamente se cogitou chamar Instituto de Marxismo, revela a vocação para integrar a questão socialista no âmbito das reflexões acadêmicas e universitárias, pois esteve ligado à Universidade de Frankfurt.
Escola de Frankfurt é a denominação tardia do Instituto Para A Pesquisa Social, fundado em 1923 pelo economista austríaco Carl Grunberg, editor do Arquivo para a História do Pensamento Operário, que visavam preencher uma lacuna nas ciências sociais: a história do movimento operário e do socialismo. O Instituto, a que originariamente se cogitou chamar Instituto de Marxismo, revela a vocação para integrar a questão socialista no âmbito das reflexões acadêmicas e universitárias, pois esteve ligado à Universidade de Frankfurt.
 Com isso quero dizer que, como diz brilhantemente o título de um dos livros de Hannah Arendt, trata-se de Homens Em Tempos Sombrios (Cia Das Letras): e não é à toa que Walter Benjamin é um dos biografados nesta coletânea de “retratos” que Arendt pinta (Rosa Luxemburgo, Karl Jaspers e Bertolt Brecht são outras das figuras que a pena de Hannah descreve em seus confrontos com um tempo histórico ensombrecido e aterrador…). É como se fosse no auge da escuridão, no apogeu da barbárie, que Walter Benjamin responde, com o suicídio, ao dilema de Hamlet: “ser ou não ser, eis a questão”.
Com isso quero dizer que, como diz brilhantemente o título de um dos livros de Hannah Arendt, trata-se de Homens Em Tempos Sombrios (Cia Das Letras): e não é à toa que Walter Benjamin é um dos biografados nesta coletânea de “retratos” que Arendt pinta (Rosa Luxemburgo, Karl Jaspers e Bertolt Brecht são outras das figuras que a pena de Hannah descreve em seus confrontos com um tempo histórico ensombrecido e aterrador…). É como se fosse no auge da escuridão, no apogeu da barbárie, que Walter Benjamin responde, com o suicídio, ao dilema de Hamlet: “ser ou não ser, eis a questão”.
 Não seria justo cometer contra a Escola de Frankfurt a mutilação de impor a eles a lógica do rotulamento, do encaixotamento, enfiando-lhes na mesma caixa, domados e rotulados. É impossível encaixá-los na categoria de “intelectuais judeus” ou de “filósofos marxistas”, a começar pelo fato de que eles não primavam pelas ortodoxias. Tanto que o modo de expressão que tem primazia nos textos “frankfurtianos” é muito mais o ensaio do que o sistema. Eles pendem mais para escrever como Nietzsche do que a erigir castelos conceituais sistemáticos como um Liebniz ou Hegel. Um cabra como Walter Benjamin, como diz também Arendt, “foi provavelmente o marxista mais singular já produzido por esse movimento que teve seu quinhão completo de excentricidades” (p 176).
Não seria justo cometer contra a Escola de Frankfurt a mutilação de impor a eles a lógica do rotulamento, do encaixotamento, enfiando-lhes na mesma caixa, domados e rotulados. É impossível encaixá-los na categoria de “intelectuais judeus” ou de “filósofos marxistas”, a começar pelo fato de que eles não primavam pelas ortodoxias. Tanto que o modo de expressão que tem primazia nos textos “frankfurtianos” é muito mais o ensaio do que o sistema. Eles pendem mais para escrever como Nietzsche do que a erigir castelos conceituais sistemáticos como um Liebniz ou Hegel. Um cabra como Walter Benjamin, como diz também Arendt, “foi provavelmente o marxista mais singular já produzido por esse movimento que teve seu quinhão completo de excentricidades” (p 176).