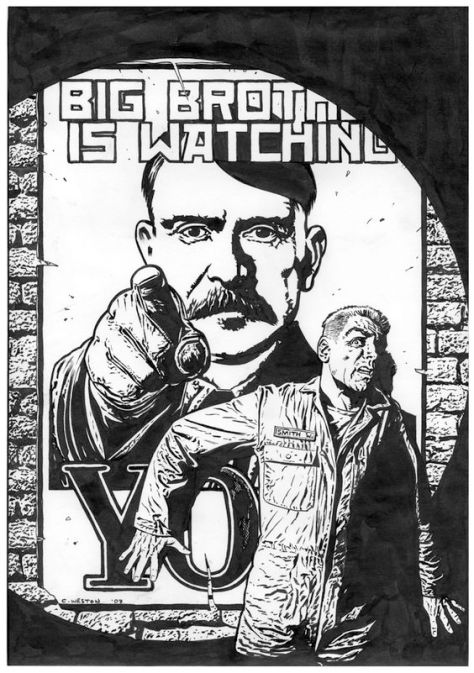SILÊNCIOS QUE BERRAM
Brasil: eis um pesadelo de que não conseguimos despertar, similar à definição de História de Stephen Dedalus, o alterego literário de Joyce. Aqui, o real é um pesadelo num “país com um imenso passado pela frente”, como profetizava Millôr, nosso brilhante poeta-dramaturgo-comediante. São tempos em que a Elite do Atraso parece determinada em transformar todo o território numa Sucursal do Inferno – pra relembrar o título de um livro do Izaias Almada. Uma trogloditocracia nos desgoverna – e ao invés de estarmos nas barricadas, nas insurreições pra parir uma realidade menos sórdida, estamos debatendo o terraplanismo, zoando as “opiniões” evanjegues de Damares ou quebrando o pau em controvérsias se Olavo é filósofo, ou apenas astrólogo charlatão…
Diante de fatos recentes como a morte de dois músicos negros, um em Salvador e outro no Rio de Janeiro, não se pode calar as questões: quando o Exército criva um carro de família com 80 balas e mata um cidadão carioca, o músico Evaldo Rosa, e depois o chefe-de-Estado usa a frase “o Exército não matou ninguém” e qualifica o equivocado derramamento de sangue pelas forças armadas a serviço do Estado como apenas um “incidente”, não se torna explícito que estamos diante de alguém que considera, em massa, certa categoria de cidadãos como “ninguéns”, ou seja, como extermináveis?

O SILÊNCIO QUE BERRA – por Carlito Azevedo: “3 planos na foto. No primeiro plano, quase invisível, representando o nadinha de nada que nos isola do absurdo, fica o cordão de isolamento. No meio, a dor indescritível, o silêncio que berra (já aqui a cabeça entra em parafuso). Ao fundo, um pelotão de fuzilamento, nem próximo, nem distante, e 80 balas mais leve.” Foto de Fábio Teixeira.
Quando, em dia de eleição nacional, um eleitor do candidato de extrema-direita apunhalou pelas costas, com 12 facadas, o mestre de capoeira Moa do Katendê, e a resposta do então presidenciável do PSL foi, ao invés de solidarização com a vítima e atitudes de luto, tentar chupar os holofotes para si e para “sua” facada (o que ele queria saber, vocês se lembram, é quem tentou matá-lo em Juiz de Fora…), já não estamos diante da barbárie do empoderamento de um irresponsável?
São episódios em que o sangue escarlate derramado na bandeira já evidencia o erro na postura intolerante e intolerável dos que relinchavam “nossa bandeira jamais será vermelha!” Deixam claro que estamos entregando poder em demasia a um Sinhô incapaz de qualquer empatia com as vítimas das violências odiosas e sectárias que ele próprio disseminou, e que hoje comanda.
Não seria novidade histórica caso, diante das atrocidades que virão, o responsável-mor buscasse se esconder no argumento fácil e clichê da irresponsabilidade, do “não tenho nada a ver com isso”. “Pô, se um eleitor meu dá 12 facadas em alguém, depois de euzinho ter subido no palanque pra falar que tinha que ‘metralhar a petralhada’ e que ‘a ditadura matou pouco’, o que eu tenho a ver com isso?!?” É diante deste tipo de patologia da desresponsabilização que teremos que lidar. O próprio fato de Bolsonaro querer pular fora da responsa já é um sinal inequívoco que estamos diante de um temperamento ou caráter típico de um líder fascista. Pois Eichmann também era assim…
Diante da irresponsabilidade satisfeita-de-si que ostenta Bolsonaro, parecido com um pré-adolescente de 11 anos que ainda não tivesse aprendido qualquer noção de responsabilidade e solidariedade, é preciso lembrar das catástrofes conexas à esta incapacidade do sujeito de assumir a responsa pelo que diz e pelo que faz. O sujeito quecerca de 57 milhões de eleitores escolheram para ser o Chefão do Executivo Federal está conduzindo o país a uma tragédia anunciada, e que já se processa em velocidade acelerada. E temos refletido muito pouco, coletivamente, sobre o quanto tudo isso tem a ver com aquele colapso da responsabilização que Erich Fromm e Wilhelm Reich, que Hannah Arendt e Theodor Adorno, nos ensinaram estar vinculada umbilicalmente aos genocídios e atrocidades cometidas por sociedades sob o feitiço maligno de uma liderança fascista.
O Brasil parece estar se afundando cada vez mais no lodaçal desta política irresponsável e sádica que presidiu também à “Solução Final” perpetrada pelo III Reich em seu trato com o “problema judeu”. Em sua “Cruzada por um Brasil Medieval”, como escreveu Sakamoto, o Bolsonarismo depende de suas redes de fake news e disinformação, com suas táticas à la Goebbels de produção da histeria anti-comunista, da mobilização dos ódios antipetista, antipsolista, antifeminista, antiLGBTQ etc.
E assim vamos embarcando no trem de horrores que a extrema-direita neo-fascista, mundo afora, costuma encabeçar e liderar: aquilo que Hannah Arendt chamou de “massacres administrativos”. A desgovernança do Bolsonarismo, este delírio fundamentado na filosofia Olavista, somado à idolatria pela ditadura e suas práticas-de-porão, conduz diretamente a uma política de extermínio, a chamada necropolítica, tão bem analisada pelo pensador camaronês Achille Mbembe.
Assumindo o poder após o golpe parlamentar que destituiu Dilma Rousseff, o traíra Temer (MDB) se referiu à “intervenção militar” que ordenou na cidade do Rio de Janeiro como um “laboratório” do que depois seria expandido para o resto do Brasil. Quando Marielle Franco e seu motorista Anderson foram metralhados em Março de 2018, a expressão de Temer ganhou contornos mais sombrios, uma ironia mais macabra.
Ao calarem com brutalidade a voz de uma representante do povo, eleita a despeito de suas origens pouco convidativas à ascensão aos palacianos espaços de poder, os poderosos mandaram a mensagem de que a execução ali era “laboratorial”. Parte de um experimento mais amplo. Parte de um plano de extermínio. Pois as velhas elites escravocratas, viciadas na mentalidade colonial, viciadas em subserviência em relação a metrópoles, sempre quiseram ver certos estratos da população como os ninguéns e os extermináveis. Na visão de mundo deles, uma mulher negra, nascida na favela da Maré, que ainda por cima comete o pecado de ser socialista e lésbica, é o suprasumo do sujeito aniquilável.
Com a eleição de Bolsonaro, aquele laboratório de aniquilação que foi o assassinato de Marielle Franco tornou-se uma das piores pedras no sapato do governo que, em 4 meses de caos e patifarias, deu a muitos a impressão de ser um governo natimorto, agonizante. Só não devemos subestimar a resiliência do capitalismo agonizante de arrastar-se nas vísceras, no suor e do sangue das pessoas que explora e oprime: é este o pântano predileto para que este monstro nos dê o espetáculo repugnante de seu rastejamento de agonia. O fascismo é como um capitalismo rastejante, já sem forças para pôr uma máscara de civilidade sobre o seu rosto transtornado pelo sadismo e pela perversidade.
Eliane Brum soube compreendê-lo a fundo e tem analisado em minúcias o que significa estarmos hoje sob o domínio dos perversos:
“Estamos sob o jugo de perversos, que corrompem o poder que receberam pelo voto para impedir o exercício da democracia.
Os exemplos são constantes e numerosos. Mas o uso mais impressionante foi a recente ofensiva contra a memória da ditadura militar. Bolsonaro mandou seu porta-voz, justamente um general, dizer que ele havia ordenado que o golpe de 1964, que completou 55 anos em 31 de março, recebesse as “comemorações devidas” pelas Forças Armadas. Era ordem de Bolsonaro, mas quem estava dizendo era um general da ativa, o que potencializa a imagem que interessa a Bolsonaro infiltrar na cabeça dos brasileiros.
Aparentemente, Bolsonaro estava, mais uma vez, enaltecendo os militares e dando seguimento ao seu compromisso de fraudar a história, apagando os crimes do regime de exceção. Na prática, porém, Bolsonaro deu também um golpe na ala militar do seu próprio Governo. Como é notório e escrevi aqui já em janeiro, os militares estão assumindo – e se esforçando para assumir – a posição de adultos da sala ou controladores do caos criado por Bolsonaro e sua corte barulhenta. Estão assumindo a imagem de equilíbrio num Governo de desequilibrados.
Esse papel é bem calculado. A desenvoltura do vice general Hamilton Mourão, porém, tem incomodado a bolsomonarquia. O que pode então ser mais efetivo do que, num momento em que mesmo pessoas da esquerda têm se deixado seduzir pelo “equilíbrio” e “carisma” de Mourão, lembrar ao país que a ditadura dos generais sequestrou, torturou e assassinou civis?
Bolsonaro promoveu a memória dos crimes da ditadura pelo avesso, negando-os e elogiando-os. Poucas vezes a violência do regime autoritário foi tão lembrada e descrita quanto neste 31 de março. Foi Bolsonaro quem menos deixou esquecer os mais de 400 opositores mortos e 8 mil indígenas assassinados, assim como as dezenas de milhares de civis torturados. Para manter os generais no cabresto, Bolsonaro os jogou na fogueira da opinião pública fingindo que os defendia.
Ao mesmo tempo, Bolsonaro lembrou aos generais que são ele e sua corte aparentemente tresloucada quem faz o serviço sujo de enaltecer torturadores e impedir que pleitos como o da revisão da lei de anistia, que até hoje impediu os agentes do Estado de serem julgados pelos crimes cometidos durante a ditadura, vão adiante. Como berrou o guru do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho, em um de seus ataques recentes contra o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo da presidência: “Sem mim, Santos Cruz, você estaria levando cusparadas na porta do Clube Militar e baixando a cabeça como tantos de seus colegas de farda”.
A ditadura deixou marcas tão fundas na sociedade brasileira que mesmo perseguidos pelo regime se referem a generais com um respeito temeroso. Nenhum “esquerdista” ousou dizer publicamente o que Olavo de Carvalho disse, ao chamar os generais de “bando de cagões”. Mais uma vez, o ataque, a réplica e a tréplica se passaram dentro do próprio Governo, enquanto a sociedade se mobilizava para impedir “as comemorações devidas”.
A exaltação do golpe militar de 1964 serviu também como balão de ensaio para testar a capacidade das instituições de fazer a lei valer. Mais uma vez, Bolsonaro pôde constatar o quanto as instituições brasileiras são fracas. E alguns de seus personagens, particularmente no judiciário, tremendamente covardes. Não fosse a Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação na justiça para impedir as comemorações de crimes contra a humanidade, nada além de “recomendações” para que o Governo não celebrasse o sequestro, a tortura e o assassinato de brasileiros. Patético.
(…) Diante do populismo de extrema direita de Bolsonaro e seus companheiros de outros países, o neoliberalismo é apresentado como a melhor saída para a crise que ele mesmo criou. Mas Bolsonaro e seus semelhantes são os produtos mais recentes do neoliberalismo – e não algo fora dele.
(…) Recente pesquisa do Datafolha mostrou que ele é o presidente pior avaliado num início de governo desde a redemocratização do país. Mas Bolsonaro aposta que é suficiente manter a popularidade entre suas milícias e age para elas. Bolsonaro está dentro, mas ao mesmo tempo está fora, governando com sua corte e seus súditos. Governando contra o Governo. Essa é a única estratégia disponível para Bolsonaro continuar sendo Bolsonaro.
A oposição, assim como a maioria da população, foi condenada à reação, o que bloqueia qualquer possibilidade de ação. Se alguém sempre jogar a bola na sua direção, você sempre terá que rebater a bola. E quando pegar esta e liberar as mãos, outra bola é jogada. Assim, você vai estar sempre de mãos ocupadas, tentando não ser atingido. Todo o seu tempo e energia são gastos em rebater as bolas que jogam em você. Deste modo, você não consegue tomar nenhuma decisão ou fazer qualquer outro movimento. Também não consegue planejar sua vida ou construir um projeto. É uma comparação tosca, mas fácil de entender. É assim que o governo Bolsonaro tem usado o poder para controlar o conteúdo dos dias e impedir a disputa política legítima das ideias e projetos.” – Eliane Brum em EL PAÍS Brasil.
2. Eichmann deve morrer na forca? – A resposta de Hannah Arendt
Neste tristes tempos sombrios em que nos foi dado viver, torna-se crucial questionar o que devemos fazer contra aqueles que, hoje, mostram-se, tal como Eichmann, como agentes da banalidade do mal. Bolsonaro, ao ser eleito, cessou de ser o paspalhão meio cômico, uma espécie de versão fascista do Tiririca, e passou à condição de potencial genocida, já que lhe entregaram poder em demasia de controle do Estado.
De um ridículo velho racista e misógino, celebrado por alguns psicopatas idólatras como “Mito”, ele se alçou a fenômeno de massas, subindo nas asas das fake news, do antipetismo e da venda de soluções fáceis pra problemas complexos. Fazendo arminha à torto e a direita, ensinando crianças os gestos bélicos, denunciando adversários pelas lendárias mamadeiras de pirocas e kits gay, o campo Bolsonarista surfou na onda de ridículo e grotesco que ele criou.
Partícipe e cúmplice do golpe de Estado de 2016, Bolsonaro chegou pra explicitar a face sórdida do golpismo nacional: uma “gente careta e covarde”, como cantava Cazuza, que mobiliza solidariedades somente usando o cimento do ódio. Uma gentalha que dissemina mentiras para assassinar reputações – Manu veste camiseta “Jesus é travesti!”; Jean Wyllys é um pedófilo! Marielle Franco defendia traficantes de entorpecentes! Lula e Dilma são os cabeças do maior esquema de corrupção da História do Mundo!…
Não é nova a noção de que o governo deve construir seu poder sobre a mentira – a pia fraus que, na obra de Platão, já é mobilizada como instrumento do filósofo-rei em seu controle da pólis: na Politéia, Sócrates faz-se o porta-voz de uma espécie de “despotismo esclarecido” que se permite a utilização de uma “fraude pia” para o consumo das massas.
Mas o Bolsonarismo leva a noção de “governo da mentira” a outro patamar, pois quer praticar também o assassinato da memória através de sua re-escritura: assim como há historiadores negacionistas do Holocausto, como David Irving, confrontado brilhantemente por Deborah Lipstadt, há no Brasil os que desejariam escrever a nossa História negando as atrocidades cometidas por agentes do Estado durante a ditadura militar. Ustra será herói nacional, Paulo Freire perderá a posição como Patrono da Educação Brasileira para o tão maior Olavo de Carvalho, o golpe de 1964 terá sido uma revolução nacionalista (nada a ver com os EUA, a CIA, aquilo tudo que está no doc O Dia Que Durou 21 Anos) para nos salvar do vírus comunista que estava nos transformando numa nova Cuba…
O vazio de proposta, a ausência de utopia e a baixa capacidade ética e cognitiva marcam este desgoverno Bolsonarista, mas eles conseguem nos manter “entretidos” por suas patifarias, por sua capacidade infinita de produzir monstruosidades, pois no fundo encenam algo de quixotesco, algo de bastante ridículo. Vocês já notaram o quanto homenzinhos másculos e covardes, belicosos e estúpidos, como Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, Pol Pot, Bolsonaro, são sempre algo ridículos para quem quer que os enxergue com lucidez? São palhaços perigosos, e suas piadas às vezes só tem graça pra uma platéia que é tão chucra quanto eles.
O machista ri da piada machista, o racista da injúria racial fantasiada de anedota. Esta identificação idólatra que leva um sujeito submetido a cair de joelhos e lamber as botas – “meu Mito! meu querido Subjugador!” – só se processa caso não se perceba o ridículo das poses fascistas. Não se segue com subserviência um líder percebido como ridículo, ou seja, só digno de nossa insolência e desobediência! Posudos, posers, cheios de empáfia, atores escrotos de uma peça ruim, assim são os líderes fascistas quando debaixo dos holofotes midiáticos. Só dignos de que os denunciemos em coro por seus atentados contra a dignidade humana, cuja essência está em sua diversidade.
O antídoto contra as atrocidades de que o século XX foi repleto, ensina Arendt, é reflexão, responsabilidade, exercício autônomo do juízo. Em sua reportagem Eichmann em Jerusalém, ela faz um epílogo que ainda tem muito a dizer a nosso tempo. Hannah aí confessa que quis escrever o livro para sondar “em que medida a corte de Jerusalém esteve à altura das exigências da justiça” (p. 322). E um dos aspectos mais interessantes da obra é descobrir que, em seu cerne, cintila o questionamento: “Eichmann deveria mesmo ter morrido na forca? O Tribunal de Jerusalém cumpriu com o dever de Justiça ao condená-lo à morte?”
 O debate filosófico sobre a pena de morte possui um dos seus ápices, no século XX, nas interações entre Albert Camus e Arthur Koestler, mas a obra que nasce daí – Reflexões Sobre a Pena Capital -, por mais brilhante que seja, passa ao largo do problema que Arendt decide enfrentar. Pois o Holocausto, a Shoah, é um crime sem precedentes. E os criminosos eram sujeitos diferentes de quaisquer outros criminosos já julgados em um aspecto: pareciam agentes de uma engrenagem que os transcendia. Eichmann, talvez querendo comprar um pouco de crença em sua inocência, dizia que estava só cumprindo ordens. Just a pawn in their game, como cantará Dylan. E, no entanto, Arendt exerce a fundo seu juízo e conclui: sim, há sim boas razões para enforcar Eichmann.
O debate filosófico sobre a pena de morte possui um dos seus ápices, no século XX, nas interações entre Albert Camus e Arthur Koestler, mas a obra que nasce daí – Reflexões Sobre a Pena Capital -, por mais brilhante que seja, passa ao largo do problema que Arendt decide enfrentar. Pois o Holocausto, a Shoah, é um crime sem precedentes. E os criminosos eram sujeitos diferentes de quaisquer outros criminosos já julgados em um aspecto: pareciam agentes de uma engrenagem que os transcendia. Eichmann, talvez querendo comprar um pouco de crença em sua inocência, dizia que estava só cumprindo ordens. Just a pawn in their game, como cantará Dylan. E, no entanto, Arendt exerce a fundo seu juízo e conclui: sim, há sim boas razões para enforcar Eichmann.
Camus, em O Homem Revoltado, também sondou o abismo da questão: existe um assassinato legítimo, por exemplo no caso de um tiranicídio? O problema de Arendt é outro: temos direito, nós enquanto comunidade de vítimas, enquanto judeus sobreviventes do massacre, condenar à morte um alto funcionário da maquinaria assassina nazista, um perpetrador de “massacres administrativos”? Já sabemos a resposta: Hannah Arendt não se opõe a que o tribunal de Jerusalém condene Eichmann a morte. Assim como outros líderes nazistas haviam sido nos trials de Nuremberg.
O que haveria de surpreendente na atitude da judia alemã que, sobrevivendo ao massacre através de seus exílios, exerce seu juízo ético para justificar a punição capital para um dos agentes supremos da Solução Final? Eichmann, para Arendt, é visto não como irresponsável, mas sim como responsável e punível por ter participado, por sua irreflexão, na cruel engrenagem da banalidade do mal. Se Eichmann pode ser condenado à morte, é pois antes ele foi um agente da condenação em massa de outros à morte, ele foi um agente do extermínio da pluralidade que constitui a essência da humanidade; assim, “o agente é um ofensor à ordem do mundo como tal. Para usar outra das metáforas de Jesus: ele é como a erva daninha, ‘o joio no campo’, com o qual nada se pode fazer exceto destruí-lo, queimá-lo na fogueira” (ARENDT, Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 192).
Arendt, ainda que não aplauda a pena capital, neste caso a aceita, justificando sua posição nas palavras que encerram este livro fundamental do século XX. Ela diz: “se é verdade que a justiça não deve ser apenas feita, ela deve ser vista, então a justiça do que foi feito em Jerusalém teria emergido para ser vista por todos se os juízes tivessem a ousadia de se dirigir ao acusado em algo como os seguintes termos”:
“Você, Eichmann, admitiu que o crime cometido contra o povo judeu durante a guerra foi o maior crime na história conhecida, e admitiu seu papel nele. Mas afirmou nunca ter agido por motivos baixos, que nunca teve inclinação de matar ninguém, que nunca odiou os judeus, que no entanto não poderia ter agido de outra forma e que não se sente culpado. Achamos isso difícil, mesmo que não inteiramente impossível, de acreditar… Você disse também que seu papel na Solução Final foi acidental e que quase qualquer pessoa poderia ter tomado seu lugar, de forma que potencialmente quase todos os alemães são igualmente culpados.
O que você quis dizer foi que onde todos, ou quase todos, são culpados, ninguém é culpado. Essa é uma conclusão realmente bastante comum, mas que não estamos dispostos a aceitar. E se não entende nossa objeção, recomendaríamos à sua atenção a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades bíblicas que foram destruídas pelo fogo do céu porque todo o povo delas havia se tornado igualmente culpado.
Isso, incidentalmente, nada tem a ver com a recém-nascida idéia de ‘culpa coletiva’, segundo a qual as pessoas são culpadas ou se sentem culpadas de coisas feitas em seu nome, mas não por elas — coisas de que não participaram e das quais não auferiram nenhum proveito. Em outras palavras, culpa e inocência diante da lei são de natureza objetiva, e mesmo que 8 milhões de alemães tivessem feito o que você fez, isso não seria desculpa para você.
Felizmente não precisamos ir tão longe. Você próprio não alegou a efetiva, mas apenas a potencial culpa da parte de todos que vivem num Estado cujo principal propósito político se tornou a perpetração de crimes inauditos. E a despeito das vicissitudes exteriores ou interiores que o levaram a se transformar em criminoso, existe um abismo entre a realidade do que você fez e a potencialidade do que os outros poderiam ter feito. Nós nos ocupamos aqui apenas com o que você fez, e não com a natureza possivelmente não criminosa de sua vida interior e de seus motivos, nem as potencialidades criminosas daqueles a sua volta.
Você contou sua história como uma história de dificuldades e, sabendo das circunstâncias, estamos até certo ponto dispostos a admitir que em circunstâncias mais favoráveis é altamente improvável que você tivesse de comparecer perante nós ou perante qualquer outra corte criminal. Suponhamos, hipoteticamente, que foi simplesmente a má sorte que fez de você um instrumento da organização do assassinato em massa; mesmo assim resta ofato de você ter executado, e portanto apoiado ativamente, uma política de assassinato em massa.
Pois política não é um jardim-de-infância; em política, obediência e apoio são a mesma coisa. E, assim como você apoiou e executou uma política de não partilhar a Terra com o povo judeu e com o povo de diversas outras nações — como se você e seus superiores tivessem o direito de determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo —, consideramos que ninguém, isto é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer partilhar a Terra com você. Esta é a razão, e a única razão, pela qual você deve morrer na forca.”
ARENDT, Hannah. Eichmann Em Jerusalém. Cia das Letras, pg. 300 a 302. Consulte o PDF.
A tarefa de nosso tempo foi sintetizada por Adorno: evitar que Auschwitz se repita. Quem hoje não souber se responsabilizar, assumir o trabalho da reflexão autônoma e do juízo justo, terá as mãos sujas de sangue alheio tanto quanto os carrascos – pois os cúmplices (ainda não aprendemos?) também tem sua responsabilidade nas atrocidades. O que importa é evitar que Bolsonaro se transforme numa espécie de Hitler tropical, praticando a necropolítica do extermínio em suas ações contra pretos, mulheres, petralhas, gays, sem-terras, sem-teto, professores esquerdistas, paulo-freirianos, gramscianos, marxistas, que poluem o mundo com sua escória e agora serão varridos pela ação profilática da Raça Neo-Ariana.
É a velharia velhaca da pretensa supremacia branca de volta com todo seu racismo explícito. É a velha macheza patriarcal que subjaz, como atmosfera afetiva, aos feminicídios e aos homicídios homofóbicos. É a velhíssima crueldade das elites econômicas contra a massa espoliada. É a velha submissão ao capital estrangeiro e às seduções do conforto conformista de se submeter a ser teleguiado de fora, pela metrópole rica e sábia… Só que não: Trump não passa de outro fascistinha com dinheiro demais no banco. E o capitalismo neoliberal afunda-se no pântano sem fundo de sua própria catástrofe, coveiro de si mesmo como já previam Marx e Engels.
O que estamos vendo é o processo infindável do capitalismo a cavar sua própria cova. Ele consegue sempre que o buraco seja mais embaixo. Nosso buraco se chama Bolsonaro, mas também ele, como indivíduo, vai passar. Em algumas décadas o cadáver de Bolsonaro já estará decomposto. O que nos importa agora é lidar com o legado que ele vai deixar. É nossa tarefa histórica impedir que seja um legado de estrago. E a tudo estragar ele e sua trupe estão determinados. Não será fácil, como nunca foi, para aqueles que Brecht diz que “lutam a vida toda” e são por isso os “imprescindíveis”. Responsabilidade, afinal, é aquilo que é imprescindível para a experiência autêntica da ética vivida, é estar acordado para o fato de que “ninguém vive só nem para si” – como já dizia o poeta William Blake.
“Toda geração”, escreve Arendt, “em virtude de ter nascido num continuum histórico, recebe a carga dos pecados dos pais assim como é abençoada com os feitos dos ancestrais” (Eichmann em Jerusalém, p. 321). Um pensamento similar também se expressa nos textos fundadores do marxismo: “a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.”
Não há dúvida que, entre nós, a ideologia Bolsonarista e suas atrozes práticas conexas representam o que de pior nos legou a nossa sacrossanta tradição. Em Bolsonaro, como pústulas pululam as tradições nacionais: machismo patriarcal, homofobia violenta, supremacismo racista, elitismo anti-massas, economia ultracapitalista neoliberal ligada a caretice nos costumes, autoritarismo mandonista, aniquilação da alteridade e da diversidade (tanto a humana, quanto a de fauna e flora; é epistemicídio, etnocídio e genocídio no mesmo pacote com a hecatombe ambiental).
Talvez esta seja, na terra brasilis circa-2019, a melhor encarnação contemporânea da necropolítica e suas ânsias de extermínio (não tenham dúvidas: “o sonho ideal” dos Bolsonaristas é um mundo purgado, pela violência das armas, das hordas bárbaras de petistas, psolistas, esquerdistas, mariguellistas, guevaristas, marxistas etc…).
Muito do que tenho escrito reflete minhas angústias diante da questão que não quer calar: como podem os filósofos contribuir não só para a compreensão disso de que somos contemporâneos, mas também para a transformação sábia da existência que é a indestrutível missão secular da filosofia? Em outros termos, será que os filósofos não podem justamente ajudar a coletividade a perceber os perigos que perpassam o colapso da reflexão, da autonomia, da responsabilidade?
A lição de Arendt que poucos tiveram a coragem de ouvir é a de que não se deve tolerar os intolerantes, nem perdoar os genocidas. Nem encontrar desculpas no “meio” ou nas “circunstâncias” para lidar com misericórdia e complacência aqueles que são perpetradores e cúmplices das barbaridades praticadas pelas engrenagens que banalizam o mal.
Quem está com o fascismo, está com a morte cruel imposta às massas de colorida alteridade, marcadas como indigna de viver por pertenças de raça, classe ou gênero (o eixo articulador da Opressão, ensinam as teóricas da Interseccionalidade, é o tripé do opressor: racismo, classismo, sexismo). Sob o fascismo, a Diversidade é o “cabra marcado pra morrer”.
Quem é cúmplice do extermínio da pluralidade constitutiva do mundo não merece, daqueles que em carne viva compõe a teia vivente desta pluralidade humana, nenhuma complacência, mas sim toda resistência ativa e combativa, toda ação por mudança (inclusive de mentes alheias). Pois queremos um mundo onde caibam todos os mundos. Todas as cores e ritmos. Todas as peles e ideias. Menos as que aniquilam a própria diversidade.
Responsáveis agem; ovelhas passivas obedecem – ainda que o pastor esteja ordenando que se taquem de cabeça no abismo. Responsáveis seremos apenas quando assumirmos a ação coletiva, no mundo comum, coordenada e baseada nos Kropotkinianos preceitos da ajuda mútua, em que expressaremos que não toleraremos tal grau de intolerância, que nosso neo-iluminismo não deixará quieta esta nova maré alta do obscurantismo, que com todo nosso amor ao mundo e a nós dentro dele, em nosso colorido multidiverso, batalharemos com todo o nosso alento e ímpeto para que cessem de triunfar os exterminadores da diversidade e os silenciadores dos dissensos.
Democracia é a sábia permissão ao dissenso dialogado no horizonte de uma reflexão coletiva sobre o bem comum; Ditadura é a imposição, de cima pra baixo, dos valores, normas e hierarquias de uma minoria minúscula que trabalha pelo extermínio da diversidade. De que lado você está? Com os que se levantam juntos por um possível melhor futuro, ou com os que se ajoelham sobre as poças de sangue que derramaram em gangue?
-Eduardo Carli de Moraes
Goiânia, 16/04/2019
EPÍLOGO: UMA SÁBIA CANÇÃO RECÉM-NASCIDA DE CEUMAR
SIGA EXPLORANDO: