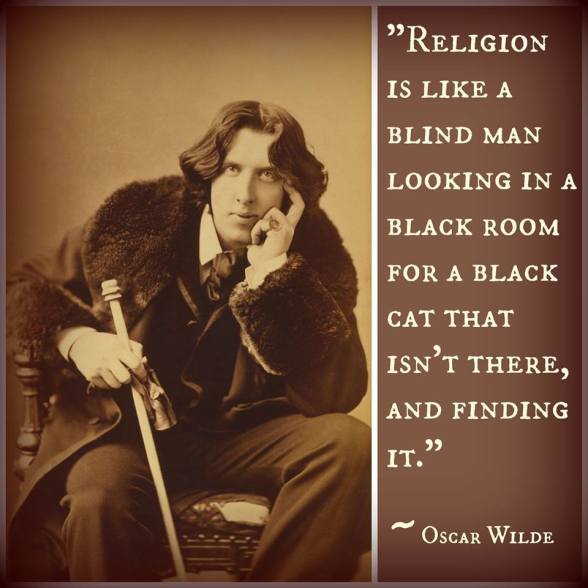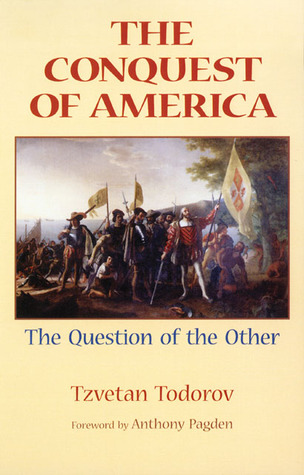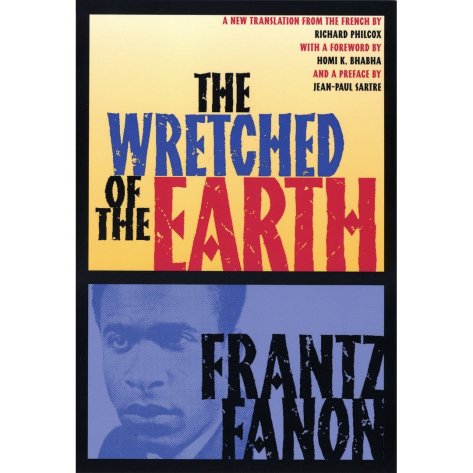MESMO QUE O CÉU NÃO EXISTA
Críticas à religião no materialismo filosófico das Luzes ao Marxismo
Eduardo Carli de Moraes
Download em PDF em Academia.edu
I. TEMA
 “Depois da morte de Deus e do desmoronamento das utopias, sobre qual base intelectual e moral queremos construir nossa vida comum?” (TODOROV: 2006, p. 9) Com esta questão, que inaugura sua obra O Espírito das Luzes, Tzvetan Todorov situa alguns dos dilemas e desafios que enfrentamos diante do colapso da credibilidade da metafísica, com a consequência de que a ética e a política vivenciam uma espécie de crise do sagrado e necessidade de reinvenção em outras bases – imanentes e não mais transcendentes; profanas e não mais teológicas.
“Depois da morte de Deus e do desmoronamento das utopias, sobre qual base intelectual e moral queremos construir nossa vida comum?” (TODOROV: 2006, p. 9) Com esta questão, que inaugura sua obra O Espírito das Luzes, Tzvetan Todorov situa alguns dos dilemas e desafios que enfrentamos diante do colapso da credibilidade da metafísica, com a consequência de que a ética e a política vivenciam uma espécie de crise do sagrado e necessidade de reinvenção em outras bases – imanentes e não mais transcendentes; profanas e não mais teológicas.
Estes dilemas são alvo de reflexão de muitos pensadores/cientistas de relevância: da “morte de Deus” diagnosticada por Nietzsche ao “desencantamento do mundo” de que fala Max Weber, da noção de que “a religião é o ópio do povo” de Karl Marx à polêmica que opõe o criacionismo à teoria da evolução de Charles Darwin.
 Na atualidade, uma caudalosa literatura atéia, multidisciplinar e plurinacional, têm sido publicada no âmbito das críticas materialistas à religião, com pelo menos duas vertentes importantes: a anglo-saxã (Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Sam Harris etc.) e a francesa (Michel Onfray, André Comte-Sponville, Marcel Conche etc.).
Na atualidade, uma caudalosa literatura atéia, multidisciplinar e plurinacional, têm sido publicada no âmbito das críticas materialistas à religião, com pelo menos duas vertentes importantes: a anglo-saxã (Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Sam Harris etc.) e a francesa (Michel Onfray, André Comte-Sponville, Marcel Conche etc.).
Uma coletânea importante de 18 artigos, o Cambridge Companion to Atheism (2006), fornece um bom panorama dos debates e já possui edição em língua portuguesa sob o título Um mundo sem deus: ensaios sobre o ateísmo (tradução de Desidério Murcho, Lisboa: Edições 70, 2010).
De modo bem sumário, podemos dizer que estes autores formulam argumentos que buscam provar a inexistência de Deus; defendem a laicidade do Estado e criticam todo tipo de fanatismo, obscurantismo e fundamentalismo; afirmam a possibilidade de uma ética secular, a-religiosa, plenamente terrena, sem recompensas ou punições do além-túmulo; desenvolvem argumentos sobre a sabedoria, as virtudes, o bem-comum, considerados sempre na perspectiva desta vida e deste mundo etc.

No âmbito destas discussões, percebemos a recorrência de um problema filosófico muito debatido e que parece ter o dom de jamais receber resposta definitiva: não só a questão da existência de Deus, da alma imortal e do livre arbítrio, mas o debate sobre necessidade (ou não) da fé como fundamento para a ética e a política. Um dos nossos focos principais de nosso trabalho será a crítica empreendida pelas filosofias materialistas das conexões entre moral e religião, entre teologia e política.
A primeira delimitação de nosso tema consiste na eleição, como objetos de estudo, apenas dos filósofos da tradição materialista, que integram a “linha de Demócrito” de que fala Lenin (1962), que a contrastava com a “linha de Platão”. Estão colocados no ringue de batalha, pois, os dois velhos adversários: o materialismo e o idealismo.
A segunda delimitação temática consiste na primazia que concederemos em nossos estudos aos filósofos do materialismo de duas épocas:
I) na França do séc. XVIII, no período pré-Revolução Francesa, na obra dos radicais das “Luzes” (o Iluminismo ou Esclarecimento), em especial o barão D’Holbach (cuja magnum opus é O Sistema da Natureza), La Mettrie (autor de O Homem Máquina), Helvétius (cujos tratados Do Espírito e Do Homem marcaram época) e Denis Diderot (que além de filósofo foi autor também de obras literárias como A Religiosa, Jacques, o Fatalista e O Sobrinho de Rameau).Vale ressaltar que estes materialistas do séc. XVIII tiveram precursores, no século anterior, em figuras como Pierre Bayle, Jean Méslies e Pierre Gassendi (1592 – 1655), fontes em que também buscaremos pesquisar, dada a relevância deles como prefiguradores tanto do materialismo iluminista quanto do marxisma. Como escreve Onfray:
 De fato, no verso do cartão-postal da historiografia dominante encontram-se felizmente pensadores candidatos à forca que celebram a volúpia desculpabilizada, anunciam a morte de Deus, professam a coletivização das terras, conclamam a estrangular os aristocratas com as tripas dos padres, incitam a filosofar para os pobres e para o povo, creem na possibilidade de mudar o mundo, ensinam uma moral eudemonista, se não hedonista, contam com a justiça dos homens. Chamo-os de ultras das Luzes, pois eles encarnam um pensamento radical. Ora, o que é um pensamento radical? Retomemos simplesmente a definição dada por Marx na sua Crítica da filosofia do direito de Hegel: ser radical é tomar as coisas pela raiz. (ONFRAY: 2012, p. 34)
De fato, no verso do cartão-postal da historiografia dominante encontram-se felizmente pensadores candidatos à forca que celebram a volúpia desculpabilizada, anunciam a morte de Deus, professam a coletivização das terras, conclamam a estrangular os aristocratas com as tripas dos padres, incitam a filosofar para os pobres e para o povo, creem na possibilidade de mudar o mundo, ensinam uma moral eudemonista, se não hedonista, contam com a justiça dos homens. Chamo-os de ultras das Luzes, pois eles encarnam um pensamento radical. Ora, o que é um pensamento radical? Retomemos simplesmente a definição dada por Marx na sua Crítica da filosofia do direito de Hegel: ser radical é tomar as coisas pela raiz. (ONFRAY: 2012, p. 34)
II) No século XIX, com a emergência do materialismo marxista, doutrina com enraizamento filosófico nas fontes atomistas gregas (Demócrito e Epicuro) e também nos materialistas franceses como Holbach, Helvétius etc. (vide item I). Em sua relação crítica e construtiva com o materialismo iluminista francês, pode-se dizer que Marx aumenta o ímpeto prático e transformador que o anima e que ele ganha “carne” como movimento político, força coletiva organizada, ímpeto revolucionário.
Parece-nos que é bem conhecida e estudada a relação crítica que o marxismo estabeleceu com o idealismo alemão, em especial sua empreitada crítica contra Hegel e os hegelianos de esquerda como Bruno Bauer. Também é notória e bastante pesquisada a influência determinante exercida pelo materialismo ateu de Feuerbach ou pela teoria econômica-política anarquista de Proudhon sobre o pensamento do jovem Marx, que depois desenvolverá também uma crítica destes seus antigos mestres.
Porém, nosso trabalho pretende focar a atenção nas relações, que parecem-nos menos pesquisadas e conhecidas, de Marx com a tradição materialista dos sécs. XVII e XVII no Iluminismo francês (Helvétius, D’Holbach, La Mettrie etc.). Ou seja, desejamos explorar sobretudo de que modo foi importante para a configuração da teoria e da práxis marxistas o influxo do materialismo iluminista francês, dos “ultras das Luzes”, como os chama Michel Onfray nos volumes da Contra-História da Filosofia a eles dedicados.
II. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Desde a Antiguidade greco-romana, a crítica da religião estabelecida marcou a obra de muitos filósofos, em especial aqueles que constituiriam a escola atomista-materialista: Demócrito e Epicuro (na Grécia, nos sécs VI a IV a.C.) e Lucrécio (em Roma, no séc. I a.C.).
Desde os pré-socráticos os debates sobre a natureza da realidade (a Phýsis) não raro propendiam a tornar-se querelas religiosas: um exemplo é o de Xenófanes (570 a.C. – 475 a.C.), nascido em Colófon (atual Turquia), que confrontou as crenças de seus contemporâneos com estas palavras célebres: “Se os bois, os cavalos, os leões tivessem mãos para desenhar e criar obras como fazem os homens, os cavalos representariam os deuses à semelhança do cavalo, os bois à semelhança do boi, e eles fabricariam os deuses com um corpo tal qual cada um possui ele mesmo.” (XENÓFANES apud JAEGER: 2001, p. 213-214).
A crítica realizada por Xenófanes prenuncia em mais de 2 milênios a filosofia de Ludwig Feuerbach e Nietzsche (alguns notáveis intérpretes-críticos do fenômeno religioso nos últimos séculos): o pré-socrático já sugeria que os seres humanos fabricam deuses à sua imagem e semelhança e que a proposição “somos todos filhos dos deuses” (ou seja, por eles fomos criados) seria muito mais verdadeira se fosse invertida: “somos os pais de todos os deuses” (ou seja, nós é que criamos os deuses).
Este é apenas um exemplo antiquíssimo da ação questionadora e cáustica de pensadores que, sem temor de soarem ímpios, através de suas argumentações põem em maus lençóis os dogmas consagrados e as autoridades religiosas teocráticas, colocando em questão, por exemplo, a mitologia veiculada por Homero e Hesíodo que
atribuíram aos deuses todas as indignidades, roubos, adultérios e imposturas. [De acordo com Xenófanes] é ilusão dos homens pensar que os deuses nascem e têm forma e roupagens humanas. Os negros da Etiópia acreditavam em deuses negros e de nariz achatado, já os trácios em deuses de olhos azuis e cabeleira ruiva. Na verdade provêm de causas naturais todos os fenômenos do mundo exterior que os humanos atribuem à ação dos deuses que temem. (JAEGER, p. 213)
No nascedouro da filosofia grega, essa aposta no “naturalismo”, na possibilidade de explicar por causas naturais todos os fenômenos, também marca presença em muitos dos filósofos que hoje reconhecemos como inovadores e revolucionários da aurora da ciência, de Tales de Mileto (623 – 546 a.C.) a Demócrito de Abdera (460 a.C. — 370 a.C.), que dedicaram-se a explicar a Phýsis sem recorrer a causa sobrenatural ou explicação mítica.
O materialismo moderno, que nos propomos a estudar em suas mutações das “Luzes” (séc. XVIII) ao marxismo e suas vertentes (sécs. XIX e XX), é uma continuação crítica e criativa de uma ancestral aventura filosófica daqueles amigos-da-sabedoria que dedicaram-se à decifração da Phýsis e que não se deixaram calar por mordaças impostas pelo clero ou pelo temor das fogueiras dos inquisidores.

Apesar de não ser classificado como materialista, mas sim como panteísta, Spinoza é um caso emblemático, na história da filosofia, de uma crítica radical da religião instituída e inspirará muitos materialistas, muitos deles fiéis à noção de “monismo da matéria”, ou seja, à ideia de que a substância spinozista (Deus sive Natura) podia ser melhor descrita pelo conceito de matéria.
No Tratado Teológico-Político, Spinoza procura convencer o leitor de que qualquer explicação que apele para a noção de “vontade de Deus” não passa de “asilo da ignorância” (para relembrar a Ética, Livro I, apêndice), alertando para as ciladas da credulidade típicas daqueles que “interpretam a natureza da maneira mais extravagante, como se toda ela delirasse ao mesmo tempo que eles.” (SPINOZA: 2003, p. 6).
O epicentro do problema que nos dedicaremos a pesquisar em nosso Doutorado está aí exposto: a crítica à religião empreendida pelos filósofos materialistas das épocas que delimitamos. Desejamos expor e debater os argumentos que sustentam serem as religiões como invenções humanas (demasiado humanas), ficções supersticiosas, ideologias interesseiras urdidas por classes sociais em antagonismo com outras etc.
No âmbito ético e político, buscaremos esclarecer o teor das críticas materialistas à sistemas de moral baseados em sanções post mortem, que são prometidas ao pecador (como o inferno ou o Hades) e ao santo (o Paraíso ou os Campos Elíseos). Revelaremos em détail as argumentações que criticam as doutrinas éticas ou os sistemas políticos que, por preconceito teológico, culpabilizam a sensualidade, reprimem o corpo e a expressão de suas energias, rebaixando a um status secundário e subalterno tudo o que diz respeito ao organismo em sua carnalidade e aos sentidos em sua organicidade.
O impacto da doutrina atomista de Demócrito na história da filosofia e das ciências não deve ser subestimado, já que inaugura uma concepção de mundo anti-criacionista, onde não existe um deus que age como criador ex nihilo do universo. O materialismo baseia-se na tese de que tudo que existe é composto pelas interações dos átomos (incriados e indestrutíveis), em movimento perpétuo, que estão em constante processo de combinação e re-combinação através da imensidão incomensurável do espaço. Segundo Demócrito, átomos e vazio constituem a totalidade concreta, o todo do Ser.
 Como explica Friedrich Albert Lange em sua História do Materialismo, obra em dois volumes que será uma das principais fontes de pesquisa para nosso trabalho, Demócrito afirmava: “Nada vem do nada; nada do que existe pode ser nadificado. Toda mudança não é senão agregação ou desintegração de partes.” (LANGE: 1910, p. 12)
Como explica Friedrich Albert Lange em sua História do Materialismo, obra em dois volumes que será uma das principais fontes de pesquisa para nosso trabalho, Demócrito afirmava: “Nada vem do nada; nada do que existe pode ser nadificado. Toda mudança não é senão agregação ou desintegração de partes.” (LANGE: 1910, p. 12)
Sabemos que a palavra átomo, em grego, traduz-se por “indivisível”: os átomos são as partículas elementares, que não podem ser nem aniquilados nem reduzidos a partes menores. São tidos, nestes seus primeiros estágios de desenvolvimento, como indestrutíveis e infinitos em diversidade. Chocam-se, combinam-se, produzem turbilhões, separam-se e desintegram conjunções, para na sequência formar novos agrupamentos – e assim “mundos inumeráveis se formam para depois perecer.” (LANGE: op cit, p. 17)
A doutrina de Demócrito será depois adotada e aprimorada por Epicuro (341 a.C. – 270 a.C.), um dos mais importantes filósofos materialistas da História. Nascido na ilha de Samos, foi o fundador da escola de filosofia em Atenas que foi batizada “O Jardim de Epicuro” e que atravessou sete séculos, tendo sido muito difundidas suas noções éticas em que o caminho para a felicidade estava na paz-de-espírito [ataraxia], que necessariamente demandava a cessação do temor aos deuses e à morte.
Estima-se que Epicuro tenha escrito cerca de 300 obras e seu magnum opus, o tratado de física A Natureza Das Coisas, era constituído por 37 livros. Da obra monumental de Epicuro, foram preservadas apenas fragmentos, incluindo três cartas, salvas do naufrágio por Diógenes Laércio em Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. As razões da destruição da obra quase completa de Demócrito e Epicuro explica-se, segundo alguns pesquisadores, pelo afã fanático dos detratores da teoria materialista, aí incluído o próprio Platão e seus sequazes, que tudo fizeram para censurar e destruir estas obras.
Apesar de não afirmar explicitamente o ateísmo, já que continua leal ao politeísmo do Olimpo, o epicurismo inova e revoluciona em teologia ao sustentar que, além de serem entes totalmente materiais e corporais, os deuses não se importavam com preces, rogos, súplicas, arrependimentos ou o que quer que seja realizado pelos humanos terranos. Os deuses corpóreos existem, mas bem longe desta Terra, onde gozam da perfeita bem-aventurança, nem tomando consciência das necessidades e preces dos humanos (como será depois o Deus-Natureza de Spinoza, os deuses de Epicuro são concebidos como organismos indiferentes aos seres humanos e a quem será sempre inútil rezar).
No caso da obra-prima de Lucrécio, De Rerum Natura, ela só chegou inteira a nossos tempos por tortuosos caminhos históricos que foram tema de um premiado livro da historiografia contemporânea: A Virada – O Nascimento do Mundo Moderno (Cia das Letras), de Stephen Greenblatt. Este livro é essencial aos propósitos de nossa pesquisa pois mostra o renascimento do materialismo na aurora da Modernidade, algo que serve de base para a culminância dos radicais materiais, os “ultras das Luzes” como La Mettrie, Diderot, D’Holbach e Helvétius, e que também repercutirá na emergência do materialismo marxiano (Marx, afinal, torna-se doutor em filosofia com uma análise comparativa entre as filosofias da Natureza de Demócrito e de Epicuro). Greenblatt fornece uma boa síntese da “visão de mundo” materialista que pretendemos explorar em nosso trabalho:
 Quando você olha para o céu noturno e, sentindo-se inexplicavelmente comovido, fica maravilhado com a quantidade de estrelas, não está vendo o trabalho dos deuses ou uma esfera cristalina separada de nosso mundo passageiro. Está vendo o próprio mundo material de que faz parte e de cujos elementos você é feito. Não há um plano superior, não há um arquiteto divino, não há design inteligente. Todas as coisas, inclusive a espécie a que você pertence, evoluíram durante grandes períodos de tempo. (…) Nada — de nossa própria espécie ao planeta em que vivemos e ao Sol que ilumina nossos dias — se manterá para sempre. Somente os átomos são imortais. Num universo constituído dessa maneira, argumentava Lucrécio, não há motivo para pensar que a Terra ou seus habitantes ocupem um lugar central, não há motivo para separar os humanos dos outros animais, não há esperança de subornar ou aquietar os deuses, não há lugar para o fanatismo religioso, não há vocação para uma negação ascética do eu, não há justificativa para sonhos de poder ilimitado ou de segurança total, não há lógica para guerras de conquista ou de engrandecimento, não há possibilidade de triunfar sobre a natureza, não há escapatória para a criação e recriação constante das formas. (GREENBLATT: 2012, cap. 1) 6
Quando você olha para o céu noturno e, sentindo-se inexplicavelmente comovido, fica maravilhado com a quantidade de estrelas, não está vendo o trabalho dos deuses ou uma esfera cristalina separada de nosso mundo passageiro. Está vendo o próprio mundo material de que faz parte e de cujos elementos você é feito. Não há um plano superior, não há um arquiteto divino, não há design inteligente. Todas as coisas, inclusive a espécie a que você pertence, evoluíram durante grandes períodos de tempo. (…) Nada — de nossa própria espécie ao planeta em que vivemos e ao Sol que ilumina nossos dias — se manterá para sempre. Somente os átomos são imortais. Num universo constituído dessa maneira, argumentava Lucrécio, não há motivo para pensar que a Terra ou seus habitantes ocupem um lugar central, não há motivo para separar os humanos dos outros animais, não há esperança de subornar ou aquietar os deuses, não há lugar para o fanatismo religioso, não há vocação para uma negação ascética do eu, não há justificativa para sonhos de poder ilimitado ou de segurança total, não há lógica para guerras de conquista ou de engrandecimento, não há possibilidade de triunfar sobre a natureza, não há escapatória para a criação e recriação constante das formas. (GREENBLATT: 2012, cap. 1) 6
Em nossa tese, portanto, pretendemos mapear esta influência, fecunda apesar de longínqua, de Demócrito, Epicuro e Lucrécio sobre as vertentes do materialismo filosófico das Luzes francesas e também no materialismo dialético de Marx e da chamada “filosofia da práxis”. Queremos mostrar que algumas das ideias mais debatidas dos últimos séculos, como a célebre noção propagada por Marx, na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, de que “a religião é o ópio do povo”, não são anomalias isoladas na história do pensamento, mas integram-se em uma longa tradição de materialismo, que procura abordar o fenômeno religioso com uma atitude crítica ou mesmo revolucionária.
A crítica da concepção de mundo religiosa e a moral a ela conexa, empreendida pelos materialistas, está conectada aos projetos e às utopias de construção de uma concepção de mundo, de uma ética e de uma política alternativas, baseados na imanência radical. Um dos nossos problema essenciais consistirá em expor como os filósofos materialistas abordam as questões da possibilidade do “ateu virtuoso” e da “sociedade atéia” (uma doutrina de Pierre Bayle que D’Holbach subscreve). O próprio Marx escreve, em A Sagrada Família, sobre a importância de Bayle para o desenvolvimento ulterior do materialismo filosófico:
O homem que fez com que a metafísica do século XVII e toda a metafísica perdessem teoricamente seu crédito foi Pierre Bayle. Com a desintegração cética da metafísica, Pierre Bayle não apenas preparou a acolhida do materialismo e da filosofia do juízo humano saudável na França. Ele anunciou a sociedade ateia, que logo começaria a existir, mediante a prova de que podia existir uma sociedade em que todos fossem ateus, de que um ateu podia ser um homem honrado e de que o que desagrada ao homem não é o ateísmo, mas sim a superstição e a idolatria. (MARX: 2003, p. 146)
Também nos interessa o problema da conexão que pode haver entre uma concepção de mundo materialista e uma ética consequencialista de teor hedonista. Além disso, desejamos debater a velha querela entre determinismo vs livre-arbítrio: será mesmo que o materialismo conduz a uma visão-de-mundo onde impera o determinismo estreito, que abole toda liberdade humana, reduzindo tudo a um fatalismo que exige do sujeito apenas resignação? Ou, pelo contrário, o materialismo inclui a possibilidade concreta de emancipação coletiva e transformação concreta do mundo como uma consequência necessária de seu abandono dos mundos imaginários, em prol da profana e terrestre vida dos humanos de carne-e-osso?
Uma vez que o materialismo filosófico será definido por um de seus mais ilustres pensadores contemporâneos, André Comte-Sponville, como “um monismo da matéria”, será necessário também refletirmos sobre o significado filosófico do monismo, concepção que se opõe ao dualismo que cinde o real entre Deus e Natureza, Espírito e Matéria, cindindo também o homem entre um corpo, perecível e pecaminoso, e um espírito, imorredouro e passível de ser “salvo”:

André Comte-Sponville, filósofo materialista francês, autor de “Pequeno Tratado das Grandes Virtudes” e “Tratado do Desespero e da Beatitude” (Ed. Martins Fontes)
Chama-se materialismo a doutrina que afirma que tudo é matéria ou produto da matéria (salvo o vazio) e que, por conseguinte, os fenômenos intelectuais, morais ou espirituais (ou assim supostos) têm realidade secundária e determinada. O materialismo se caracteriza assim, negativamente, pela rejeição do dualismo e do espiritualismo (não existe nem mundo inteligível nem alma imaterial), do ceticismo e do criticismo (a realidade em si não é inconhecível), enfim e em geral do idealismo. É incompatível com toda crença num Deus imaterial, criador ou legislador. O materialismo é antes de mais nada um pensamento de recusa, de combate. Trata-se (Lucrécio, La Mettrie e Marx não cansaram de lembrar) de vencer a religião, a superstição e, em geral, a ilusão. O materialismo é uma empresa de desmistificação.
Explicar o superior pelo inferior (o espírito pelo corpo, a vida pela matéria inanimada, a ordem pela desordem…) é, de Demócrito a Freud, a conduta constante do materialismo. Em todo o caso o materialismo sempre tem, como teoria, essa tendência a descer, isto é, a buscar a verdade, como dizia Demócrito, no fundo do abismo, quer esse abismo seja o da matéria e do vazio (os atomistas), o do corpo (La Mettrie, Diderot…), o da infra-estrutura econômica (Marx) ou o de nossos desejos inconscientes (Freud). Essa descida, na teoria, tem por contraponto uma subida, no real ou na prática. O pensamento materialista, percorrendo ao revés o aclive do real, tudo o que faz, ao longo da sua descida, é pensar a ascensão que a torna possível. ‘É da terra ao céu que se sobe aqui’, escreviam Marx e Engels em A Ideologia Alemã, e a imagem pode ser generalizada. A história se inventa de baixo para cima. (COMTE-SPONVILLE, 2001, p. 119 a 121)
Dando continuidade ao trabalho realizado em minha dissertação de mestrado, Além da Metafísica e do Niilismo, focada no trabalho de Nietzsche (1844-1900), desejo insistir num método que consiste em somar as forças da crítica e da construção, da teoria e da práxis, da denúncia e do anúncio. Percebo que, longe de terem permanecido presos ao trabalho negativo do aniquilamento e da destruição (que a eles são atribuídos por seus detratores e adversários de modo vastamente imerecido), os materialistas de que trataremos jamais foram niilistas; trabalharam em prol da construção de alternativas, da sugestão de sabedorias e sistemas políticos que pretendiam instaurar o reino da liberdade, da fraternidade e da igualdade sem recurso ao divino. Muitas vezes eram movidos pela vontade de sepultar para sempre sistemas políticos obscurantistas, teocráticos, batalhando contra superstições e sectarismo, ativamente engajados com a construção de um convívio coletivo melhor, mais feliz, mais justo e mais sábio.
Assim, pretendemos delinear as múltiplas possibilidades que existem para a fundamentação de uma ética e de uma política que não terá menos mérito pois aposta que nem Deus, nem a alma imortal, nem o livre-arbítrio, existem de fato. Exporemos e discutiremos a obra dos autores materialistas referidos, explorando seus diagnósticos de uma progressiva erosão da religião como explicação de mundo, fundamentação da moral e força organizadora das sociedades. Desejamos focar nossa atenção naqueles pensadores materialistas que, através da história, ousaram criticar a religião como a conheciam, ao mesmo tempo que apontavam para um outro mundo possível, numa atitude a um só tempo crítica e construtiva que também gostaríamos que animasse nosso trabalho.
III. JUSTIFICATIVA
Contribuir para uma reconsideração do materialismo tem relevância intra e extra-filosófica, dada a carga negativa, o sentido pejorativo que o termo adquiriu no senso-comum:
É sabido que a palavra materialismo é empregada principalmente em dois sentidos, um trivial, outro filosófico. No sentido trivial, designa certo tipo de comportamento ou de estado de espírito, caracterizado por preocupações ‘materiais’, isto é, no caso, sensíveis ou baixas. Querer ganhar muito dinheiro, gostar da boa mesa, preferir o conforto do corpo à elevação do espírito, buscar os prazeres em vez do bem, o agradável em vez do verdadeiro… tudo isso é materialismo, no sentido trivial, e vê-se que essa palavra é usada sobretudo pejorativamente. O materialista é, então, o que não tem ideal, que não se preocupa com a espiritualidade e que, buscando apenas a satisfação dos instintos, sempre se inclina para seu corpo, poderíamos dizer, em vez de para sua alma. Na melhor das hipóteses, um bon vivant; na pior: um aproveitador, egoísta e grosseiro. (COMTE-SPONVILLE: op cit, p. 121)
Desejamos mostrar que o materialismo, para além de seu sentido pejorativo, é uma tradição de pensamento que não é somente crítica das ilusões idealistas, espiritualistas ou religiosas, mas também pode ser um guia ético e político para uma existência emancipada e solidária. A superação do fanatismo e do sectarismo, e também dos fratricídios deles decorrentes, parece-me conectado à nossa capacidade de refletir de modo lúcido e aprofundado sobre a condição humana. Em matéria de ética, o materialista costuma dar a primazia ao corpo (mortal) e não a um espírito (supostamente imortal). Para além de qualquer doutrina da redenção pela via do ascetismo e da auto-mortificação, o materialismo defende a unidade psicossomática entre corpo e alma e reflete sobre as condições para a saúde, a paz-de-espírito, a ataraxia, a beatitude, não em um mítico futuro distante, mas no aqui-e-agora da vida terrestre.
Julgamos relevante confrontar o preconceito que afirma que o materialista seja um crasso perseguidor de volúpias imediatas, um inconsequente libertino que não pensa no amanhã, e reafirmar que a sophia e a philia, na tradição de Demócrito e Epicuro, são valores supremos, donde ser inconcebível falar da utopia materialista sem a presença destas forças constitutivas da filosofia e que marcam-na etimologia de sua própria palavra, onde somam-se amizade e sabedoria.
 La Mettrie sugere: “Pensar no corpo antes de pensar na alma é imitar a natureza que fez um antes do outro.” (LA METTRIE: 1987, p. 271) Eis uma tese autenticamente materialista, já que aquilo que chamamos de “alma” é tido pela tradição do materialismo como algo que surge posteriormente, no tempo, à “base” material corporal.
La Mettrie sugere: “Pensar no corpo antes de pensar na alma é imitar a natureza que fez um antes do outro.” (LA METTRIE: 1987, p. 271) Eis uma tese autenticamente materialista, já que aquilo que chamamos de “alma” é tido pela tradição do materialismo como algo que surge posteriormente, no tempo, à “base” material corporal.
Para muitos materialistas, dá-se o nome de “alma” a algo que está no corpo, que nunca existiu nem pode existir independente do corpo. Daí decorre a revolução materialista empreendida contra o temor da morte que aflige os humanos: não há nada a temer já que nenhuma alma imortal sobreviverá ao corpo abandonado pela vida. Materialismo: doutrina da alma mortal, ou seja, da Psiquê encarnada, da vida individual fugaz, vivida por um organismo que só pode ser compreendido como unidade psicofísica.
Além disso, filosofia do reconhecimento pleno de nossa mortalidade inelutável, o materialismo também se caracteriza, escreve Comte-Sponville, “pela rejeição do espiritualismo, se por esta última palavra entendermos a afirmação de que existe uma substância espiritual (a alma ou o espírito), independente da matéria, que seria, no homem, princípio de vida ou de ação. […] O materialismo também é, contra todas as filosofias da alma, uma filosofia do corpo.” (COMTE-SPONVILLE, op cit, p. 124).
O materialismo pode ser descrito como um monismo físico e defende a tese de que a Matéria, ou seja, os átomos em movimento no espaço, constituem a substância única. Tudo que chamamos de espírito é derivado das “danças” imensas e múltiplas dos átomos. A consequência incontornável, e que também esclareceremos em mais detalhes, é a de que todas as atividades psíquicas ditas superiores (o pensamento, a vontade, o juízo, a criação artística, a pesquisa científica etc.) não podem jamais ser compreendidas como imateriais.
Nenhum filósofo, é evidente, pode negar absolutamente a existência do pensamento: seria negar a si mesmo e pensar que não pensa. O monismo dos materialistas não é portanto a negação da existência do pensamento, mas apenas a negação da sua independência ou, se preferirem, da sua existência autônoma: não se trata de dizer que o pensamento não existe, mas simplesmente (se é que isso pode ser simples!) que ele é tão material quanto o resto. (COMTE-SPONVILLE: 2001, pgs 120-126)
A relevância do estudo histórico, crítico, construtivo, dialético, do materialismo filosófico, está também em sua potência de “iluminar”, através da obras destes amigos da sabedoria, a força prática e concreta da filosofia na História. Buscaremos amplificar as ideias e os exemplos daqueles filósofos que prezavam mais o pensamento autônomo do que a cega obediência à tradição; que não viam diante de si nenhum tabu que proibisse o escrutínio, a pesquisa, a reflexão, a expressão, a discussão. Como escreveu Helvétius, citado por Marx, “as grandes reformas apenas podem ser realizadas com o enfraquecimento da adoração estúpida que os povos sentem pelas velhas leis e costumes.” (MARX: 2003, p. 152)
 A tentativa de conexão entre o materialismo das “Luzes” e o Marxismo tem embasamento na própria obra dos fundadores do materialismo histórico-dialético, Marx e Engels: basta exemplificar com A Sagrada Família, obra na qual, no contexto da polêmica contra o hegeliano Bruno Bauer, Marx realiza reflexões essenciais aos nossos propósitos:
A tentativa de conexão entre o materialismo das “Luzes” e o Marxismo tem embasamento na própria obra dos fundadores do materialismo histórico-dialético, Marx e Engels: basta exemplificar com A Sagrada Família, obra na qual, no contexto da polêmica contra o hegeliano Bruno Bauer, Marx realiza reflexões essenciais aos nossos propósitos:
O Iluminismo francês do século XVIII e, concretamente, o materialismo francês, não foram apenas uma luta contra as instituições políticas existentes e contra a religião e a teologia imperantes, mas também e na mesma medida uma luta aberta e marcada contra a metafísica do século XVIII e contra toda a metafísica, especialmente contra a de Descartes, Malebranche, Spinoza e Leibniz. (…) A rigor existem duas tendências no materialismo francês, dos quais uma provém de Descartes, ao passo que a outra tem sua origem em Locke. A segunda constitui, preferencialmente, um elemento da cultura francesa e desemboca de forma direta no socialismo. (MARX; ENGELS: 2003, p. 144)
Nestas páginas d’A Sagrada Família, expõe-se a tese de que o materialismo filosófico francês e inglês, nos séculos XVII e XVIII, permaneceu “unido por laços estreitos a Demócrito e Epicuro”, o que não impediu a emergência de diferentes encarnações de um materialismo multiforme, que teve como principais representantes, na Inglaterra, figuras como Bacon, Locke e Hobbes; e na França os supracitados P. Bayle, J. Mèlies, Helvétius, La Méttrie, Condillac, Diderot, D’Holbach.

Julgamos muito relevante, em nossa futura tese, realizar um estudo comparativo das duas vertentes do materialismo francês das “Luzes” que Marx identifica:
I) aquela que aderiu à física de Descartes e é representada sobretudo por La Mettrie – que “explica a alma como uma modalidade do corpo e as ideias como movimentos mecânicos; (…) seu L’Homme Machine é um desenvolvimento que parte do protótipo cartesiano do animal-máquina” (MARX; op cit, p. 145);
II) aquela outra vertente do materialismo francês, muito inspirada pelo materialismo inglês e sobretudo por Locke, e que representa a convicta antítese à metafísica do século XVII; segundo Marx, é esta linha que “desemboca diretamente no socialismo e no comunismo” (MARX: op cit, p 149). Como ilustração desta segunda vertente, citaremos um trecho d’O Sistema da Natureza, de Holbach, que parece-nos essencial para os propósitos de nossa pesquisa:

Paul Henri Thiry, o Baron d’Holbach, filósofo materialista e ateísta do século XVIII
O homem que não espera uma outra vida está mais interessado em prolongar a existência e em se tornar querido pelos seus semelhantes na única vida que conhece. Ele deu um grande passo para a felicidade ao se desvencilhar dos terrores que afligem os outros. Com efeito, a superstição tem prazer em tornar o homem covarde, crédulo, pusilânime. Ela adotou o princípio de afligi-los sem descanso; assumiu o dever de redobrar para ele os horrores da morte. Seus ministros, para disporem dele mais seguramente neste mundo, inventaram as regiões do porvir, reservando-se o direito de lá fazer recompensar os escravos que tiverem sido submissos às suas leis arbitrárias e de fazer serem punidos pela divindade aqueles que tiverem sido rebeldes às suas vontades. Longe de consolar os mortais, a religião em mil regiões esforçou-se para tornar a sua morte mais amarga, para tornar mais pesado o seu jugo, para tornar o seu cortejo acompanhado de uma multidão de fantasmas hediondos.
Ela chegou ao cúmulo de persuadi-los de que a sua vida atual não é mais do que uma passagem para chegar a uma vida mais importante. O dogma insensato de uma vida futura os impede de ocupar-se com a sua verdadeira felicidade, de pensar em aperfeiçoar as suas instituições, suas leis, sua moral e suas ciências. Vãs quimeras absorveram toda a sua atenção. Eles consentem em gemer sob a tirania religiosa e política, em atolar-se no erro, em definhar no infortúnio, na esperança de serem algum dia mais felizes, na firme confiança de que as suas calamidades e a sua estúpida paciência os conduzirão a uma felicidade sem fim. Eles se acreditam submetidos a uma divindade cruel que gostaria de fazer que eles comprassem o bem-estar futuro ao preço de tudo aquilo que eles têm de mais caro aqui embaixo. É assim que o dogma da vida futura foi um dos erros mais fatais pelos quais o gênero humano foi infectado. Esse dogma mergulha as nações no entorpecimento, na apatia, na indiferença sobre o seu bem-estar, ou então as precipita em um entusiasmo furioso, que as leva muitas vezes a dilacerarem a si próprias para merecer o céu. (HOLBACH: 2010, p. 318-19)
De modo algum iniciamos este percurso de pesquisa já com todas as respostas, pelo contrário, é por estarmos repletos perguntas que desejamos ir a fundo nas pesquisas sobre a filosofia materialista. Um dos problemas, a um só tempo ético e político, que buscaremos aclarar está este uma concepção de mundo materialista e dialética, que superou a transcendência em prol do “imanentismo” (GRAMSCI: 1981, p. 57), de que modo fundará a valorização ético-política da igualdade, da liberdade, da fraternidade, dentre outros valores e virtudes, caso se vede o caminho da sacralização?
Há como formular de modo mundano, profano, a-teológico, imanentista, a “unidade do gênero humano” pressuposta pelo materialismo francês das Luzes? A “filosofia da práxis” inclui a possibilidade de uma ética laica, profana, sem sanção nem punição, sem vigilância transcendente? Sem religião, é ainda possível formular uma ética universalista de molde kantiano que afirme a igualdade de todos, que postule normas universalizáveis como o imperativo categórico, para todos os humanos, mas desta vez em outras bases, plenamente enraizadas na “dialética do concreto”? Com o aniquilamento do divino, cai-se necessariamente num pragmatismo ao gosto anglo-saxão (W. James, S. Mill, J. Bentham), ou são pensáveis muitas outras potencialidades (socialistas, comunistas, anarquistas, democráticas)?
IV. HIPÓTESES DE TRABALHO
H1 – o materialismo é um monismo da matéria, que combate o idealismo e o espiritualismo, afirmando que a “alma” ou o “espírito” também são materiais, estando localizados no interior do corpo e sendo inseparáveis dele; em suma: o materialismo compreende o organismo como unidade psico-somática.
H2 – a ética materialista tende a ser muito mais hedonista do que ascética, muito mais consequencialista do que deontológica, voltada para a felicidade terrestre e não para a “redenção” ou salvação religiosa.
H3 – a fé, em geral, é criticada como ficção, ilusão, superstição e/ou “ideologia” por muitos destes filósofos materialistas; eles crêm que a política pode fundar-se em valores como a justiça, a solidariedade, a fraternidade, sem necessidade de valores transcendentes ou autoridades sagradas, como na “sociedade de ateus” de P. Bayle;
H4 – nada condena uma filosofia materialista a um determinismo fatalista; pelo contrário, é no âmbito do materialismo que nasce e se desenvolve uma filosofia da práxis em que os conceitos de ação, transformação, emancipação e revolução ganham um peso, uma centralidade e uma importância como nunca dantes na história da filosofia.
A estas hipóteses, expostas acima e desenvolvidas brevemente no decurso deste projeto, gostaríamos de adicionar algumas outras, desta vez com um desenvolvimento breve das mesmas.
H5 – O materialismo trabalha em prol da extinção concreta do “vale de lágrimas” historicamente constituído.
Uma das lições do materialismo é que a religião pode ser julgada a partir de seus efeitos psíquicos e sociais, numa lógica consequencialista, para além de seus princípios basilares e teorias fundamentantes (privilegiadas pela deontologia). Dentre os filósofos materialistas do Iluminismo francês que mais investiga o tema das relações entre religião e sociedade está Helvétius (1715-1771), tanto que pode-se dizer que Helvétius é um dos inauguradores daquilo que virá a ser a disciplina sociologia da religião.
Escorraçado pela censura e pela violência repressiva ao publicar seu tratado “Do Espírito”, Helvétius têm profunda influência sobre a posteridade por ser o criador do imperativo utilitarista em que se formula que deve-se visar como meta [télos] da ética e da política “a maior vantagem pública, ou seja, o maior prazer e a maior felicidade da maioria dos cidadãos” (apud ONFRAY: 2012, p. 200). Em D’Holbach e Helvétius, mas também em seus predecessores no século anterior (Méslier e Pierre Bayle), exige-se a democratização do gozo, a ampliação concreta das possibilidades de júbilo.
Contra o império tenebroso do ideal ascético, que ordena a mortificação da carne, iguala prazeres e deleites a gangrenas, os ultras das Luzes retomam o epicurismo para a formulação de seus ideais políticos, em que a realidade terrestre importa muito mais do que uma suposta salvação post mortem. Tendo a felicidade comum ou o bem público como paradigmas de excelência, Helvétius julga o real com um ouvido especialmente atento ao “grito da miséria” (ONFRAY, op cit, p. 205).
Uma de nossas hipóteses, portanto, é a de que o materialismo não se resigna nunca a somar lágrimas impotentes aos que choram pelas injustiças, mas que põe-se no campo de jogo em prol da transformação aprimoradora do que há. Ou seja, trata-se de afirmar uma filosofia que não apenas descreva ou interprete o “vale de lágrimas”, mas sim que modifique o mundo, como diz uma célebre tese marxista, para abolir o próprio vale de lágrimas e para instaurar na terra um convívio mais sábio e jubiloso, mais omnilateral e criativo, do que a asfixiante atualidade nos permite.
A partir de suas bíblicas ancestralidades, a imagem da vida como “vale das lágrimas” atravessou a história e está nos mitos fundadores judaico-cristãos, que explicam a infelicidade a partir de um pecado original ocasionador de uma queda ontológica e de uma perda do paraíso. O Paraíso Perdido – título aliás do poema de Milton onde tais mitos proliferam, assim como o fazem na Divina Comédia de Dante – torna-se então o télos transcendente que o desejo busca re-encontrar.
A vontade humana, alucinada pela fé no paraíso perdido e pelo desejo impossível de fusão com um deus que é suposto como alheio e transcendente, fica então siderada por “objetos transcendentais” que, como Marx ironizará na Sagrada Família, não passam de fantasias geradas por cérebros humanos situados em um contexto sócio-econômico, político-histórico:
 A angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão de uma angústia real e o protesto contra ela. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, tal como é o espírito de uma situação não espiritual. É o ópio do povo. A abolição da religião como a felicidade ilusória do povo é necessária para sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões sobre sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, portanto, em embrião, a crítica do vale das dores, cuja auréola é a religião. A crítica arrancou as flores imaginárias que enfeitavam as cadeias, não para que o homem use as cadeias sem qualquer fantasia ou consolação, mas que se liberte das cadeias e apanhe a flor viva. A crítica da religião desaponta o homem com o fito de fazê-lo pensar, agir, criar sua realidade como um homem desapontado que recobrou a razão, a fim de girar em torno de si mesmo e, portanto, de seu verdadeiro sol.
A angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão de uma angústia real e o protesto contra ela. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, tal como é o espírito de uma situação não espiritual. É o ópio do povo. A abolição da religião como a felicidade ilusória do povo é necessária para sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões sobre sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, portanto, em embrião, a crítica do vale das dores, cuja auréola é a religião. A crítica arrancou as flores imaginárias que enfeitavam as cadeias, não para que o homem use as cadeias sem qualquer fantasia ou consolação, mas que se liberte das cadeias e apanhe a flor viva. A crítica da religião desaponta o homem com o fito de fazê-lo pensar, agir, criar sua realidade como um homem desapontado que recobrou a razão, a fim de girar em torno de si mesmo e, portanto, de seu verdadeiro sol.
A opressão deve ainda tornar-se mais opressiva pelo fato de se despertar a consciência da opressão e a ignomínia tem ainda de tornar-se mais ignominiosa pelo fato de ser trazida à luz pública. (…) É preciso fazer com que dancem as relações sociais petrificadas fazendo-as ouvir sua própria melodia! O povo deve ter horror de si mesmo, a fim de que ganhe coragem. (…) É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que a força material tem de ser derrubada pela força material, mas a teoria converte-se em força material quando penetra nas massas. A prova evidente do radicalismo da teoria alemã, e deste modo a sua energia prática, é o fato de começar pela decisiva superação positiva da religião. A crítica da religião culmina na doutrina de que o homem é o ser supremo para o homem. Culmina, por conseguinte, no imperativo categórico de derrubar todas as condições em que o homem aparece como um ser degradado, escravizado, abandonado, desprezível. (MARX: 2005. Crítica à Filosofia do Direito de Hegel – Introdução.)
Nossa hipótese é de que a abolição da religião não pode ser nunca algo meramente intelectual, uma batalha exclusivamente “cerebral”, uma vitória em uma querela somente teológica, mas que só se dará pela modificação prática e concreta de uma realidade que torna os sujeitos alienados, despossuídos de autonomia, dependentes da fé. É preciso compreender os afetos que estão envolvidos na fé religiosa, os desejos aos quais ela serve de satisfação, as perguntas irrespondíveis que ela busca fornecer solução, e sobretudo o contexto social e intersubjetivo que estabelece a estrutura concreta sobre a qual serão erguidos os degraus da superestrutura (aos quais tanto a filosofia quanto a religião, segundo Marx, pertencem).
A hipótese que tentaremos provar está em sintonia com a afirmação de Marx de que “a supressão [Aufhebung] da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real”, o que Daniel Bensäid ilustra no capítulo “De Que Deus Morreu” de seu livro Marx – Manual de Instruções, em que parte da influência de Feuerbach sobre Marx e depois expõe a originalidade do materialismo marxista em relação ao das Luzes:

Em A Essência do Cristianismo, Feuerbach não só mostrou que o homem não é a criatura de Deus, e sim seu criador. Não só sustentou que ‘o homem faz a religião, a religião não faz o homem’. Ao fazer da relação social do homem com o homem o princípio fundamental da teoria, fundou o verdadeiro materialismo. Uma vez admitido que esse homem real não é a criatura de um Deus todo-poderoso, resta saber de onde vem a necessidade de inventar uma vida após a vida, de imaginar um Céu livre das misérias terretres. Marx escreveu que ‘a religião é o suspiro da criatura oprimida’ e o ‘ópio do povo’. Como o ópio, ela atordoa e ao mesmo tempo acalma. Portanto, a crítica da religião não pode se contentar, como acontece com o anticlericalismo maçonico e o racionalismo das Luzes, em ser hostil com o clero, com o imame ou com o rabino. Engels critica aqueles que querem ‘transformar as pessoas em ateias por ordem do mufti’ e diz que ‘uma coisa é certa: o único serviço que se pode prestar a Deus, hoje, é declarar que o ateísmo é um artigo de fé obrigatório e sobrevalorizar as leis anticlericais, proibindo a religião em geral.’ Já Marx combate as ilusões de um ateísmo que é apenas uma crítica abstrata e ainda religiosa da religião, que permanece no plano não prático das ideias. (…) A crítica do ateísmo contemplativo e abstrato leva Marx a se distanciar de Feuerbach , que ‘não vê que o próprio sentimento religioso é um produto social’ e que ‘a família terrestre é o segredo da Sagrada Família.’ Em suma, enquanto o ateísmo é apenas a negação abstrata de Deus, o comunismo é sua negação concreta. (BENSAÏD: 2013, p. 23-31)
Que esta última frase sirva de síntese, pois, para nossa hipótese de trabalho aqui exposta: o comunismo como negação concreta de Deus e da explicação mítica e fatalista do “vale das lágrimas”. Em conexão a esta hipósese, também avançaremos a hipótese suplementar (H6) de que há, no Brasil, alguns pensadores conectados ao marxismo e de alta relevância na história intelectual brasileira que deram muitas contribuições a este tema: Álvaro Vieira Pinto, Marilena Chauí e Leandro Konder são três daqueles que mais dedicaram-se aos problemas que pretendemos também abordar.
Como breve exemplo da fecundidade de conectar estes pensadores brasileiros à discussão, citarei a contribuição de Vieira Pinto: fiel às suas raízes na filosofia marxista, ele pretende denunciar um embuste e uma “mistificação”, uma alienação religiosa diretamente conexa a um conformismo ou fatalismo sócio-político. rata-se de questionar o quanto a religião presta serviços à conservação material e concreta da dominação opressora, da humilhaçãodesumanizante, dos sistemas econômicos e políticos que são esmagadores da dignidade humana. Explica porquê as “religiões milenares, orientais e ocidentais esforçam-se em retratar o mundo em que a humanidade se tem desenvolvido utilizando a conhecida imagem do vale das lágrimas”:
Se não convencerem os homens de que, por uma tristíssima fatalidade, têm de passar a existência no mais doloroso sofrimento, submetidos a toda espécie de privações, provações e por fim à morte, deixa de ter sentido seu papel com que se justificam, o de ser o único veículo da ‘salvação’ para nós, desgraçados viventes. (…) Daí a arraigada concepção, convertida em imagem de mundo, de que os homens, como consequência de um castigo original, habitam o mais tenebroso e inóspito lugar do universo, de onde lamentavelmente não conseguirão jamais se evadir, um vale de lágrimas, expressão que os pontífices desta mentirosa e infame simploriedade se empenham em deixar bem claro não se tratar de mero traço de retórica evangélica, mas de uma autêntica, embora cruel e lamentabilíssima, realidade. Esta mistificação (…), esta vulgar, interesseira e estúpida noção, é produto de uma exigida falsificação perpetrada pelas potências dominantes sobre a grande multidão da humanidade. “O ‘vale’ das lágrimas foi talhado por um rio formado pela torrente de lágrimas que as massas trabalhadoras, durante incontáveis milênios de sujeição a senhores, déspotas, sacerdotes, empresários e ricos proprietários, em todos os tempos, verteram dos olhos (…) A ironia do conceito reside em não ter sido cunhado pelos sofredores, mas pelos que habitam as alturas. (VIEIRA PINTO: 1975/2008, p. 21-23-24)
Como defenderemos em mais minúcia, a obra de Marilena Chauí e Leandro Konder também contêm reflexões de muito mérito no âmbito deste problema. Dito disto, finalizamos afirmando nossa convicção de que, contra qualquer tipo de fatalismo, de conformismo, de resignação, o materialismo filosófico possui compromisso prático e emancipatório, perseverança na noção de que mudar o mundo não só é possível como é necessário, criticando a figura humana que cruza os braços, recusa a práxis, limita-se à vida contemplativa, resigna-se ao instituído, limitando-se à paciência absoluta de quem aguarda socorro divino sem nada fazer para melhorar sua situação concreta no âmbito terrestre.
Justifica-se uma pesquisa aprofundada sobre o materialismo filosófico também pelo interesse prático que há em confrontarmos as religiões instituídas e seu poder político, cultural, social, midiático, ainda hoje muito forte. Como filósofos materialistas apontam (D’Holbach antes de Marx, Gramsci e Onfray posteriormente), não existe nenhuma garantia de virtude ética ou excelência política no mero conformismo a uma religião tradicional imposta pelas cúpulas da sociedade. É preciso admitir a possibilidade do ateu virtuoso e do materialismo politicamente libertário como valores que talvez seja recomendável afirmar diante do obscurantismo e do fanatismo, das teocracias e das inquisições.
Com este trabalho, planejamos contribuir com uma re-consideração da história da filosofia, vista também sob uma perspectiva contra-hegemônica, que focará naqueles filósofos que foram considerados dissidentes, heréticos, ímpios, ateus, céticos (ou que foram estigmatizados como tal). Entre as mais importantes obras que estudaremos, destacam-se os 2 volumes de Friedrich Albert Lange (1828-1875), A História do Materialismo e Crítica do seu Valor Para Nossa Época (publicado em 1866 em alemão: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart); a Enciclopédia dos Iluministas, que teve em Diderot e D’Alembert seus principais artífices (lançada no Brasil, em 5 volumes, pela Editora Unesp), além da obra em 9 volumes de Michel Onfray, Contra-História Da Filosofia (5 deles publicados no Brasil pela Martins Fontes).
Durante os 36 meses do doutorado, nosso plano é publicar uma série de artigos (ao menos 2 por ano) que divulgarão os frutos de nossas pesquisas e de nossa interação com colegas, professores e orientador(a). Além disso, desejamos participar da maior quantidade possível de eventos que possam ter relação com nosso objeto de pesquisa (seminários, colóquios, fóruns, debates etc.), de modo a colocar tais ideias em circulação para serem debatidas e dialogadas, dentro e fora da academia, na perspectiva de que a filosofia pode sim ter função pública determinante para a nossa ventura comum.
Julgamos que tal trabalho possa elucidar sobre outros modos de conceber um ideal ético e político que supere as caducas concepções teológicas e obscurantistas que, ainda em nossos dias, teimam em querer submeter a vida humana a autoridades transcendentes, punições e recompensas post mortem, perpetuando as hegemonias das teocracias, do sectarismos, da fanaticidade violenta. Será uma aventura em que não seremos filósofos que se contentam em interpretar o mundo – pois como lembra Marx numa de suas mais célebres Teses Contra Feuerbach, o que importa agora é transformá-lo. Ao sapere aude deve ser somada a ousadia do fazer: o atrever-se a conhecer é imperfeito e limitado sem a coragem de agir em conjunto para mudar o mundo comum.

Monumento a Denis Diderot
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
BENSAÏD, Daniel. Marx – Manual de Instruções. São Paulo: Boitempo, 2013.CHAUÍ, M. O Que É Ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1980.
COMTE-SPONVILLE, André. “O Que É Materialismo?”. In: Uma Educação Filosófica. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001.
CONCHE, Marcel. Orientação Filosófica. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
D’HOLBACH. O Sistema da Natureza – Das leis do mundo físico e do mundo moral. Trad. Regina Schöpke. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
DeWITT, Norman Wentworth. Epicurus and His Philosophy. Cleveland, Ohio: Meridian, 1967.
ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Paris, 1968.
GRAMSCI. Concepção Dialética de História. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
GREENBLATT, S. A Virada – O Nascimento do Mundo Moderno. SP: Cia Das Letras, 2012.
JAEGER, W. Paidéia – A Formação do Homem Grego. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
LA METTRIE. Discours Sur Le Bonheur. Paris: Fayard, 2000.
LAÉRCIO, Diógenes. Vidas de los filósofos ilustres. Madrid: Alianza, 2ª ed, 2011.
LANGE, Friedrich Albert. A História do Materialismo e Crítica do seu Valor Para Nossa Época (Histoire Du Matérialisme et critique de son importance a notre époque). Paris: Schleicher Frères, 1910.
LÊNIN. Matérialism et empiriocriticisme. In: Oeuvres complètes, t. 14, Paris-Moscou, 1962, p. 132.
LUCRÉCIO, Da Natureza das Coisas (De Rerum Natura). In: Pensadores. São Paulo: Abril, 1985. Pg. 21 a 135.
MARX. Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2015.
———–. A Sagrada Família. Trad. Marcelo Backes. São Paulo: Boitempo, 2003.
———–. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo. 4ªed, 2010.
NADLER. Um Livro Forjado No Inferno – O tratado escandoloso de Espinosa e o nascimento da era secular. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
ONFRAY, Michel. Contra-história da filosofia – Volume IV: Os Ultras das Luzes. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
PINTO, Álvaro Vieira. A sociologia dos países subdesenvolvidos: introdução metodológica ou prática metodicamente desenvolvida da ocultação dos fundamentos sociais do “vale das lágrimas”. Rio de Janeiro: Contraponto, 1975/2008.
SPINOZA, B. Tratado Teológico-Político. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
TODOROV, Tzvetan. O Espírito das Luzes (“L’Esprit des Lumières”). São Paulo: Ed. Barcarolla, 2006.
BIBLIOGRAFIA A PESQUISAR
ADORNO; HORKHEIMER. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
CASSIRER, E. The Philosophy of the Enlightenment. New Jersey: Princeton, 1951.
CONDORCET. Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Campinas (SP): Unicamp, 2013.
D’HOLBACH. A moral universal, ou Os deveres do homem fundamentados em sua natureza; Exame dos princípios e dos efeitos da religião cristã; Exame crítico da vida e dos escritos de São Paulo; O contágio sagrado, ou História natural da superstição; O Sistema social; Política natural. Ebooks.
DIDEROT; D’ALAMBERT. Enciclopédia. 5 volumes. São Paulo: Unesp, 2015.
ENGELS, Friedrich. A Dialética da Natureza. São Paulo: Paz e Terra, 6ªed, 2000.
———————–. Anti-Dühring. São Paulo: Paz e Terra, 2ªed, 1979.
FEUERBACH, L. A essência do cristianismo. Petrópolis: Vozes, 2015.
———————–. Preleções sobre a essência da religião. Campinas: Papirus, 1989.
JAQUET, Chantal. A unidade do corpo e da mente – afetos, ações e paixões em Espinosa. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
KÓSIK, K. Dialectics of the Concrete – A Study on Problems of Man and World. Boston: Reidel, 1976.
GUYAU, Jean-Marie. Crítica da idéia de sanção. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
HELVÉTIUS. Do Espírito; Do Homem; A Felicidade; Epístola sobre o prazer. Ebooks.
JANKELEVITCH. Traité Des Vertus: I – Le Sérieux de l’intention; II – Les Vertus et l’amour; III – L’Innocence et la Méchanceté. Paris-Montreal: Bordas, 1972.
LA MÉTTRIE. O Homem Máquina; A Arte de Usufruir; A volúpia; História Natural da Alma; O Anti-Sêneca ou Discurso sobre a Felicidade. Ebooks.
LÚKACS. O Jovem Marx e Outros Escritos de Filosofia. Rio de Janeiro: UFRJ.
————. História e Consciência de Classe. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
MARX; ENGELS. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2015.
MÉSLIER, Jean. Testament. Ebook.
ONFRAY, Michel. Contra-história da filosofia – Volume V: O Eudemonismo Social. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
USENER, Hermann (editor). Epicurea. Cambridge Classics, 2010, 513 pgs.
Eduardo Carli De Moraes
Goiânia – Junho de 2016
 Faz sentido, para o psicanalista, tomar a ética de Espinosa para pensar sobre o ressentimento. Antes de mais nada, porque a lógica do ressentido ignora o sujeito – este que, para a psicanálise, atreve-se a pagar o preço pelo seu desejo e, portanto, a investir em escolhas “desejantes”. A lógica do ressentimento, que bem se adapta à demanda das sociedades capitalistas, concebe o ser humano não como sujeito, e sim como indivíduo – este que não reconhece sua divisão subjetiva. Ocorre que aquele que se pensa como indivíduo (i.e., indivisível, não dividido) precisa forçar-se continuamente a estar de acordo com as determinações do superego – muitas das quais advindas da moral comum. Ele não se deixa reger pelo desejo, mas pelos mandatos e interdições morais, que respondem não ao sujeito desejante, e sim à imagem de perfeição que o indivíduo quer oferecer ao mundo e reconhecer no espelho.
Faz sentido, para o psicanalista, tomar a ética de Espinosa para pensar sobre o ressentimento. Antes de mais nada, porque a lógica do ressentido ignora o sujeito – este que, para a psicanálise, atreve-se a pagar o preço pelo seu desejo e, portanto, a investir em escolhas “desejantes”. A lógica do ressentimento, que bem se adapta à demanda das sociedades capitalistas, concebe o ser humano não como sujeito, e sim como indivíduo – este que não reconhece sua divisão subjetiva. Ocorre que aquele que se pensa como indivíduo (i.e., indivisível, não dividido) precisa forçar-se continuamente a estar de acordo com as determinações do superego – muitas das quais advindas da moral comum. Ele não se deixa reger pelo desejo, mas pelos mandatos e interdições morais, que respondem não ao sujeito desejante, e sim à imagem de perfeição que o indivíduo quer oferecer ao mundo e reconhecer no espelho. Só que, ao deparar com sua infelicidade (ou, no mínimo, com a mediocridade de sua vida), o ressentido há de tentar culpar alguém. Esse é o recurso do ressentido para não ter que avaliar suas escolhas, e depois se arrepender. O arrependimento dói, mas pelo menos revela algum tipo de questionamento. O ressentido, ao contrário, não se arrepende nem se questiona. Ele não suporta a condição (que é de todos nós) de sujeito dividido: que entra em dúvida, que se ilude e se engana, que ignora o desejo que o constitui. Para não ter de deparar com sua divisão subjetiva, o ressentido escolhe um culpado a quem atribuir seu infortúnio. Eis aqui uma característica do ressentimento bem fácil de identificar: a necessidade de eleger culpados a quem acusar quando a barra pesa. Ou quando a vida fica besta. “Eu sofro: alguém deve ser culpado por isso.” Este seria, para Nietzsche, o leitmotiv do ressentimento: procurar um culpado por ter causado suas frustrações.
Só que, ao deparar com sua infelicidade (ou, no mínimo, com a mediocridade de sua vida), o ressentido há de tentar culpar alguém. Esse é o recurso do ressentido para não ter que avaliar suas escolhas, e depois se arrepender. O arrependimento dói, mas pelo menos revela algum tipo de questionamento. O ressentido, ao contrário, não se arrepende nem se questiona. Ele não suporta a condição (que é de todos nós) de sujeito dividido: que entra em dúvida, que se ilude e se engana, que ignora o desejo que o constitui. Para não ter de deparar com sua divisão subjetiva, o ressentido escolhe um culpado a quem atribuir seu infortúnio. Eis aqui uma característica do ressentimento bem fácil de identificar: a necessidade de eleger culpados a quem acusar quando a barra pesa. Ou quando a vida fica besta. “Eu sofro: alguém deve ser culpado por isso.” Este seria, para Nietzsche, o leitmotiv do ressentimento: procurar um culpado por ter causado suas frustrações.