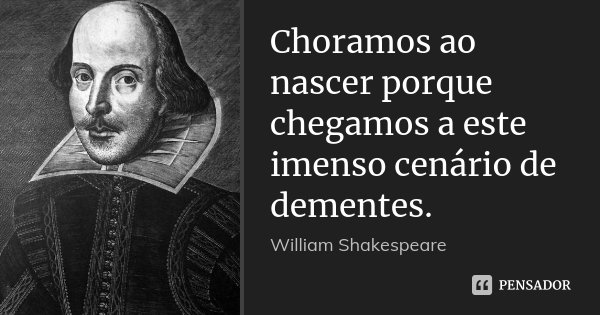Se é preciso ensinar a desobedecer, fazendo das escolas zonas de insubmissão e das universidades células revolucionárias, é pois a História está repleta de provas de que já ensinou-se por tempo demais, e com consequências desastrosas, para a obediência.
A banalidade do mal – que neste artigo defendo ser um conceito de tenebrosa atualidade – é um subproduto da obediência cega, do respeito submisso e acrítico a hierarquias. E a prole desta banalidade da malévola norma – submeter-se ao opressor, fazer-se dele cúmplice… – são atrocidades em série, da caça às bruxas aos holocaustos (humanos e animais).
Chega de ensinar a obedecer! Agora é tempo de ensinar a transgredir, como ensina Bell Hooks. As mulheres o sabem melhor do que ninguém: sempre se martelou em suas orelhas que a obediência é o primeiro e principal dever de uma boa esposa (“bela, recatada e do lar”). A obediência foi, através da longa e triste história da dominação masculina, celebrada pelo Patriarcado como virtude feminina por excelência – e, como escreve Silvia Federici, era forçada na marra “pela Igreja, pela lei, pela opinião pública, e sobretudo pelos castigos cruéis que foram inventados como o scold’s bridle, também conhecido como branks, um instrumento sádico feito de metal e couro que iria rasgar a língua de uma mulher que tentasse falar.” [1]
A sociedade patriarcal assim mandava uma mensagem a todas as mulheres: sejam obedientes e subservientes, caso contrário serão torturadas e exterminadas. Calem-se quando nós homens exigirmos que se calem, caso contrário suas belas línguas serão destroçadas pelas lâminas de nossas invenções torturantes. Eis um dos emblemas históricos mais impressionantes de uma pedagogia da subserviência, de um ensino da obediência, que a Pedagogia do Oprimido proposta por Paulo Freire tem como uma de suas missões históricas confrontar-pra-superar:

A branked scold in New England, from an 1885 lithograph – Wikipedia
Precisamos da disseminação de uma educação que se insurja contra a cultura do silenciamento (muito bem analisada no artigo do Prof. Venâncio Lima). A cultura do silêncio se manifesta também na escola quando se institui em dogma a cisão entre professor que fala e aluno que cala. Por isso acredito que seja preciso recolocar a ênfase da educação na expressão: a escola que ensina o estudante a se expressar melhor pois lhe dá as armas para a compreensão de si mesmo no mundo.
Ler o mundo e expressar-se tornam-se processos simultâneos de auto-transcendência vitalícia: você ajuda o estudante, assim, a parir em si a figura do “o eterno aprendiz” de Gonzaguinha, que aprende sempre… enquanto dura sua vida limitada no espaço e no tempo. Uma educação que dissemine mordaças só presta um desserviço a um mundo, ainda a criar, onde todos tenham vez e voz.
Na prática, isto significa que a educação tem que aproximar-se cada vez mais das artes, a educação como um todo necessita de um devir-estético, no sentido de revalorizar tudo o que podemos aprender e ensinar através do corpo e da sensorialidade.
Uma avaliação deve se esquivar ao máximo daquele modelo de prova que exige do aluno que apenas vomite uma decoreba, ou seja, não pode avaliar a capacidade de uma mente em armazenar informações que ali foram depositadas. Uma avaliação deve focar na qualidade da expansão da potencialidade expressiva do aprendiz. Pois ensinar é empoderar o outro para que aprenda melhor, e aprende-se melhor quando se expressa, para os outros, as perspectivas próprias que necessitam de correção pra que atinjam melhor grau de autenticidade e lucidez.
A autonomia construída sobre os escombros do servilismo é o que norteia o caminhar do educador que se filia à Pedagogia do Oprimido:
“Dizer a palavra não é um ato verdadeiro se isso não está ao mesmo tempo associado ao direito de auto expressão e de expressão do mundo, de criar e recriar, de decidir e escolher e, finalmente, participar do processo histórico da sociedade. Na cultura do silêncio as massas são ‘mudas’, isto é, elas são proibidas de criativamente tomar parte na transformação da sociedade e, portanto, proibidas de ser”. [2]
Proibidas de ser, por exemplo, foram todas as mulheres silenciadas, torturadas, aniquiladas, incineradas através da História pela acusação de bruxaria ou feitiçaria. Os inéditos viáveis de que fala Freire são inviáveis de se construir coletivamente em uma cultura do silenciamento e do morticínio dos que falam em divergência e em protesto. É inviável qualquer co-criação de um mundo melhor que empodere machos tóxicos, misóginos fanáticos, fãs da tortura de novas bruxas, sádicos propugnadores de paus-de-arara para comunistas estigmatizados como diabólicos.
É devido à injustiça histórica que se perpetua de uma distribuição diferencial do direito à fala que é preciso defender hoje o fim do silenciamento, a ampliação dos “lugares de fala” como se dá nos slams ou na inclusão educacional de grupos historicamente marginalizados: que falem os que foram calados! Que gritem os que foram amordaçados! Entreguemos já os gramofones às bruxas, e deixemos os gays, as lésbicas, as pessoas trans apossarem-se dos mics e amplificadores! Que estejam mais livres para espalharem seus corpos vivos e dançantes em praça pública, e para nos dizerem o que pensam sobre o viver, o conviver, e como devemos melhor urdir nossos vínculos.
A pintura de Rodolfo Morales, um dos grandes pintores mexicanos do século XX, ajuda-nos a ir trazando el camino (título da obra reproduzida acima). Aparentemente apolítica, a imagem pode ser interpretada como emblema do poderio feminino em uma sociedade matriarcal e matricial: onde mulheres são vistas como matrizes e não como meretrizes, onde “o corpo feminino é a fábrica social e material que mantêm a comunidade coesa e unida” (“the female body as the material and social fabric holding the community together” – Federici). [3]
Tanto Freire quanto Federici enxergam um caminho para outro mundo possível nos movimentos libertários campesinos, a exemplo dos zapatistas mexicanos ou do MST brasileiro, em que o modus operandi banal do capitalismo neoliberal atual é contestado em seu âmago patriarcal, sexista, racista, especista e latifundialista. Freire clamará por um Brasil inundado por marchas dos sem-terra exigindo reforma agrária enquanto Federici não cessará de incensar as forças sociais que defendem o commons contra os enclosures através d’um grassroots activism.

Rodolfo Morales, “Tus Brazos Son Mi Fuerza” (1997) – Artsy
Se é preciso educar para a desobediência e para a transgressão é pois os opressores não merecem mais ser obedecidos, não merecem nossa submissão, nunca devem contar com a dormência de nosso senso de indignação e rebelião, que deve permanecer alerta e ativo sempre – pois este é o preço da cidadania, ou seja, de um estilo de vida ativo (e não meramente reativo). Quem vive age, pois quem só padece chafurda numa meia-vida. Desobedecer aos tiranos significa também insurgir-se contra os dogmas e preconceitos que os tiranos enfiam a fórceps na cabeça dos que desejam ver submetidos – nós, no caso, todos vítimas, em certa medida, de um aparato educacional silenciador, alterofóbico, opressivo.
A palavra infante, o que não fala, indica bem o quanto um poder que recusa a fala acaba por reinar sobre súditos infantilizados – o que é conveniente, mas nada tem a ver com o avanço da humanidade rumo a um grau superior de maturidade só encontrável na coragem da verdade, na parresía à qual Foucault dedica sua belíssima obra final. Uma vida não é plenamente humana se reduzida ao infantilismo de infantes papagaios, que só vomitam os dogmas e os slogans que os poderosos opressores lhes ordenaram que decorassem. Uma vida humana é plena quando se insurge contra a injustiça multiforme que assola a terra e fala, com a língua em chamas, mordendo com os caninos todas as mordaças. Como as mulheres audazes que ostentam seus seios sob o sol ardente da primavera exigindo seu direito à voz e ao corpo, às vezes lançando aos caçadores de bruxas da atualidade a pontiaguda provocação: “somos as netas de todas as bruxas que vocês não conseguiram queimar.” E vocês não vão nos calar!
A arte precisa ser aliada da educação, e é precioso que assim o seja, pois na arte nos são apresentadas situações concretas e vivências singulares que nos comovem mais do que as abstrações descarnadas. E poucas obras de arte nas últimas décadas expressam melhor nosso tempo do que a distopia formulada por Margaret Atwood, originalmente um romance publicado em 1984 (The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia), transformado em uma das séries mais importantes da dramaturgia contemporânea, já em sua terceira temporada, e que em 2019 teve publicado o livro que lhe dá sequência, The Testaments – Os Testamentos.
No que outrora foi os Estados Unidos da América, agora está o país Gilead, no qual a elite da sociedade é composta por fundamentalistas religiosos que instalam uma ditadura teocrática de teor puritano e de firme comando patriarcal.
Emblemas da dominação masculina abundam nas narrativas tecidas com muita habilidade pela escritora canadense, como aquele bela cena em que a adolescente Agnes descreve suas experiências escolares. A escola, em Gilead, é um espaço de doutrinação religiosa onde está explicitamente vigente uma cultura do silêncio e uma pedagogia da submissão e da obediência.
Os jovens de Gilead que são sortudos o bastante para terem acesso à escola – um privilégio ao qual a casta, explorada e escarrada, das Marthas não deve sonhar em conquistar – são ensinados que abençoados são os dóceis e os mansos, pois deles é a república de Gilead e também o Reino dos Céus. Abençoados são os que se calam, pois em seu silêncio ouviram a voz do Senhor.
A distopia descrita por Atwood inspira-se no puritanismo do passado, projetado num futuro de grave crise sócio-ambiental, em que a Humanidade em colapso vê os corpos das mulheres estadunidenses em brutal queda da fertilidade. Este cenário de despovoamento serve de contexto para o pesadelo sci-fi, com muitas similaridades de enredo e de vibe com Children of Men – Filhos da Esperança, um dos grandes filmes da história da science fiction na sétima arte.
Mas voltemos à pequena Agnes, de pai desconhecido e que tampouco conheceu sua mãe de sangue, a Agnes que foi criada por uma família de elite, em um casarão repleto de Marthas bem serviçais e de Aias bem estupráveis, a “família tradicional Gilediana” que busca re-povoar a terra, e fazê-la só com cristãos puro-sangue, abstinentes, puritanos e dóceis como ovelhas ao comando do Senhor dos céus e seus capatazes terrenos.
O que mais Agnes aprende na escola? Aprende a temer. A se calar. A aceitar os ditames dos mais velhos. A engolir os mitos – e as morais-da-história a serem extraídas deles – sem crítica nem ceticismo. Um aparato educacional assim está destinado ao controle dos corpos femininos para transformá-las em uma maquinaria de moer gente para extrair “capital humano”. Aliás, conceito forjado por um neoliberal ferrenho, Mr. Gary Becker, que talvez aplaudisse o sistema de Gilead tanto quanto outros neoliberais aplaudiram a Ditadura de Pinochet no Chile.
Afinal, a sociedade de Gilead, em tempos de crise, consegue através de seu sistema de aias gerar o capital humano indispensável para as atividades econômicas da república teocrática cujos Comandantes são obviamente pintudos, metidos a machos-alfa, e delirantemente convencidos de que tem uma linha direta com Deus, e um mandato divino que lhes dá direitos de plena dominação.
“Aconteceu algo muito perturbador na escola”, relembra a jovem Agnes no capítulo 14 de Os Testamentos. “Estou relatando isso aqui não porque quero ser macabra, mas porque me deixou muito impressionada, e pode ajudar a explica por que certas pessoas naquele tempo e lugar agiam como agíamos. Aconteceu na aula de Religião, ministrada pela Tia Vidala… Ela nos mandou levar nossas carteiras para a frente e deixá-las bem próximas uma das outras. Aí ela disse que já tínhamos idade para ouvir uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia – importante porque era uma mensagem de Deus especialmente para meninas e mulheres, então que prestássemos bastante atenção. Era a história da Concubina Cortada em Doze Pedaços.
A concubina de um homem – uma espécie de Aia – fugiu de seu dono, voltando para a casa do pai. Foi uma grande desobediência da parte dela. O homem foi buscá-la, e, sendo do tipo bondoso e compassivo, pediu apenas para tê-la de volta. O pai, conhecendo as regras, disse sim – pois estava muito decepcionado com a desobediência da filha – e os dois homens cearam juntos para celebrar seu compromisso. Mas por causa disso, o homem e sua concubina tardaram em partir dali, e quando escureceu, eles se refugiaram em uma cidade onde o homem não conhecia ninguém. No entanto, um cidadão generoso disse que eles podiam passar a noite na casa dele.
Mas outros cidadãos, repletos de impulsos impuros, vieram a casa e exigiram que o viajante fosse entregue a eles. Queriam fazer coisas pecaminosas com ele. Coisas pecaminosas e depravadas. Mas fazer isso entre homens seria particularmente pecaminoso, de forma que o homem generoso e o viajante colocaram a concubina fora de casa em vez dele.
– Bem que ela mereceu, não foi? – disse Tia Vidala. – Ela não devia ter fugido. Pensem só no sofrimento que causou aos outros!
Mas quando amanheceu, disse a Tia Vidala, o viajante abriu a porta e a concubina estava deitada na soleira… estava morta. Os homens ímpios tinham matado ela.
– Quando muitos homens cometem luxúria com uma mulher de uma vez só, ela morre – disse Tia Vidala. – Com essa história, Deus quer nos dizer que devemos nos contentar com nosso destino e não nos rebelar contra ele.
A mulher deveria honrar o homem que tem direito sobre ela, ela acrescentou. Se não, esse era o resultado. Deus sempre dava o castigo adequado ao crime.” [4]
Neste trecho, vemos a atroz utilização de uma narrativa com fins pedagógicos de gerar medo e submissão nas mulheres. A violência sexual dos machos, que cometem um estupro grupal seguido por feminicídio, em nenhum momento é denunciada ou lamentada pela “Tia”-professora. A casta das Aias – escravas sexuais utilizadas como corpos reprodutores a terem sua prole roubada pelos Comandantes e suas Esposas Inférteis – simboliza a exploração em massa e não-remunerada do trabalho feminino reprodutivo em Gilead. Com sua sexualidade sob estrito controle, as Aias são máquinas de produzir filhos, despidas de direitos elementares de auto-determinação, cujo destino é tão miserável quanto a casta das Marthas, as serviçais supremas que fazem todos os trabalhos domésticos neste novo apartheid e sua new slavery.
Já as Tias de Atwood, guardiãs desse sistema de brutalidade machocentrada, são as inoculadoras da ideologia tóxica, as mercadoras de ilusões religiosas e as chefonas da repressão contra a rebeldia – devidamente secundadas pelos “Anjos”, ou seja, os militares, ou seja, caras com pinto a quem foram dadas armas e ordens para obedecer ao patrão, mesmo quando ele ordena o aprisionamento em massa ou o extermínio de toda uma coletividade.
As Tias de Atwood, aliás, tem tudo a ver com a ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, pastora evangélica responsável pelo Ministério da Família e dos Direitos Humanos: Tia Damares poderia ser uma personagem de O Conto da Aia Brasil (ainda por filmar!). Para além das piadas que ela nos fornece por ser tão tacanha em sua defesa da “família tradicional brasileira” e dos binômios de gênero, Damares é um sério sintoma de algo lamentável: mulheres de mentalidade sectária e intolerante, que prestam um desserviço ao feminismo, aliando-se ao Patriarcado e à Teocracia para oprimir corpos e mentes de mulheres ao invés de colaborar no sentido de libertá-las. São mulheres que aniquilam a sororidade, que são cúmplices de um sistema de castas e que são também elas instrumentos nas mãos perversas de uma dominação masculina que elas ajudam a perpetuar.
Aos que querem uma educação serva da religião é preciso que todos nós, educadores comprometidos com a laicidade, com a lucidez e com a busca irrefreável da verdade, precisamos nos levantar para dizer não, não queremos uma escola-catecismo, que faça proselitismo de seita, mesmo que seja de uma seita de milhões. Uma escola que utiliza a mitologia como instrumento para aterrorizar as pessoas, sobretudo as mulheres e as minorias sexuais, está precipitando o futuro da aventura humana no abismo. Não precisamos de uma escola que apavore para reinar sobre trêmulos e subservientes ovelinhas, temerosas até de respirar.
As escolas devem sim ensinar sobre a história da desobediência civil e das insurgências feministas – muito além de movimentos como os das sufragettes inglesas, é preciso mostrar exemplos atuais de mulheres belamente insubmissas, a exemplo de Vandana Shiva, Arundhati Roy ou Naomi Klein, a exemplo de Marielle Franco, Sonia Guajajara ou Eliane Brum, mulheres que iluminam caminhos de resistência, resiliência e transformação cooperativa do mundo. Permaneceremos estacionários, quando não regredindo, enquanto a lunática seita de terraplanistas criacionistas puritanos puder reinar sobre mentes e exercer controle sobre corpos, em nome de um deus manufaturado por machos-alfa com muita testosterona no cérebro.
Que a educação possa contribuir para o colapso final da fantasia tóxica de um Deus pintudo que deseja da mulher apenas a docilidade subserviente da escrava sexual que sempre diz “sim” ao seu senhor. As aias de Atwood, que não são apenas vítimas, que se tornam heroínas quando cruzam a fronteira entre Gilead e o Canadá, são também aquelas que anunciam a insurreição contra a ditadura militar-teocrática: vocês tentaram uniformizá-las e controlá-las, mas elas são potencialmente um exército revolucionário que virá derrubar o reinado já demasiado durável da masculinidade tóxica. Elas são o ponto zero da revolução, e a religião frequentemente a trava reacionária que estaciona a sociedade em velhas tiranias de opressão.
Por isso, defendo que religião se discute, sim: por que ela deveria escapar ao nosso escrutínio crítico? Religião se discute sim, pois aspira a meter o nariz de seu bedelho nas relações sociais, influenciando comportamentos e muitas vezes fornecendo o contexto emocional e as convicções íntimas que são motivos de crimes e holocaustos.
É preciso que a escola não só ensine sobre a diversidade das religiões, ou melhor, sobre a variabilidade e variedade da experiência religiosa humana como fez William James. É preciso também que a escola seja um espaço onde pensamentos e reflexões ateus, agnósticos, céticos, anti-eclesiásticos, anarquistas, também tenham seu lugar e seu direito de se manifestar – a exemplo do horror que manifesta Lucrécio, o genial poeta-filósofo epicurista da Roma do século I a.C., diante do sacrifício de Ifigênia, um dos grandes horrores acarretados pela superstição religiosa já relatados em um mito de alta repercussão histórica.
Ensinar para a obediência e a servidão nunca serviu para nada além de nos dividir e nos manter atolados sob o jugo de seculares opressões. Educar para que os indivíduos possam desobedecer a todo e qualquer status quo que perpetue opressões e imponha dominações injustas é parte do caminho incontornável rumo ao inédito viável d’um mundo menos opressivo e insano.
Eduardo Carli de Moraes – 04/02/2020
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] FEDERICI, Silvia. Witches, Witch-Hunting and Women. Pg. 39.
[2] FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade, 1970. Citado a partir de artigo de Venício Lima em Carta Maior.
[3] Federici, op cit, p. 24.
[4] ATWOOD, Margaret. Os Testamentos. Pg. 89-90.
EPÍLOGO
“A Colonização Foi um Estupro”
Por Luiza Romão no Slam da Guilhermina
LEITURA SUGERIDA: