
No livro Clara dos Anjos, redigido entre Dezembro de 1921 e Janeiro de 1922, poucos meses antes de sua morte, Lima Barreto (1881 – 1922) despeja uma mordaz torrente de denúncias e críticas sobre o vilão de sua novela, Cassi Jones. Este branquelo dos subúrbios, violeiro de pouco talento musical mas capaz de usar canções mela cueca como arma de sedução para satisfazer seus ímpetos libidinosos, é descrito pelo autor com uma boa dose de indignação.
Nesta obra publicada postumamente, em que Barreto expande a narrativa que aparecia de forma condensada em um de seus contos, o autor chuta pra escanteio qualquer noção de “narrador imparcial” e aborda, com sua pena satírica e visionária, as intersecções entre raça, gênero e classe que explicam as desventuras e atropelos de seus personagens.

Cassi representa a delinquência masculina que faz das mulheres suas vítimas em série. É o macho abusador que evoca, num cenário pós-abolicionista, todos os falos de escravocratas que estupraram, através da história do Brasil-colônia, milhares de mulheres tratadas como sub-humanas devido à cor de sua pele, sua descendência africana ou sua posição social enquanto desvalidas de capital: Cassi “catava com cuidado as vítimas entre as pobres raparigas que pouco ou nenhum mal lhe poderiam fazer, não só no que toca às autoridades, como da dos pais e responsáveis.” (BARRETO, p. 854)
Apesar de seu nome, que pode vir a sugerir uma brancura angelical, Clara dos Anjos, a filha do carteiro Joaquim (também um flautista amador) e da dona-de-casa Engrácia, é uma mestiça afrobrasileira duns 17 anos de idade. A ingenuidade a define melhor que qualquer outra característica, e por isso ela é vista como uma presa possível para Cassi, esta versão anos 1920 do predador sexual colonial. Clara pertence ao grupo destas pobres raparigas que o Mr. Cassi Jones enxerga, através de seu viés de macho tóxico, como pertencente àquela classe de mulheres que são abusáveis com certo grau de impunidade garantida.
Apesar de integrar a classe média baixa e também habitar nos subúrbios do Rio de Janeiro, Cassi encarna a arrogância daqueles que, apesar de também serem pobres, acham-se superiores à maioria da população, desprezada por sua pele de cor “azeitonada” e pelos escassos recursos financeiros. Em Triste Visionário, Lília Schwarcz revelou em minúcias o quanto Lima Barreto soube ser o cronista genial “das continuidades da escravidão que se reinventavam na República” (SCHWARZ, p. 413). O malfadado romance entre Clara dos Anjos e Cassi Jones serve como emblema de um Rio de Janeiro que aparece, aos olhos do autor, como metrópole fraturada pela exclusão social inextricável de um racismo estrutural que a Lei Áurea não soube abolir:


“O Rio de Janeiro, que tem, na fronte, na parte anterior, um tão lindo diadema de montanhas e árvores, não consegue fazê-lo coroa a cingi-lo todo em roda. A parte posterior, como se vê, não chega a ser um neobarbante que prenda dignamente o diadema que lhe cinge a testa olímpica…” [3] (BARRETO, p. 790)
A tal da “Cidade Maravilhosa” do cartão postal, quando atentamos para suas periferias, é repleta dos horrores da opressão e da injustiça – e o destino de Clara dos Anjos o revela bem. Lima Barreto descreve Cassi como um pérfido vilão, sem sombra de empatia ou de escrúpulos morais, capaz de desgraçar a vida de muitas mulheres casadas e adolescentes ingênuas. Sua vilania, que passa por sacanagens e falcatruas menores (como tentar comprar versos propinando o poeta Leonardo Flores), culmina com o assassinato que Cassi e seu cúmplice perpetram contra Marramaque, padrinho de Clara, que servia como obstáculo aos intentos de sedução de Cassi.


Ilustração por Eduardo Schlosser
Em uma das cenas mais notáveis do livro, no capítulo 9, Cassi reencontra-se com sua primeira vítima: Inês, enfurecida, parte para cima de seu abusador canalha e se apresenta como “aquela crioulinha que sua mãe criou”; em um passado distante que ele quis apagar de sua memória, Cassi fazia “festa” com a criada escurinha da casa, e depois obviamente não quis assumir a responsabilidade pela criança fruto destas libidinagens. “É sempre assim”, grita-lhe Inês, “esses nhonhôs gostosos desgraçam a gente, deixam a gente com o filho e vão-se. A mulher que se fomente… Malvados!” (p. 841)
De certo modo, Lima Barreto opera com uma caracterização das personagens principais que as separa entre algozes e vítimas. Porém, não se baseia num maniqueísmo enraizado em crenças religiosas, mas numa espécie de radiografia das opressões, que acaba por desvelar a jovem mulher negra como vítima-mor da sociedade. Cassi, agarrado aos restritos privilégios que possui na sociedade por ter pele clara e supostamente descender de um avô que foi um lorde inglês, é explicitamente descrito como um crápula. Cassi é capaz das piores perfídias e o autor não empresta nenhum glamour à sua malandragem delinquente. Já Clara dos Anjos, em sua posição de vítima, tem sua condição profundamente lamentada por Lima Barreto, a ponto de Lilía Schwarcz afirmar, segundo a Revista Cult: “Clara era o alter ego feminino de Lima Barreto: a menina dos subúrbios que sofre o que ele sabia que sofreria se fosse mulher”.
A moça, sem instrução, entregue a sonhos lânguidos de amor, perdida nas representações imaginária do príncipe encantador que viria com suas modinhas adocicadas entoadas ao violão para ensiná-la sobre o amor, Clara dos Anjos é vítima, a seu modo, da segregação escolar. Em vários momentos do livro, Lima Barreto enfatiza que Clara teria sido lamentavelmente prejudicada por uma educação falha.
Hoje, poderíamos lamentar, de modo um tanto anacrônico, o fato de Clara dos Anjos não teve acesso aos debates realizados no âmbito do feminismo negro, que a teriam capacitado a estar muito mais lúcida e alerta diante das tendências abusivas e opressoras do macho-branco-cis que goza de certas prerrogativas em uma sociedade machista, racista e homofóbica. Clara dos Anjos, caso tivesse sido educada para discernir a masculinidade tóxica e a cultura do estupro em ação na figura de Cassi, poderia ter tido a sabedoria elementar de dar um pé na bunda do calhorda e fechar-lhe as portas e as pernas.

Ilustração por Eduardo Schlosser
A crônica da infelicidade que desgraça Clara dos Anjos é perpassada pelo poder dúbio da música e da poesia, é claro, mas também tem conexão com uma educação familiar “protecionista” que não a capacitou para desenvolver senso crítico que de fato a protegesse do predador sexual que era Cassi. Por um lado, ela é seduzida pelos dons musicais do moço, conquistada pelo violeiro e suas baladas melosas, sem que ela tenha capacidade de enxergar nele o farsante que, muito longe de ser um artista autêntico, utiliza-se da música como um meio para conquistar seus fins de tarado impenitente.
No capítulo 8, Lima Barreto aventura-se em uma espécie de crítica da família nuclear constituída por Clara e seus pais (Joaquim e Engrácia), em um dos trechos de maior atualidade do livro, pois demonstra a falácia perigosa daqueles que se insurgem contra a discussão de gênero, raça e classe, enquanto eixos de estruturação das opressões nas sociedades segregadas e injustas que seguem sendo as nossas, em prol de uma suposta “superioridade” de um ensino devotado aos valores antigos (Deus, Patriarcado, Propriedade) da “família tradicional brasileira”:

“Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e fixassem. Seus pais não seriam capazes disso. A mão não tinha caráter, no bom sentido, para o fazer; limita-se a vigiá-la caninamente; e o pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do tempo longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de modinhas e descantes, entoadas por sestrosos cantores, como o tal Cassi e outros exploradores da morbidez do violão… Na sua cabeça, não entrava que a nossa vida tem muito de sério, de responsabilidade, qualquer que seja a nossa condição e o nosso sexo.
Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da Morte, para poder responder cabalmente, se tivermos que o fazer, sobre o emprego que demos a nossa existência. Não havia, em Clara, a representação, já não exata, mas aproximada, de sua individualidade social; e, concomitantemente, nenhum desejo de elevar-se, de reagir contra essa representação. A filha do carteiro, sem ser leviana, era, entretanto, de um poder reduzido de pensar, que não lhe permitia meditar um instante sobre o seu destino, observar os fatos e tirar ilações e conclusões.
A idade, o sexo e a falsa educação que recebera tinham muita culpa nisso tudo; mas a sua falta de individualidade não corrigia a sua obliquada visão da vida. Para ela, a oposição que, em casa, se fazia a Cassi, era sem base… Seu pai – pensava ela – estava bem empregado, relacionado, respeitado; ele, portanto, não seria tão tolo, que fosse desrespeitar uma família honesta, que tinha por chefe tal homem. De resto, esses rapazes não são culpados do que fazem; as moças são muito oferecidas…
Com raciocínios desse jaez e semelhantes, Clara, na ingenuidade de dua idade e com as pretensões que a sua falta de contato com o mundo e capacidade mental de observara e comparar justificavam, concluía que Cassi era um rapaz digno e podia bem amá-la sinceramente.” (p. 810)
Assim como Clara teve uma educação que não lhe fortaleceu o senso crítico e que a fez naturalizar o discurso patriarcal dominante – ela chega a culpar as vítimas, dizendo que as moças são “muito oferecidas” e que os machos abusadores e estupradores não tem culpa… -, também Cassi é descrito como alguém com “instrução mais que rudimentar”. Em trechos muito surpreendentes do capítulo 6, Lima Barreto revela sua faceta de moralista e rasga o verbo contra seu vilão, Cassi Jones, descrito como uma pessoa de “estupidez congênita” e “perversidade inata” – trata-se de atitude bastante estranha em um autor que fazia muitas críticas “a modelos de determinismo racial, hereditários e biológicos”, que Lilia Schwarcz explica assim:

“Ainda que desacreditasse tais teorias, não se furtou a utilizá-las na construção da figura de seu vilão, que carregava ‘taras inatas’. Ele podia estar jogando com o senso comum da época ou projetando-o para delinear o seu personagem. De toda forma, os termos evidenciam como a linguagem da biologia era ainda forte naquele momento. Mas não era só o tema da raça, expresso nas cores sociais, que aparecia no romance de modo intencional. Foi nessa trama que o escritor investiu de forma mais direta na denúncia aos maus-tratos das mulheres pobres.” (p. 413)
Cassi, um cara inculto e que nunca lia os jornais, embevecia-se com alguns versinhos líricos que lhe caíam em mãos e ele musicava, concluindo deles “que tinha o direito de fazer o que fazia porque os poetas proclamam o dever de amar e dão ao Amor todos os direitos, e estava acima de tudo a Paixão. Vê-se bem que ele não sentia nada do que, poetas medíocres que o guiavam nas suas torpezas, falavam; (…) percebia-se perfeitamente que nele não havia Amor de nenhuma natureza e em nenhum grau. Era concupiscência aliada à sórdida economia, com uma falta de senso moral digna de um criminoso nato – o que havia nele.
 O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semiloucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassi, nunca se dava isso. Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações…” (p. 779)
O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semiloucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassi, nunca se dava isso. Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações…” (p. 779)

Ilustração por Eduardo Schlosser
O romance progride como uma espécie de tragédia anunciada, mas que se mostra inevitável dado o tabuleiro deste jogo: Clara não tinha recursos afetivos nem formação educacional para resistir à lábia do violeiro luxuriante, ainda que soubesse do vasto currículo de predador sexual de Cassi, engravidador de mulheres abandonadas e causador indireto de suicídios e divórcios.
Com sua reputação já muito desgraçada no Rio de Janeiro, Cassi abandona a capital federal poucos dias depois de ter tido acesso aos prazeres carnais no leito de Clara dos Anjos, deixando-a para trás como um trapo usado, lançando Clara – com um filho em gestação em seu ventre – no seu vasto lixão de mulheres abusadas e largadas. Cassi trata Clara com a sem-cerimônia de quem atirasse uma pessoa à lixeira como se ela não passasse de um preservativo cheio de porra. Tudo culmina com a percepção da moça, desgraçada pelo abandono de seu abusador: “Nós não somos nada nesta vida.”

Lima Barreto, um século após sua morte, está presente no cenário da literatura brasileira do século XXI como um mestre que enfim merece as atenções que sua obra magistral merece: homenageado pela FLIP (Festa Literária de Paraty) em 2017, estudado com maestria por sua biógrafa Lilia Schwarz, tem sua negritude reafirmada contra os intentos de embranquecimento do cânone que, para além da farsa do Jesus branco e de olhos azuis, também tentam fabricar a representação fake de Machado de Assis ou Gonçalves Dias como se fossem arianos e não mestiços. Lima Barreto, neste contexto, é uma encarnação das contradições do próprio Brasil, um “triste visionário” que denunciou o racismo, o sexismo e o classismo através de uma obra multifacetada e ainda atualíssima. Como escreve Helô D’Ângelo:
“Pele cor de azeitona escura”, como ele mesmo se definia, Barreto sentiu na pele as consequências de ousar ser um homem negro ocupando um espaço completamente dominado por brancos – e via com desconfiança a própria Lei Áurea e a noção de “liberdade” que ela trazia: “Liberdade era uma palavra que eu desconfiava e não confiava”, ele registrou em um diário da época.
Como uma resposta à discriminação racial e à exclusão social sofrida dia após dia, Barreto escrevia sobre estes assuntos de forma dura em uma época em que ninguém estava disposto a falar ou ler sobre isso. A intenção do autor, segundo Schwarcz, era de fato incomodar: ‘Ele achava que os negros só poderiam ser socialmente integrados através da luta e do constante incômodo. Por isso, denunciava que a escravidão não acabou com a abolição, mas ficou enraizada nos menores costumes mais simples’. Para chegar à dose perfeita de incômodo, Barreto fazia uma literatura do “Rio de Janeiro alargado”: não falava apenas do centro da cidade, mas principalmente dos subúrbios e de seus habitantes; descrevia detalhadamente as estações de trem e os transeuntes, as ruas e os bares, os costumes e as tradições populares, as violências e opressões, deixando a burguesia branca de lado.” (D’ÂNGELO, 2017)
Clara dos Anjos, além de denunciar os maus tratos contra as mulheres negras que são naturalizados em uma cultura onde reina a branquitude falocrática, é também um útil instrumento de educação das massas sobre as fantásticas e ideológicas noções de “democracia racial” e de uma “miscigenação” que teria sido festiva e consensual – na verdade, nunca houve democracia racial mas sim apartheid tropical e a nossa miscigenação esconde estupros e abusos em massas perpetrados por machos tóxicos de mentalidade racista-colonialista.
Fazendo, através de Cassi, uma espécie de radiografia do predador social, revela que não necessariamente o lócus da opressão são os palácios da classe dominante ou as mansões dos burgueses, mas um pobre-diabo da classe média baixa pode, em sua arrogância estúpida, tornar-se um opressor racista, sexista e classista no trato com aqueles com quem, se fosse dotado de empatia e solidariedade, deveria unir seu destino em teias mais amoráveis e colaborativas. Mas Cassi só sabe agir como predador e explorador – ninguém lhe ensinou melhor.
Em seu retrato dos subúrbios do Rio, que descreve como “refúgio dos infelizes”, Lima Barreto não poupa na ironia para descrever também nossa lendária capacidade para o sincretismo religioso, como ilustra um brilhante trecho em que descreve a chegada da seita protestante do norte-americano, Mr. Quick Shays, ao bairro onde moram Clara, Cassi e os demais personagens da trama:
“É próprio do nosso pequeno povo fazer uma extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte, e socorrer-se desta ou daquela, conforme os transes e as momentâneas agruras de sua existência. Se se trata de afastar atrasos de vida, apela para a feitiçaria; se se trata de curar uma moléstia tenaz e renitente, procura o espírita; mas não falem à nossa gente humilde em deixar de batizar o filho pelo sacerdote católico, porque não há, dentre ela, quem não se zangue: ‘Está doido! Meu filho ficar pagão! Deus me defenda!'” (pg. 719)
Lima Barreto, mestre da ironia, tem um olhar que corrói qualquer ingenuidade romântica (no sentido comum do termo) com o ácido cáustico de seu sarcasmo, desvelando uma realidade complexa, em que as teias da sociabilidade estão todas atravessadas por antagonismos e exclusões que ele viveu, como milhões, na pele – mas que expressou, como poucos, na ímpar e inimitável singularidade de seu gênio literário.

Eduardo Carli de Moraes
Goiânia, Janeiro de 2020
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARRETO, Lima. Obra Reunida – Volume 1. Ed. Nova Fronteira, 2018.
D’ÂNGELO, Helô. Lima Barreto e o racismo do nosso tempo. Revista Cult, Maio de 2017.
SCHWARZ, Lilia. Lima Barreto – Triste Visionário. Cia das Letras, 2017.
LEIA TAMBÉM:
- Lima Barreto e a cultura nacional, por Berthold Zilly
- Representações do negro em Clara dos Anjos, dissertação de mestrado de Ana Gabriela Ferreira
SIGA VIAGEM – VÍDEOS RECOMENDADOS:

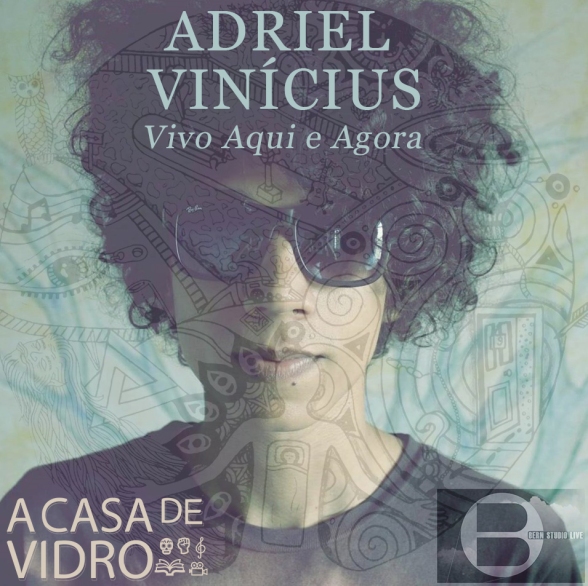











































 A discrepância entre os desfechos de filme e de livro, neste caso, me parece grave. Algo semelhante ocorreu quando John Ford, mestre do western, adaptou para a telona
A discrepância entre os desfechos de filme e de livro, neste caso, me parece grave. Algo semelhante ocorreu quando John Ford, mestre do western, adaptou para a telona 















 O amor autêntico, afinal, não é apenas um vínculo inter-subjetivo, uma relação entre mentes, uma relação intelectualista entre criaturas gostam da idéia que tem um do outro, mas inclui de maneira necessária a dimensão inter-corporal, libidinal, voluptuosa. Na ausência da possibilidade de gozo entre os corpos, o amor vê erguer-se diante de si uma barreira dificilmente transponível, e é isso que o caso de Cæcilie com Niels escancara. Na absurdidade que às vezes reina na existência humana, em que tantos casais acabam destruídos por uma fatalidade súbita. que não parece derivar de nenhuma culpa prévia mas da simples falta de sorte, o amor real, bem diferente de certas ilusões adocicadas veiculadas por Hollywood ou por canções pop, é às vezes a necessidade pulsante dos corpos de unirem-se num caldeirão de comunhão.
O amor autêntico, afinal, não é apenas um vínculo inter-subjetivo, uma relação entre mentes, uma relação intelectualista entre criaturas gostam da idéia que tem um do outro, mas inclui de maneira necessária a dimensão inter-corporal, libidinal, voluptuosa. Na ausência da possibilidade de gozo entre os corpos, o amor vê erguer-se diante de si uma barreira dificilmente transponível, e é isso que o caso de Cæcilie com Niels escancara. Na absurdidade que às vezes reina na existência humana, em que tantos casais acabam destruídos por uma fatalidade súbita. que não parece derivar de nenhuma culpa prévia mas da simples falta de sorte, o amor real, bem diferente de certas ilusões adocicadas veiculadas por Hollywood ou por canções pop, é às vezes a necessidade pulsante dos corpos de unirem-se num caldeirão de comunhão.







