A música, quando entra em sintonia fina com o tempo histórico e consegue expressar o zeitgeist, atinge aquele estado raro em que ultrapassa os modismos e consumismos, transcendendo a condição que tentam lhe impor, a de mercadoria consumível e rapidamente descartável, para transformar-se em obra-de-arte de interesse perene, inclusive para futuras gerações que queiram entrar em contato com uma obra que seja um sign of the times.
Obviamente, nada impede que uma obra musical seja simultaneamente um marco histórico e uma mercadoria altamente lucrativa (é só pensar no fascinante paradoxo da Beatlemania ou nos rios de dinheiro gerados pela cataclísmica eclosão do Nevermind do Nirvana). São raros, mas existem os “queridinhos dos críticos” que são simultaneamente um estouro nas paradas. Na corda-bamba entre a margem da indústria cultural e a margem da aventura artística, as melhores bandas do mainstream mass-mediático são aquelas que, a exemplo do Pearl Jam, não se rendem a serem meros serviçais do sistema a serem achincalhados como sell-outs, prosseguindo sempre com este alvo no horizonte: criar uma arte que esteja à altura de expressar nossa existência coletiva no tempo atual.

Quando a arte tem esta umbilical ligação com a atualidade e esta capacidade de captar o aqui-e-agora, ela é menos evanescente do que o seu banal hit toppin’ the charts (o sucesso que dura pelo verão e depois é semi-esquecido para venham os próximos na fila da fama…). “O dever do artista” é ser um espelho onde se reflete o tempo em que o artista vive, como propunha Nina Simone. Mas a arte serve também, como queria Brecht (citando Maiakóvski), não apenas como um espelho que reflete o mundo (deixando-o subsistir tal qual é) mas muito mais como um “martelo para forjá-lo”. Como um escultor que trabalha a pedra bruta para dê-la extrair O Pensador ou o Laoconte, o artista martela sua matéria-prima, dando forma a algo novo ao invés de ser apenas espelho ou prisma.
Na música, às vezes o artista martela canções nos tímpanos dos ouvintes até que elas entrem para um tesouro cultural comum que a coletividade enxerga como seu repositório de clássicos, ou seja, aquilo que merece ser salvo do naufrágio do tempo. Na da sucessão de gerações, os clássicos são aquilo que consideramos digno de ser transmitido pelos contemporâneos aos vindouros. O exemplo mais emblemático que consigo pensar é deste ethos Brechtiano alçando-se à condição de clássico, na história do rock, é o The Clash.
Uma banda tão espetacularmente bem-sucedida em sua capacidade de entrar sintonia com o tempo histórico, tão supimpa em sua expressão entusiasmada de um ímpeto ativista e transformador, que fazia com que todas as outras parecessem desimportantes. O The Clash, para nós seus fãs, é descrito com a hipérbole: A Única Banda Que Importa. Pois Joe Strummer, Mick Jones e cia não faziam apenas a expressão da época do mundo, além disso explodiam nos amplificadores a fúria criativa de quem quer modificar o que há pois descobriu que a realidade social é co-criável por nós. É um pouco deste ethos, crucial por suas ressonâncias posteriores em bandas cruciais como o Fugazi ou o Rancid, que fez de London Calling uma das maiores obras-primas da história da arte (e fodam-se quem, por preconceito acadêmico ou elitismo estético, pré-julga o movimento punk como se fosse incapaz de alçar-se às nuvens elevadas das Belas Artes…).

É que a arte, criando a si mesma, recria o mundo, refaz os outros, no que poderíamos chamar, sob a inspiração de Gênio Gil, de uma refazenda de tudo – a começar pelas nossas percepções de nós mesmos e do próprio mundo. Isto é, a arte é uma criação do engenho criativo humano que entra na História como uma novidade, expressando o que antes não tinha sido expressado, expandindo a paleta de cores, de dramas, de sinfonias etc. do mundo-em-fluxo onde estamos embarcados.

Tendo atravessado toda a Era Grunge, do começo dos anos 1990 até a aurora dos 2020, resilientes como ninguém daquele movimento, o Pearl Jam é hoje uma destas instituições que já virou clássica. O quinteto formado por Eddie Vedder, Jeff Ament, Mike McCready, Stone Gossard e Matt Cameron, nascido em 1990 das trágicas ruínas do Mother Love Bone (banda de Seattle que foi a pique com a overdose fatal que acometeu seu líder Andy Wood, o que deu ensejo para a criação do Temple of the Dog), adentra a década de 2020 com muita vitalidade.
Após o colapso do Nirvana, do Soundgarden, do Stone Temple Pilots, do Hole, dos Screaming Trees, além da reinvenção com novo vocalista do Alice in Chains, alguns se apressaram a decretar a morte do grunge após tantas bandas já terem encerrado suas atividades (muitas vezes de maneira trágica, devido a suicídios e overdoses fatais). Mas o Pearl Jam sobreviveu a tudo, mantendo pulsante o Som de Seattle – e está vivinho para cravar em 2020 um dos álbuns mais significativos desta entrada de década.

Em meio à pandemia de covid-2019, no primeiro semestre de 2020, foi lançado “Gigaton”, novo álbum das lendas vivas do Grunge: Pearl Jam ressurge após um hiato de 7 anos desde “Lightning Bolt” (disco de 2013). A banda de Seattle entrega ao mundo seu 11º álbum de estúdio, com 12 canções inéditas, sem perder o pique mesmo após 3 décadas de carreira (os 20 primeiros deles já celebrados em livro e documentário através do magistral projeto PJ20 de Cameron Crowe).

Os caras do Pearl Jam – liderados por um incansável Eddie Vedder, um dos grandes poetas líricos e um dos mais expressivos cantores de nossa geração – encaram o desafio gigatônico de expressar musicalmente os dilemas mais urgentes de nossa época:
“O clima é uma preocupação estimulante [galvanizing] em ‘Gigaton’, com o Pearl Jam estruturando seu décimo álbum em torno da crise climática iminente. Há pouca sutileza a esse respeito: o título se refere à quantidade de gelo perdido nos pólos árticos, a capa do álbum mostra uma geleira derretida, e as letras estão sujas com imagens apocalípticas, ainda que nem todas derivadas do clima.” Stephen Thomas Erlewine, AMG All Music Guide (https://bit.ly/3dDV92m)
Aderindo ao catastrofismo esclarecido, o Pearl Jam evoca a ciência climática atual que mede em gigatons a quantidade de gelo derretido na Antártida ou na Groenlândia em nossa era de Efeito Estufa – segundo um Tweet da banda, 1 gigaton equivale ao peso de 100 milhões de elefantes ou 6 milhões de baleias azuis.
Em uma das obras-primas do álbum, “Retrograde”, a banda utiliza um vídeo-clipe sensacional para evocar grandes metrópoles sendo afundadas debaixo de dilúvios causados pelas mudanças climáticas. Menciona figuras contemporâneas que estão na vanguarda da luta ecológica, como Greta Thunberg e o movimento grevista #FridaysForFuture. Conclama ainda que “será preciso muito mais que amor ordinário” para nos erguer para cima diante deste contexto que ameaça nos submergir (o que lembra do ethos de Neil Young em canções como “Lotta Love”).
Outra das obras-primas do “Gigaton” (2020), novo álbum do Pearl Jam, “Quick Scape” (Fuga Rápida) revela Vedder, um dos melhores letristas vivos, aderindo ao eu lírico de um nômade das catástrofes sócio-ambientais. “Cruzei a fronteira para o Marrocos”, canta a certo ponto. “Quantas distâncias tive que cruzar / Até encontrar um lugar que o Trump ainda não tinha fodido!”.
A vida dura do refugiado, condenado a “levantar pedras por um salário”, evoca a trágica punição imposta por Zeus a Sísifo, na mitologia grega. O que não impede que o eu-lírico seja também o veículo daquela Sabedoria que Vedder expressou na trilha-sonora que compôs para Into The Wild – Na Natureza Selvagem: “Atento a todo pôr-do-sol / Nenhuma noite estrelada desperdiçada…”. Siga a letra na íntegra e aprecie o videoclipe das lendas vivas do grunge:
Reconnaissance on the corner
In the old world not so far
First we took an aeroplane
Then a boat to Zanzibar
Queen cracking on the blaster
And Mercury did rise
Came along where we all belonged
You were yours and I was mineeah, yeah
Had to quick escape
Had to quick escape
Had to quick escape
Had
Crossed the border to Morocco
Kashmir then Marrakech
The lengths we had to go to then
To find a place Trump hadn’t f*cked up yet
Living life on the back porch
Lifting rocks to make a wage
Every sunset paid attention to
Not a starry night went to waste
Had to quick escape
Had to quick escape
Had to quick escape
And here we are, the red planet
Craters across the skyline
A sleep sack in a bivouac
And a Kerouac sense of time
And we think about the old days
Of green grass, sky and red wine
Should’ve known so fragile
And avoided this one-way flight
Had to quick escape…
O Pearl Jam tornou-se uma das bandas atuais que melhor conseguiu, em suas mutações, seguir sintônica com o que rolava de mais urgente no globo. Rebeldes e dissidentes, as canções de Vedder e cia explodem nos amplificadores com a ousadia de tematizar os descaminhos da evolução humana (“Do The Evolution”), as tendências suicidas da civilização capitalista-ocidental (“World Wide Suicide”), a angústia juvenil e as engrenagens de um massacre escolar (“Jeremy”), dentre outros temas cabeludíssimos.
Em 2020, o Pearl Jam segue honrando a sonoridade e a atitude das bandas do passado que mais inspiram a caminhada do mamute grunge: penso no The Who, em Neil Young e Crazy Horse, em Bruce Springsteen, mas também nos Ramones. O processo de amadurecimento de Vedder, que parecia conduzi-lo a se tornar um ícone folk, o Dylan ou Young de sua geração, como mostra sua criação solo mais genial, Into the Wild, e como sugere também sua faceta mais suave e tranquila que se expressa no projeto Ukulele Songs, não foi uma maturação que o tenha feito esquecer suas raízes punk e grunge.

Canções como “Quick Scape”, “Superblood Wolfmoon” ou “Never Destination” revelam um Vedder que nunca cessou de amar os Ramones. Além de uma instituição da história do movimento punk, acredito que os Ramones tem uma significação mais ampla, para o rock’n’roll como um todo, entendido não como estilo musical mas também como subcultura. Em outros termos, tão importantes quanto Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis ou Bo Didley para história do rock’n’roll, os Ramones são uma espécie de condensação daquilo que o punk propôs: o back to basics, o foco na energia rítmica, na entrega emocional, na eletricidade exuberante, na ausência de firulas para que pudesse melhor brilhar o essencial.

Joey Ramone, enquanto vivia, serviu como uma espécie de mentor para o cantor e compositor do Pearl Jam de muitas maneiras, sobretudo conduzindo o Pearl Jam e seu líder a estarem sempre engajados com os “elementos fundamentais do rock’n’roll”, como o próprio Vedder relata no livro Pearl Jam 20 (p. 314): “Munição extra [para Vedder] veio do falecido Johnny Ramone, que não apenas inspirou a letra de “Life Wasted”, mas desafiou Vedder a estudar os elementos fundamentais do rock’n’roll” – e sabe-se do impacto emocional que a vida e a morte de Joey tiveram sobre Vedder:
– Há essa energia fúnebre, quando você literalmente se senta ali com a morte de seu amigo e percebe como a vida é preciosa – diz Vedder sobre a morte de Joey Ramone. Funerais e casamentos são bons para isso. Você tem essa sensação renovada de viver a vida ao máximo quando você vê como ela evapora rápido. Você não dá o devido valor… ‘Life Wasted’ veio disso: ‘Já passei por isso, uma vida desperdiçada, nunca voltarei’. Viva a vida ao máximo. Eu não ia deixar essa perda profunda passar sem reconhecimento.”
O reconhecimento que Vedder quis expressar por seu ídolo e amigo passou inclusive por cantar com os Ramones no show de despedida em 1996 (lançado no álbum We’re Outta Here) e pelo papel que ele teve como anfitrião da consagração Ramônica no Rock’n’roll Hall of Fame em 2002. Um bootleg interessante revela Vedder cantando Ramones:

É bem verdade que o Pearl Jam transcendeu aquela simplicidade dos Ramones que alguns confundem com tosquice, mas que não é senão a arte do foco energético concentrado que torna tão pulsante a maquinaria sônica rock’n’roller ramônica. O Pearl Jam se complexificou, explorou muitas sonoridades e afetos, tornou-se capaz de soar às vezes como o Jethro Tull ou o Pink Floyd, bandas nas antípodas dos Ramones. Mas algo de ramônico sempre permaneceu lá, no âmago do Pearl Jam, e ouso afirmar que está aí um dos segredos para a vitalidade do grupo.
É verdade que, como Gigaton mostra, a concepção de álbum que move o Pearl Jam difere bastante daquela que norteava bandas como os Ramones, o AC/DC, o Motörhead ou o Nirvana – para estas bandas, com o perdão de uma generalização que corre o risco de uma certa injustiça, um bom álbum retira sua coerência do fato de que as canções soam parecidas umas com as outras, seguem-se numa acachapante fileira de riffs matadores e refrões-chiclete, gerando um daqueles objetos que os fãs adoram pois está inteiramente repleto de thrills (e nenhum filler).

O Pearl Jam, em contraste, pensa um álbum como um “épico” onde a diferenciação é valor: o disco deve ter muitos contrastes, mesclando as pedradas pesadas mas também as baladonas mais atmosféricas. Deve ter aquele frio na barriga e aquela taquicardia de uma viagem de montanha-russa, mas pode e deve conter também um momento mais contemplativo, como flutuar num lago sobre um caiaque sob a luz de uma lua cheia enquanto lobos uivam para a lua. Grandes álbuns do Pearl Jam, como Vs, Yield, Binaural, Riot Act, tem esta abordam do álbum multi-colorido e excêntrico, que viaja de momentos punky e explosivos em direção a experimentalismos menos palatáveis, para depois voltar à quebradeira catártica.
O Pearl Jam chegou em 2020 com uma single que mostra a banda querendo brincar com sonoridades meio funky, em “Dance of the Clairvoyants”, que parece uma homenagem a David Byrne e os Talking Heads, mas que também dialoga com as obras-primas do Gang of Four nos anos 1970 e 1980 (Entertainment, Solid Gold…).
Esta ousada sonoridade, com sabor de excentricidade, que o primeiro single de “Gigaton” traz, mostra não só que o Pearl Jam curte e idolatra os caras que fizeram obras-primas como Fear of Music e Remain in Light: é verdade que os Talking Heads re-vivem através do prisma grungy-funky de “Dance of the Clairvoyants”, mas isso se dá sem que o Pearl Jam perca o bonde do contemporâneo. A música dialoga perfeitamente com a obra de algumas das melhores bandas atuais, como o s maravilhosos Dirty Projectors e TV On The Radio.
Já em “Seven O’Clock”, uma power-baladona que honra como heróis os xamãs nativo-ameríndios Sitting Bull e Crazy Horse, o Mr. Trump toma na testa um petardo: é xingado de “Sitting Bullshit”, “our sitting president”. A música é um tratado sobre as ações tresloucadas de húbris dos seres humanos diante da natureza, exemplificada pela atitude de alguém que agarra uma borboleta, quebra suas asas e a põe numa vitrine, desprovida de toda a sua beleza desde o momento em não pôde mais voar livre:
“Caught the butterfly, broke its wings then put it on display
Stripped of all its beauty once it could not fly high away
Oh, still alive like a passerby overdosed on gamma rays
Another god’s creation destined to be thrown away
Sitting Bull and Crazy Horse, they forged the north and west
Then you got Sitting Bullshit as our sitting president
Oh, talking to his mirror, what’s he say, what’s it say back?
A tragedy of errors, who’ll be the last to have a laugh?”
É 2020 e talvez não haja em atividade nos EUA nenhuma banda tão capaz quanto o Pearl Jam de denunciar a “tragédia de erros” que domina um virulento zeitgeist, ao mesmo tempo que prova, por sua própria resiliência, a possibilidade de uma trajetória de acertos. O ethos pearljâmmico, aquilo que segue animando esta lenda viva do rock global, tem ainda muita relevância em nosso mundo, mostrando que as duas visões sobre as funções da arte que mencionamos a pouco – a de Nina Simone, a de Brecht / Maiakóvski – não são mutuamente excludentes mas sim conjugáveis. O artista tem sim o dever de refletir em sua obra o tempo histórico, mas sua obra é também um martelo com o qual forjar o novo. O élan vital que atravessa a obra do Pearl Jam, banda incansável e que não quer ir dormir na auto-satisfação, é um salutar contágio nestes tempos em que viralizam desgraças.
Eduardo Carli de Moraes
Abril de 2020
http://www.acasadevidro.com
OUÇA TAMBÉM, DE “GIGATON”:
DISCOGRAFIA DO PEARL JAM:
01. Ten (1991)
02. Vs. (1993)
03. Vitalogy (1994)
04. No Code (1996)
05. Yield (1998)
06. Binaural (2000)
07. Riot Act (2002)
08. Pearl Jam (2006)
09. Backspacer (2009)
10. Lightning Bolt (2013)
11. Gigaton (2020)
ACESSE TAMBÉM / COMPARTILHE:



























 Ela não buscou esta catarse através da expressão por vontade de se conformar aos padrões e paradigmas da sociedade careta, mas ao contrário foi “playing the pain away” em sessões de performance-de-rua [streetperforming] que ela foi burilando seu estilo e aprendendo a comandar a impressionante aparelhagem que ela opera. Multi-instrumentista capaz de tocar mais de 10 instrumentos diferentes, ela é prova da vivacidade extasiante da capacidade de aprender humana manifestando-se na flor da juventude. Skateira, pouco conformada aos padrões de gênero que propõe à mulher que seja dócil e comportada, sempre de trejeitos “femininos” (ou seja, delicados…), ela traz na pele tatuada os signos de uma ânsia por sentido, diante da morte, construída com arte.
Ela não buscou esta catarse através da expressão por vontade de se conformar aos padrões e paradigmas da sociedade careta, mas ao contrário foi “playing the pain away” em sessões de performance-de-rua [streetperforming] que ela foi burilando seu estilo e aprendendo a comandar a impressionante aparelhagem que ela opera. Multi-instrumentista capaz de tocar mais de 10 instrumentos diferentes, ela é prova da vivacidade extasiante da capacidade de aprender humana manifestando-se na flor da juventude. Skateira, pouco conformada aos padrões de gênero que propõe à mulher que seja dócil e comportada, sempre de trejeitos “femininos” (ou seja, delicados…), ela traz na pele tatuada os signos de uma ânsia por sentido, diante da morte, construída com arte.









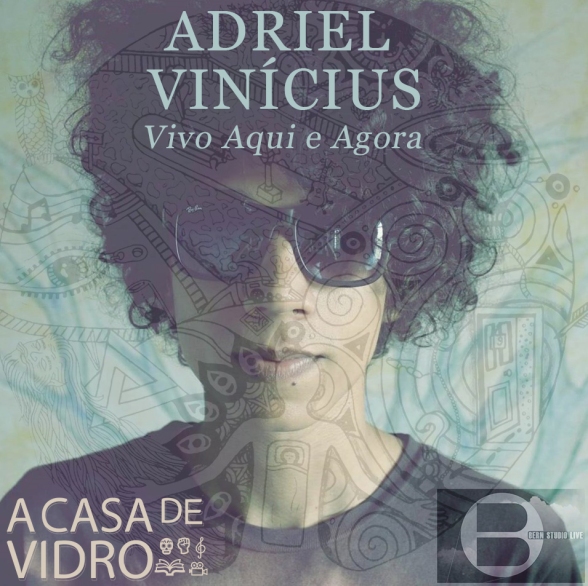





































 A JAY A JHOTA
A JAY A JHOTA DJ BRUNO CAVEIRA
DJ BRUNO CAVEIRA
